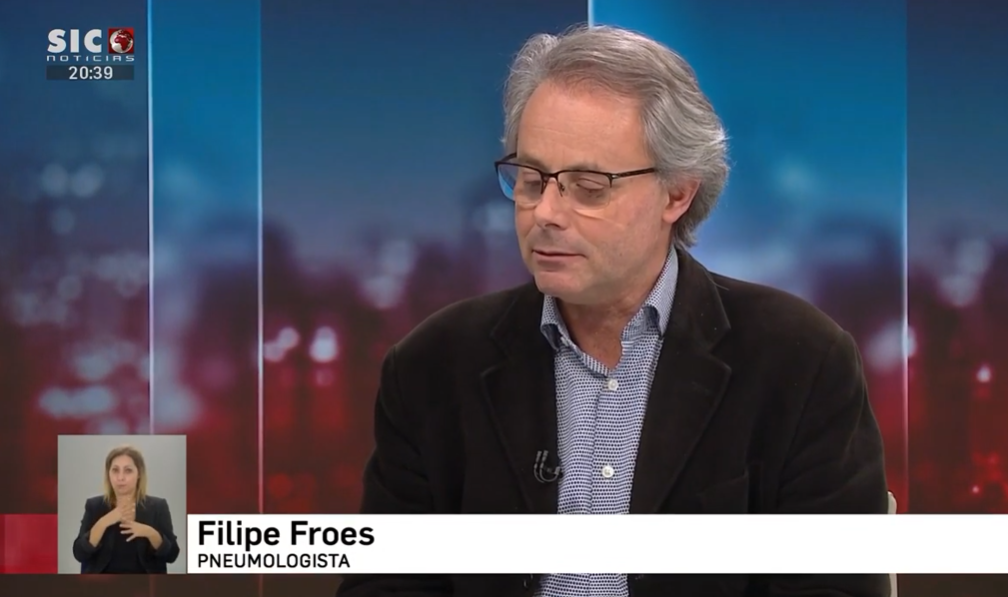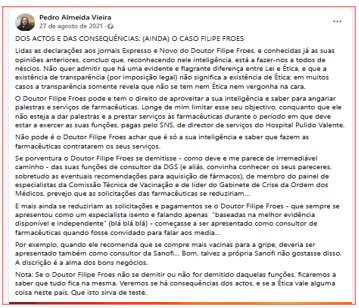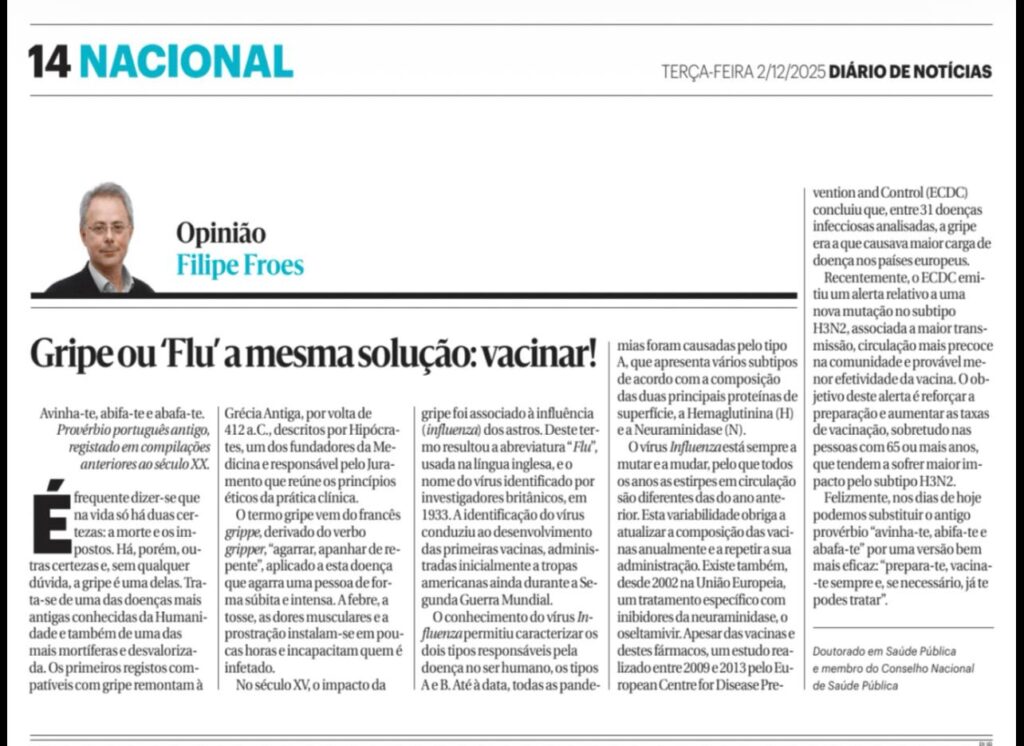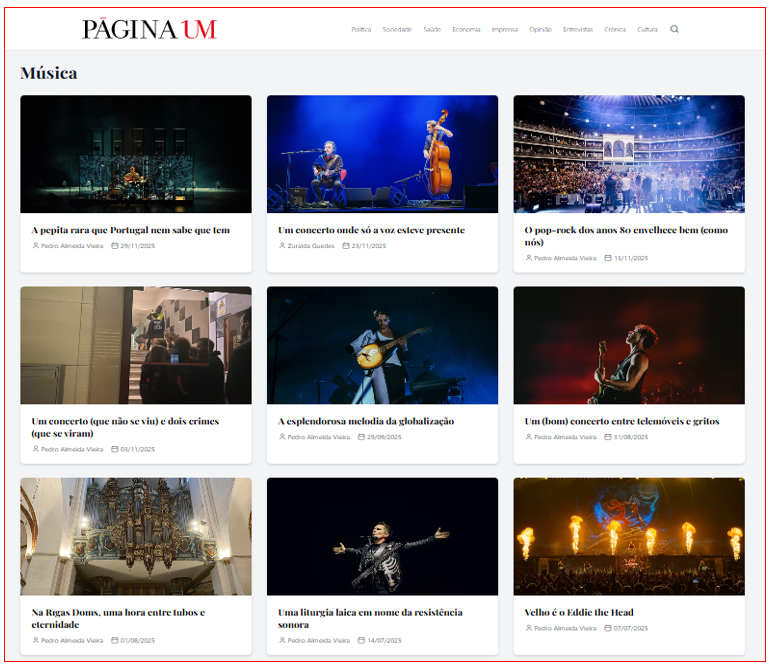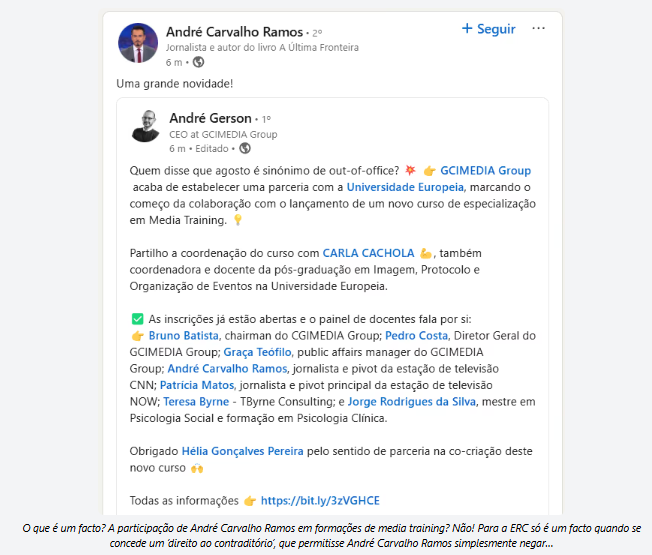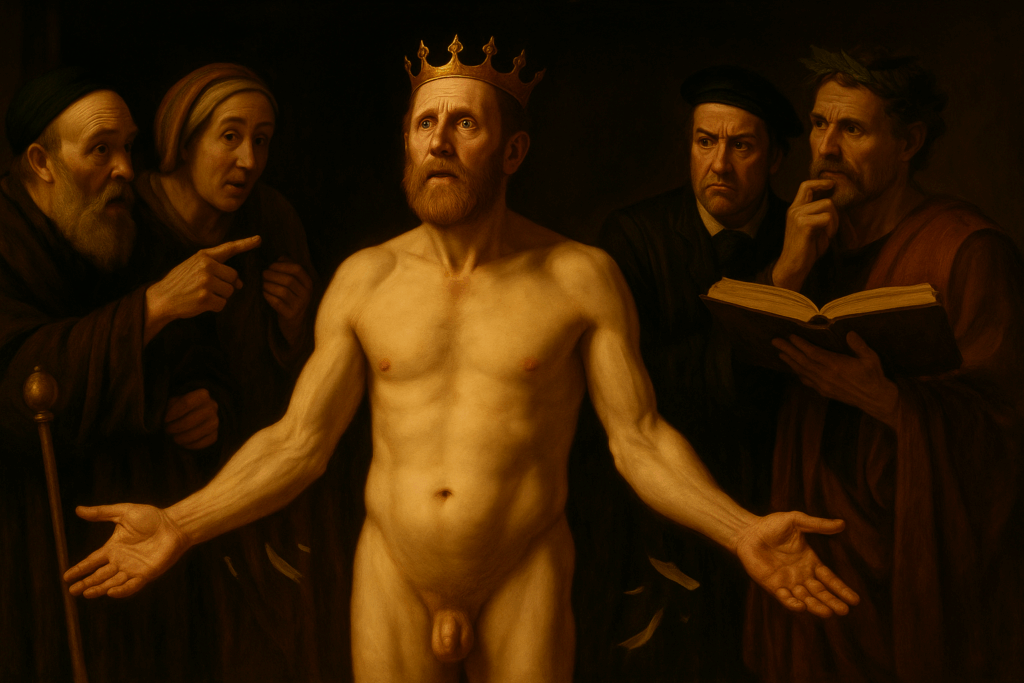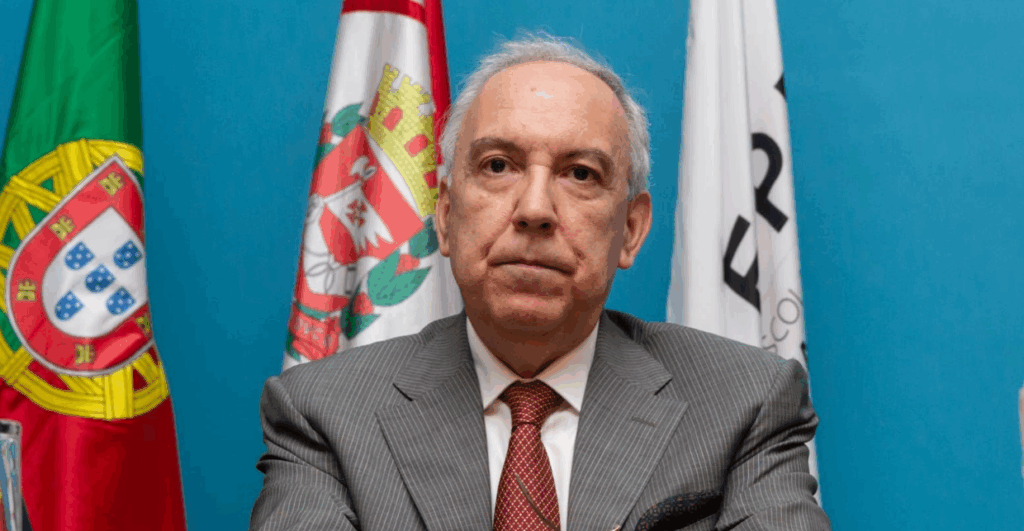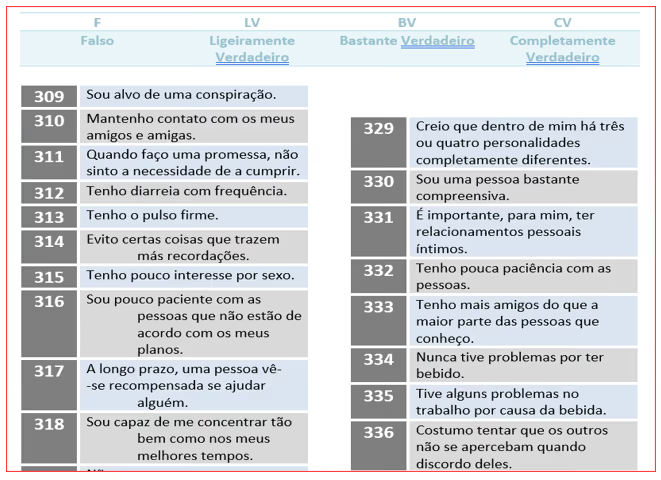Há vidas cuja grandeza assusta os medíocres, e poucas, como a de Clara Pinto Correia, foram tão meticulosamente desfiguradas pela inveja baixa que fermenta nos recantos mais mochos do nosso país. Hoje, que nos deixou, continuo a ver nos obituários a frieza moralista de quem encontra até na morte um álibi para continuar a humilhar — confirmando esse traço triste do nosso carácter colectivo: a incapacidade de reconhecer a complexidade humana sem reduzir tudo ao momento mais frágil de alguém.
De facto, é quase obsceno ver como certas penas, tão ágeis em autoproclamar-se guardiãs do rigor, aproveitaram, ainda na morte da Clara, a calculada elegância cínica para voltar a espetar-lhe a mesma farpa, como se temessem que o brilho dela ressurgisse até depois do seu passamento.
Essa persistência em revisitar, com um zelo quase necrológico, o episódio de um plágio ocasional entre milhares de textos revela mais miséria em quem escreve do que em quem é visado. A Clara foi tratada, durante anos, como uma ré perpétua, condenada ao degredo simbólico por um erro que, em qualquer país com maturidade cultural, teria sido absorvido pelo contexto, pela obra e pela vida.

Mas Portugal não perdoa facilmente quem um dia ousou ser demasiada em demasiadas coisas: demasiado inteligente, demasiado bonita, demasiado brilhante, demasiado livre. É o preço que se cobra a quem um dia teve asas. E há décadas que o país se especializou em cortar asas a quem voa acima da mediocridade.
Quando a Clara chegou ao PÁGINA UM, no Verão de 2022, quase por razões terapêuticas — um escritor definha se não escreve —, trazia ainda essas cicatrizes abertas há mais de duas décadas. Mas trazia também a fome de escrever — uma fome que nunca perdeu, nem nos dias de maior sombra. Recebemo-la com entusiasmo, como se se resgatasse uma autora injustamente atirada para as margens. E depressa percebi que, por trás do mito da ‘diva’, havia uma mulher frágil e de uma simplicidade desarmante, que me tratava por “Boss” com um humor trocista que dissolvia qualquer formalidade. Nas teleconferências, chegava a brincar com a distância dos meus dentes da frente — e era exactamente nessa irreverência afectuosa que se revelava o que ela era: uma mulher cuja ternura sobrevivia à dureza do seu mundo em pantanas.
Houve, sim, períodos difíceis. Instabilidade, hesitação, noites que seriam pesadas, mil e um desnortes em que nem sei se eram reais ou fantasiados. Mas até nas suas fragilidades havia uma espécie de grandeza. A Clara era obsessiva no melhor sentido: escrevia, reescrevia, refazia, enviava mais duas ou três versões porque nenhuma lhe parecia suficientemente lapidada. Buscava uma perfeição que sabia inatingível — e, no entanto, persistia, com uma disciplina involuntária que só quem já conheceu o desamparo entenderá.

Entre todos os gestos que recebi dela, há um que guardo com um cuidado quase religioso: a crónica que escreveu sobre a morte do meu pai em Setembro de 2022. Tínhamo-nos conhecido pessoalmente há poucas semanas, nada nos ligava ainda além da promessa de colaboração. No entanto, quando soube da minha perda, a Clara não hesitou um instante: enviou-me um texto de uma delicadeza tão funda que, ainda hoje, me comove ao recordá-lo.
Foi uma crónica feita não para cumprir um dever profissional, mas para segurar um desconhecido pela mão no exacto ponto onde a vida se quebra. Foi ali, naquele impulso espontâneo de generosidade, que percebi quem era verdadeiramente a Clara: alguém que, mesmo caída, mesmo magoada, mesmo ferida por julgamentos alheios, ainda encontrava dentro de si um núcleo intacto de bondade. E é a esse momento — mais do que a qualquer polémica, mais do que a qualquer rumor — que volto sempre quando penso nela.
Ao longo destes três anos no PÁGINA UM, a Clara deixou-nos 97 textos, incluindo crónicas e até um delirante folhetim-novela. Noventa e sete mundos. Noventa e sete formas de continuar a existir nas letras quando a vida tantas vezes já lhe pesava, mesmo se na companhia do seu Sebastião. O último publicámo-lo hoje, antecipando-o do fim-de-semana, num gesto que não sei se é homenagem ou se é apenas a tentativa ingénua de adiar a ausência.

Ao longo destes anos, nunca soube delimitar com precisão onde terminava a sua memória e começava a ficção. Mas isso pouco importa: o grande escritor é, como escreveu Pessoa, um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir a dor que deveras sente. A Clara sabia isso melhor do que ninguém. A sua escrita não era autobiografia pura — era a reinvenção literária de si mesma, num país que nunca lhe perdoou ter ousado ser mais do que se espera de uma mulher inteligente.
A única crónica que me aterrorizou, pela possível verdade nela contida, foi a do ‘Me Too‘. A primeira versão chegou-me em Agosto, excruciante, quase insuportável. Durante meses pedi-lhe que ponderasse: não porque duvidasse da sua coragem, mas porque temia pela ferida que pudesse reabrir — nela e nos leitores. Um dia, porém, enviou um e-mail, dirigido a mim e a um amigo em comum, que nunca esquecerei: “Peço-vos o que nunca pedi: leiam com atenção e falem comigo. Encaro isto como um dever cívico, mas não me sinto segura. Coragem.” Naquele apelo estava toda a Clara: a vulnerabilidade íntima e a valentia pública. Acreditava — e bem — que há silêncios que são complacências.
Publicámos o texto no final do mês passado, depois de ela ter refinado, por várias vezes, as sucessivas versões. E nada aconteceu. Talvez ela esperasse que acontecesse — ou talvez soubesse, com aquela ironia fina que a vida lhe depurou, que Portugal raramente está preparado para verdades desconfortáveis, sobretudo quando vêm de uma mulher que ousa dizer “eu”.

Hoje, multiplicam-se os curiosos tardios, os abutres que farejam mais escândalo do que luto. A eles não devemos nada. À Clara devemos tudo: a inteligência que nunca perdeu, a generosidade que ofereceu mesmo quando lhe doía oferecer, a coragem de quem, mesmo esmagada, insistiu em escrever como quem luta contra a extinção.
Nos três anos em que a acompanhei, e que ela nos acompanhou no PÁGINA UM, lamento apenas uma coisa: não ter tido mais tempo para insistir para que escrevesse sempre mais. O jornal devora-nos. A vida também. Mas a escrita dela — aquela escrita feita de luz e cicatriz — merecia outro fôlego, outro país, outro espelho onde pudesse reencontrar-se sem ser julgada, mas antes apenas idolatrada.
Adeus, rainha.