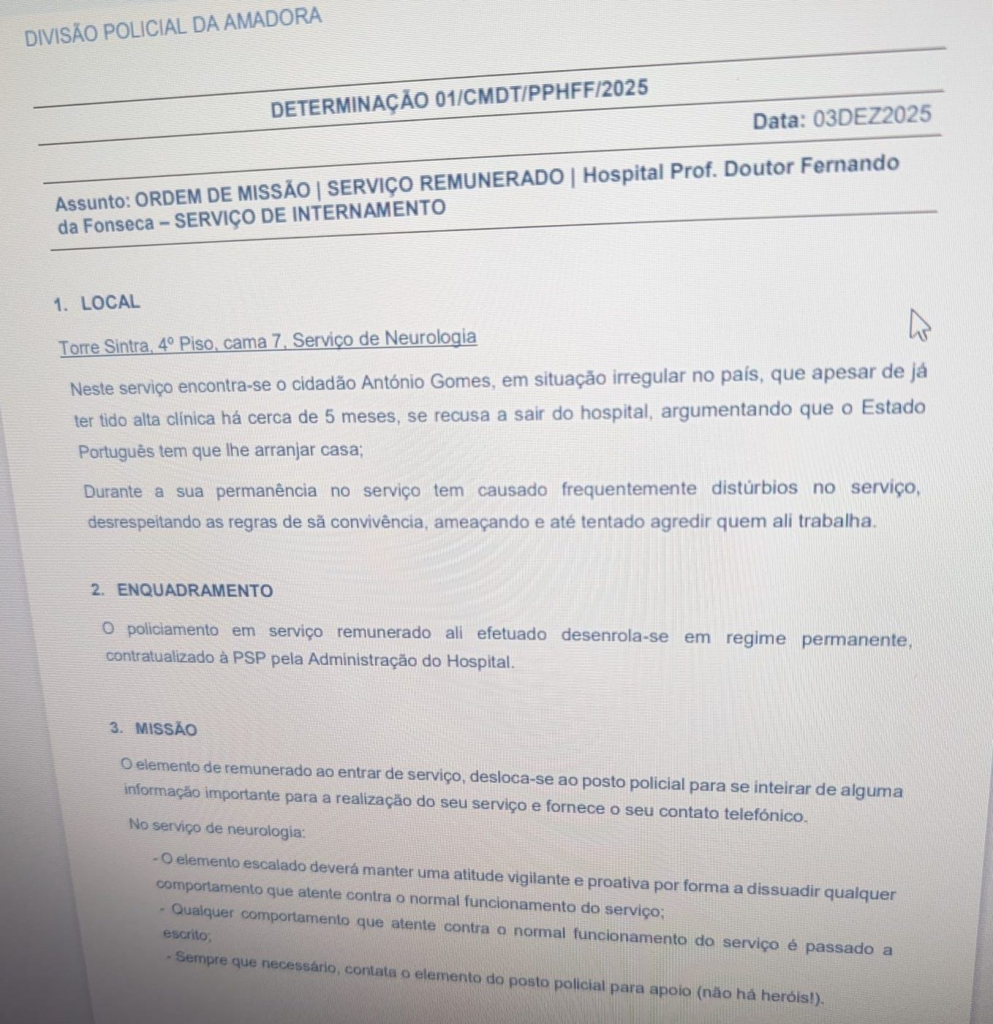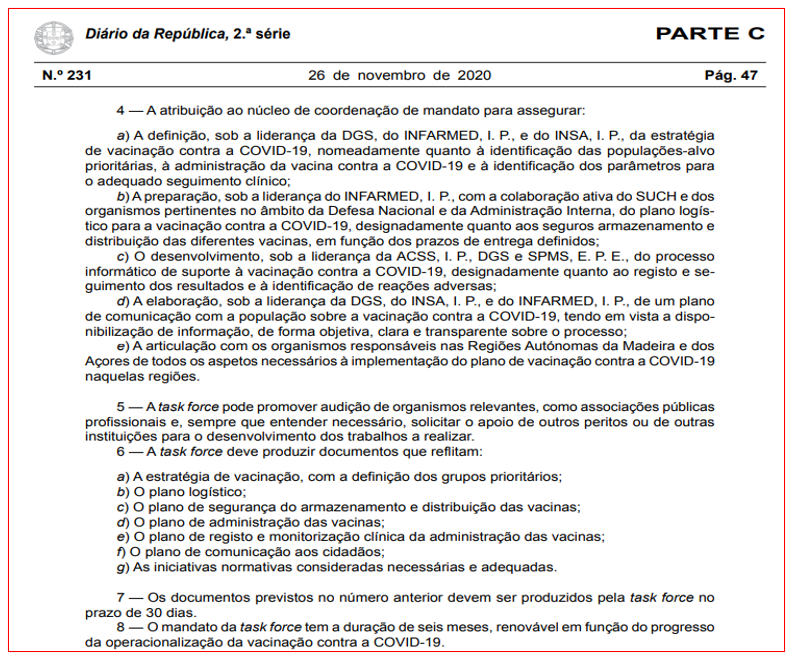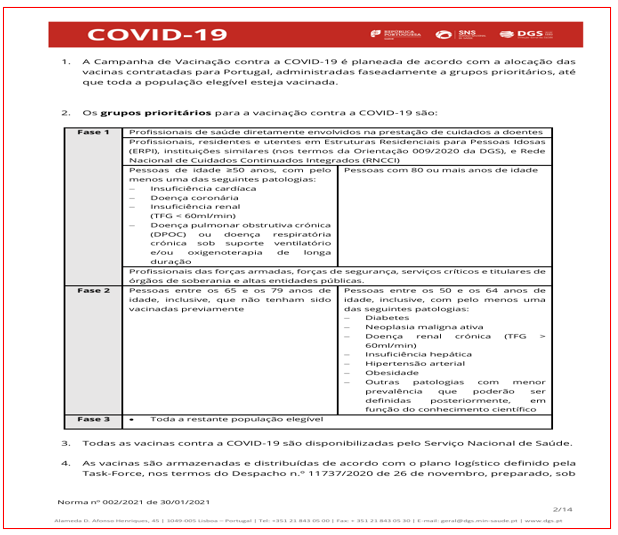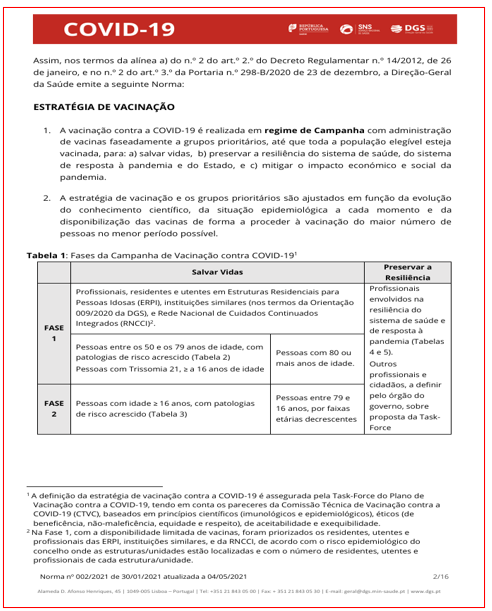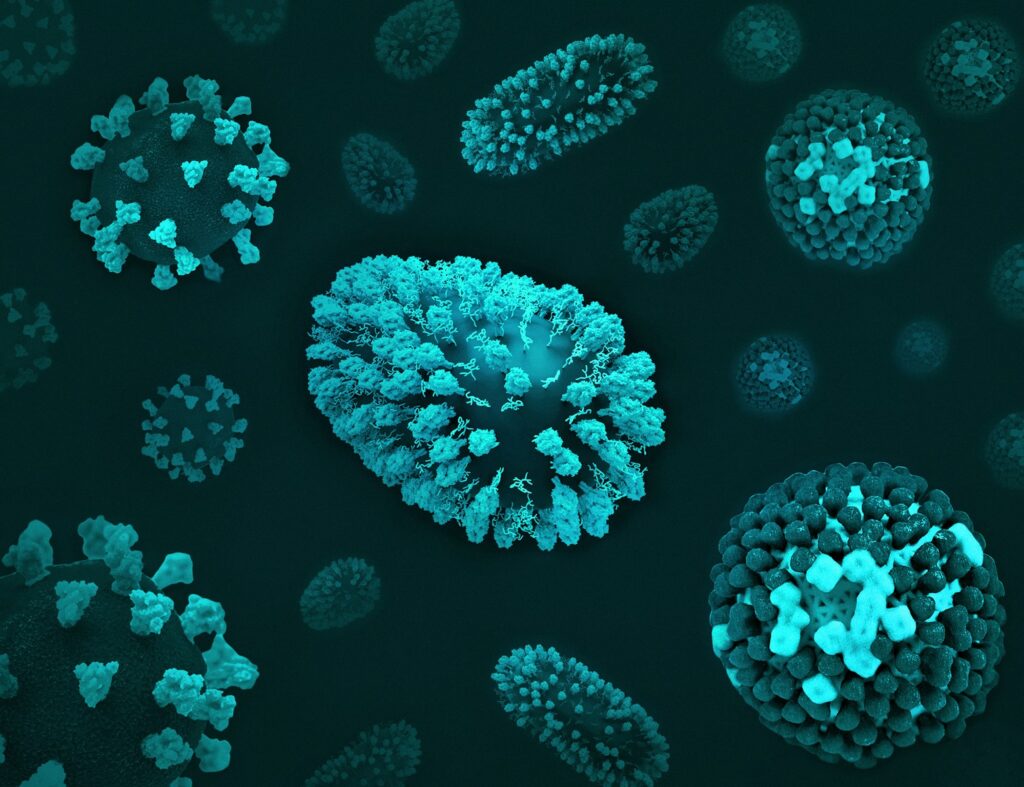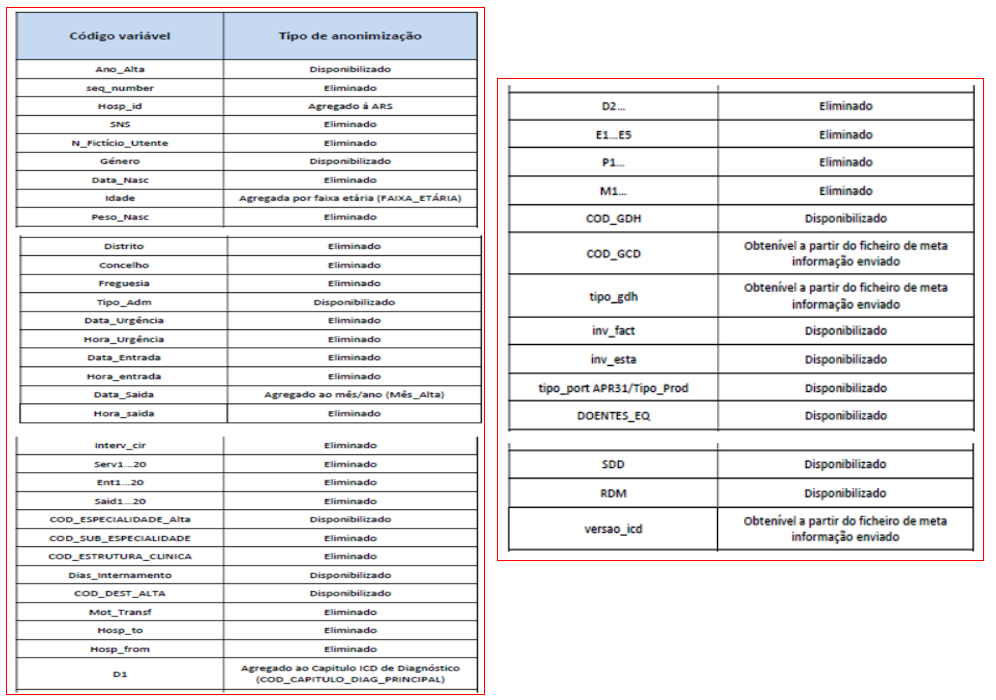Quando parecia que o ciclo financeiro da pandemia da covid-19 estava definitivamente encerrado, com as grandes farmacêuticas a digerirem a ressaca de lucros extraordinários, entretanto dissipados, eis que surge uma nova frente de conflito nos tribunais norte-americanos: a das patentes associadas à tecnologia mRNA. No centro da ofensiva está a Bayer que, através das suas subsidiárias Bayer CropScience e Monsanto, avançou ontem com processos judiciais contra a Pfizer, a BioNTech, a Moderna, conforme adiantou a Reuters, e, em acção autónoma, contra a Johnson & Johnson.
Ao contrário das farmacêuticas directamente envolvidas no desenvolvimento e comercialização de vacinas contra a covid-19, a Bayer foi um dos raros grandes conglomerados do sector que não beneficiou financeiramente dos lucros excepcionais da pandemia da covid-19. Não produziu vacinas, não participou nos contratos de fornecimento massivo celebrados com Estados e instituições supranacionais, nem colheu dividendos da corrida global à imunização.

Mas é precisamente nesse contexto que a empresa alemã reclama agora compensações financeiras pela alegada utilização indevida de tecnologia patenteada, desenvolvida décadas antes do SARs-CoV-2 dominar a agenda global.
Para compreender o alcance real desta ofensiva judicial — e evitar leituras simplistas que confundam investigação médica com agrobiotecnologia — importa recuar várias décadas e perceber de onde provém, exactamente, a tecnologia que a Bayer agora diz ter sido apropriada indevidamente pelos concorrrentes.
A patente invocada pela Bayer teve origem inequívoca na investigação agrobiotecnológica desenvolvida nos anos 1980 pela Monsanto – uma das primeiras empresas a introduzir os organismos geneticamente modificados (OGM) na pecuária e na alimentação humana –, num contexto completamente alheio à Medicina humana. O objectivo era resolver um problema estrutural da engenharia genética vegetal: genes de origem bacteriana ou viral, quando inseridos em plantas, produziam níveis muito baixos de proteína devido à instabilidade do mRNA, causada por sequências ricas em adenina e timina que conduziam à sua degradação prematura.

A solução encontrada passou pela substituição dessas sequências por codões sinónimos, mantendo a proteína final inalterada, mas aumentando drasticamente a estabilidade do mRNA e a expressão proteica, permitindo o desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas mais resistentes a pragas e vírus.
Do ponto de vista biológico fundamental, esta abordagem não é específica da agricultura. Os mecanismos de transcrição e tradução genética são comuns a todos os organismos, incluindo plantas e animais, incluindo humanos. Assim, uma técnica eficaz para estabilizar mRNA em células vegetais é, em princípio, tecnicamente aplicável a células humanas sempre que o problema subjacente seja idêntico — como sucede nas vacinas mRNA, onde a estabilidade do material genético sintético é condição essencial para que exista produção suficiente da proteína alvo e, consequentemente, resposta imunitária. E foi precisamente essa transposição de um método originalmente agrícola para o domínio farmacêutico que a Bayer alega ter ocorrido sem licenciamento.
Importa, contudo, distinguir claramente os planos científico e jurídico, porque estará aí o cerne da questão judicial. A Monsanto não desenvolveu vacinas, não participou em investigação clínica nem esteve envolvida na resposta sanitária à pandemia. Aquilo que está em causa não é a autoria das vacinas mRNA, mas a eventual reutilização de uma tecnologia de base, desenvolvida décadas antes para fins agroquímicos, num contexto industrial radicalmente distinto e altamente lucrativo. A disputa não questiona assim a eficácia nem a legitimidade sanitária das vacinas, mas reflecte um conflito clássico de propriedade intelectual, emergente apenas quando a aplicação da tecnologia passou a gerar receitas de dezenas de milhares de milhões de dólares.

Nas acções judiciais interpostas nos tribunais federais do Delaware e de New Jersey, a Bayer sustenta que as vacinas mRNA desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna, bem como o processo produtivo utilizado pela Johnson & Johnson, recorreram a métodos patenteados de optimização de codões e eliminação de sequências instáveis, protegidos por uma patente registada em 1989 e concedida em 2010, válida até 2027. Segundo as queixas, essas técnicas permitiram remover dezenas de sequências problemáticas dos genes da proteína spike, aumentando a estabilidade do mRNA e viabilizando a eficácia dos produtos finais.
Na verdade, a Bayer não pede a suspensão da produção nem a retirada das vacinas do mercado, sublinhando que não pretende interferir com esforços de saúde pública, mas reclama uma compensação financeira ainda não especificada, invocando o direito a uma “royalty” razoável pelos lucros obtidos com a utilização da tecnologia. Entretanto, a Moderna já confirmou estar ciente do processo e afirmou que se defenderá em tribunal, enquanto Pfizer, BioNTech e Johnson & Johnson optaram, até ao momento, pelo silêncio público.
Este conflito acresce a uma teia já densa de litígios cruzados no universo das vacinas contra a covid-19. A própria Moderna mantém, desde 2022, uma acção contra a Pfizer e a BioNTech por alegada violação de patentes relacionadas com tecnologia mRNA, ilustrando como o consenso científico e político da fase pandémica, deu lugar, entretanto, a uma disputa económica entre gigantes industriais.

No Reino Unido, um Tribunal de Apelações já confirmou, em Agosto do ano passado, a validade da patente EP’949 da Moderna e a sua infracção pela Pfizer e pela BioNTech, embora ainda não tenha sido fixado nem pago qualquer montante indemnizatório, encontrando-se o processo na fase subsequente de quantificação dos danos. Na Alemanha, pelo contrário, o Tribunal Regional de Düsseldorf reconheceu, em Março de 2025, o direito da Moderna a ser indemnizada, ordenando o pagamento de compensações financeiras por parte da Pfizer e da BioNTech, mas os valores concretos permanecem confidenciais. Já nos Estados Unidos, decisões administrativas que consideraram inválidas outras patentes da Moderna impediram, até ao início de 2026, a consolidação de indemnizações semelhantes.
A dimensão financeira deste embate ganha particular relevo quando observada à luz da evolução bolsista das empresas envolvidas. Em 2020 e 2021, no auge da pandemia, Moderna e BioNTech registaram valorizações históricas, com as cotações a multiplicarem-se várias vezes num curto espaço de tempo. A Moderna ultrapassou os 400 dólares por acção, enquanto a BioNTech chegou a negociar acima dos 300 euros, reflectindo expectativas de receitas extraordinárias. Esse ciclo revelou-se, porém, efémero. Entre 2022 e o início de 2026, ambas as empresas sofreram quedas acentuadas, regressando a níveis próximos — ou mesmo inferiores — aos registados antes da pandemia.
A Pfizer, embora menos dependente de um único produto, também sentiu o impacto da normalização do mercado. Depois de lucros recorde em 2021 e 2022, viu as receitas associadas às vacinas e antivirais associados à covid-19 diminuírem drasticamente, com reflexo directo na cotação, que atingiu mínimos de vários anos no início de 2026. A Johnson & Johnson, através da Janssen, com um modelo de negócio mais diversificado, apresentou maior resiliência bolsista, embora tenha encerrado definitivamente a comercialização da sua vacina contra a covid-19 nos Estados Unidos em 2023 e na Europa um ano mais tarde, assumindo implicitamente o fim do ciclo pandémico.

Neste contexto, a ofensiva judicial da Bayer surge como uma tentativa tardia de reclamar parte da riqueza gerada por uma tecnologia que, segundo a empresa, lhe pertence desde muito antes da emergência sanitária. Trata-se menos de um litígio sobre saúde pública e mais de um ajuste de contas entre conglomerados industriais, onde ciência, patentes e mercados financeiros se cruzam num pós-pandemia marcado por desilusões bolsistas e batalhas jurídicas prolongadas.
O desfecho destes processos poderá arrastar-se durante anos, mas expõe já uma realidade incómoda: por detrás do discurso da urgência e da salvação colectiva, existiu sempre um sistema de propriedade intelectual pronto a apresentar a sua factura — mesmo quando os aplausos cessaram e os lucros excepcionais ficaram para trás.