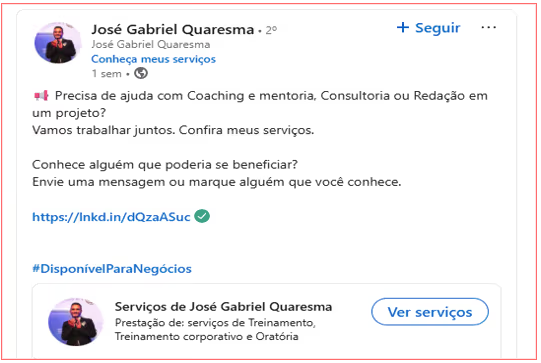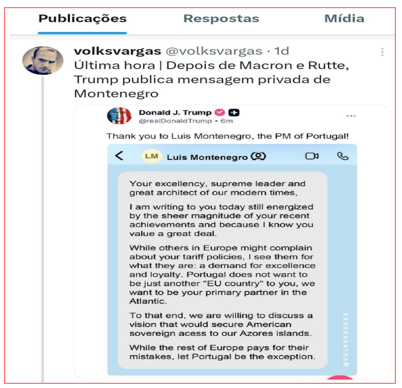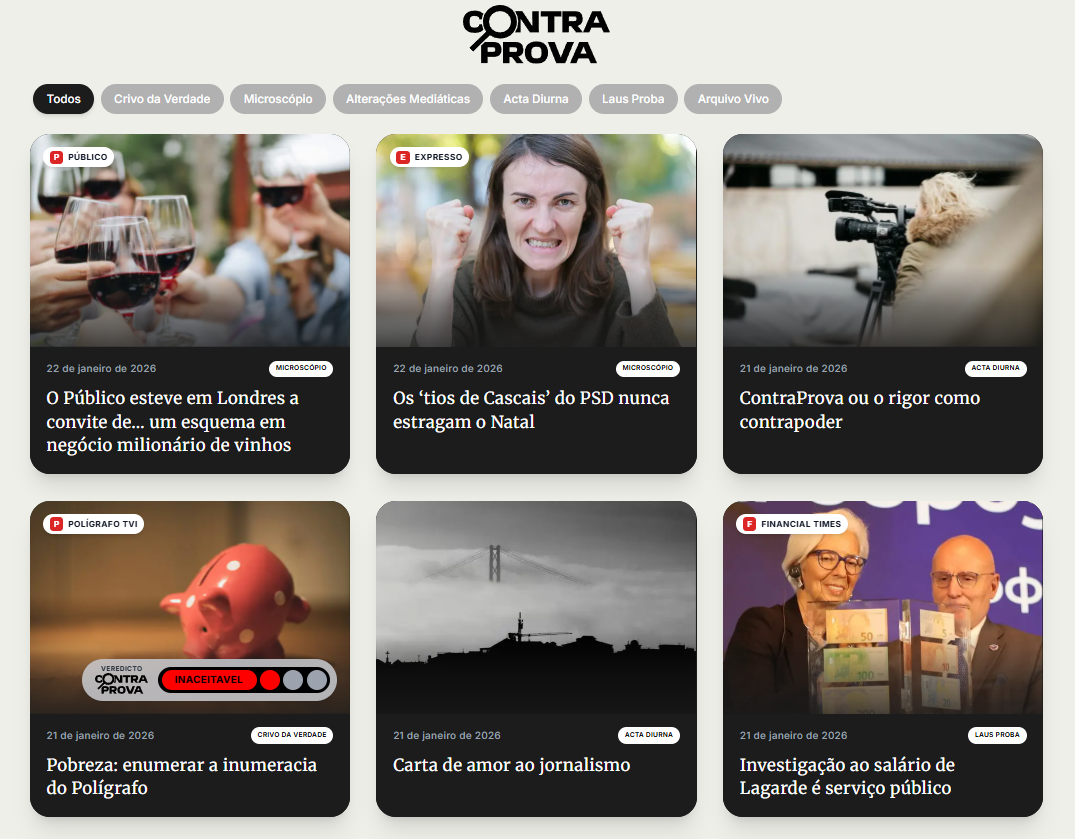No mundo jurídico — e mesmo no entendimento comum — a absolvição surge como o momento em que o tribunal, confrontado com uma acusação formal, conclui que as provas não sustentam a condenação e decide libertar o arguido do peso que sobre ele recai. A própria palavra ajuda a compreender o gesto jurídico: absolvição vem do latim absolvere, isto é, desatar, soltar, libertar de um vínculo.
Absolver é, portanto, cortar o nó da acusação quando este não resiste ao exame da prova. Perante a imputação formulada — muitas vezes pelo Ministério Público — o tribunal reconhece que a culpa não foi demonstrada nos termos exigidos pelo Direito e, por isso, desfaz o laço jurídico que mantinha o arguido sob suspeita, restituindo-lhe a condição de não culpado.

Foi exactamente isso que aconteceu hoje. O Tribunal Judicial de Lisboa absolveu-me de dois processos criminais intentados pelo Ministério Público, nos quais surgiam como assistentes o almirante Henrique Gouveia e Melo, a Ordem dos Médicos, o seu antigo bastonário Miguel Guimarães — hoje deputado do PSD —, bem como o pneumologista Filipe Froes e o pediatra Luís Varandas. Ao fim de nove audiências, iniciadas em Novembro do ano passado e agora encerradas com a leitura da sentença (cujo conteúdo divulgaremos logo que possível), terminou um julgamento que me manteve durante meses dependente da máquina judicial.
Quem conhece os tribunais sabe que um julgamento não vive apenas da razão nem de argumentos jurídicos e de documentos. Vive, sobretudo, do que ali se passa perante o juiz: das testemunhas, das contradições, da solidez das provas e da capacidade de sustentar, sob escrutínio directo, aquilo que foi escrito e publicado. É nesse terreno — onde a retórica perde utilidade e a evidência ganha peso — que se decide se uma acusação tem fundamento ou se não passa de um instrumento de pressão.
E foi precisamente essa convicção que se reforçou ao longo destas nove sessões. Orgulho-me, aliás, de ter sido absolvido sem ter sequer arrolado uma testemunha ‘amigável’, que fosse lá dizer que eu era boa pessoa. As únicas testemunhas que arrolei foram o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, o presidente da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde, Carlos Carapeto, e uma inspectora dessa entidade. O objectivo era expor estas entidades, mostrar como funciona o sistema…

Sobre este processo judicial ainda retomaremos com mais detalhes – que melhor exponham o que se passou naquela sala de audiência. Este texto serve sobretudo para mostrar como, no ano da graça de 2026, mais de meio século após a instauração da democracia e do teórico primado da liberdade, os processos de difamação contra jornalistas continuam, em Portugal, a ser uma via relativamente fácil e, não raras vezes, ardilosa de pressionar a imprensa livre.
Não porque as afirmações e notícias sejam falsas — isso seria outra questão —, mas porque incomodam quem detém poder, prestígio institucional ou autoridade mediática. O mecanismo é simples: apresenta-se uma queixa, mobiliza-se o Ministério Público, quase sempre reverente aos poderes, e transfere-se para o jornalista o ónus de se defender durante anos, com custos financeiros, desgaste pessoal e a sombra permanente da suspeita.
Com este tipo de facilitismo — alimentado ora por uma certa preguiça investigativa, ora por uma complacência perante argumentos de autoridade por parte de muitos procuradores do Ministério Público — pôde o doutor Miguel Guimarães, o doutor Filipe Froes e o doutor Luís Varandas avançar para tribunal e sustentar a sua pretensão de indemnização.

Cada um deles chegou a reclamar 15 mil euros, recorrendo, no caso da Ordem dos Médicos, a recursos provenientes das quotas pagas pelos próprios médicos para financiar honorários jurídicos e sustentar a tentativa de transformar crítica jornalística em ofensa penal. Ficará nos anais da Ordem dos Médicos a tentativa de um bastonário, Miguel Guimarães, na sua ânsia de poder (um simples lugar de deputado da Nação) ter usado uma instituição credível para perseguir colegas e jornalistas.
Foi também graças a esse mesmo clima de indulgência institucional que o almirante Gouveia e Melo conseguiu apresentar-se como suposto ofendido num processo obscuro (e que acredito eivado de ilegalidades e compadrios) que teve origem numa investigação jornalística sobre um episódio concreto: a vacinação de médicos não-prioritários durante a fase inicial da campanha contra a covid-19, em Fevereiro e Março de 2021.
Estamos em 2026 e aquilo que deveria ter merecido, desde logo, uma investigação séria por parte do Ministério Público sobre eventuais responsabilidades — incluindo a eventual configuração de crimes como peculato ou abuso de poder — acabou transformado num processo penal contra quem revelou e questionou os factos. Este Ministério Público não serviu, neste caso concreto, os interesses dos cidadãos.

Ao longo deste percurso — que não hesito em classificar como kafkiano — torna-se inevitável uma reflexão amarga. Como é possível que, mais de meio século depois da Revolução de Abril, um jornalista que publicou informação sustentada em documentos e testemunhos, e cuja veracidade acabou por não ser negada em tribunal, se veja sentado no banco dos réus? Como é possível que a revelação de factos relevantes para o interesse público possa transformar-se, durante anos, numa suspeita criminal sobre quem os expôs?
Além das derrotas de Gouveia e Melo, Miguel Guimarães, Filipe Froes e Luís Varandas – sobre os quais apenas lamento não ter sido ainda mais assertivo – e do próprio Ministério Público (que não satisfeito pelo mau trabalho inicial, não corrigiu a mão e ainda tentou que eu fosse condenado por uma crítica banal a uma figura pública), há, neste processo, dois outros grandes derrotados institucionais que não podem ser ignorados – e que mostram também o estado deplorável, reles e indigno da imprensa.
O primeiro derrotado é a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que constitucionalmente foi criada para defender a liberdade de imprensa. Em Março de 2023, a ERC produziu uma deliberação lamentável que, na prática, ofereceu cobertura institucional às queixas do almirante Gouveia e Melo, tecendo críticas éticas e de investigação aos meus trabalhos sobre a task force, e que hoje se revelam, à luz da decisão judicial, profundamente lamentáveis. A ERC serviu paa censurar e menorizar, perante terceiros, uma investigação jornalística rigorosa e cuidada.

O segundo derrotado é a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ). Na sequência de uma queixa apresentada pelo almirante, e antes de qualquer decisão judicial, essa entidade constituída apenas por jornalistas abriu-me um processo disciplinar que rapidamente se revelou canhestro, chegando mesmo a propor uma sanção manifestamente ilegal eivada de irregularidades risíveis. O processo foi, e é, tão sórdido e reles que, em vez de arquivarem por falta de provas, ainda hoje se arrasta, sem decisão final.
O jornalismo de investigação é assim tratado por esta ‘gente’. O comportamento da ERC e da CCPJ, acompanhado por um Sindicato dos Jornalistas com condutas lamentáveis, constitui hoje um retrato fiel da mediocridade e mesquinhez que corrói, pela promiscuidade, um dos pilares da democracia.
Na verdade, este processo mostrou bem os instrumentos de intimidação indirecta contra quem investiga e critica o poder. Em Portugal, a liberdade de imprensa deixou de ser uma proclamação abstracta e passou a depender da resistência concreta de quem decide não recuar. E a culpa é da própria classe jornalística.

A minha batalha, aliás, ainda não terminou. Há outro processo similar em curso no Porto – intentado também pelo Ministério Público, tendo Gustavo Carona, o médico reformado (e recém-registado no Colégio de Medicina Intensiva), como assistente – onde, uma vez mais, estão em causa a liberdade de expressão e a minha credibilidade enquanto jornalista e cidadão com opinião. Vai durar mais uns meses, mais trabalho e mais dinheiro gasto. Mas se alguma coisa retiro destes anos de desgaste judicial é uma certeza que, paradoxalmente, me deixa orgulhoso: hoje, ficou provado em tribunal que não minto e que aquilo que escrevo assenta em factos, documentos e provas.
Quanto ao meu estilo — por vezes agreste, outras vezes deliberadamente mordaz —, que tanto incomoda, sempre direi que a língua portuguesa é demasiado rica para ser domesticada por um jornalismo tímido e asséptico. E, quando se trata de escrutinar o poder, a cortesia excessiva costuma ser apenas outra forma de silêncio.