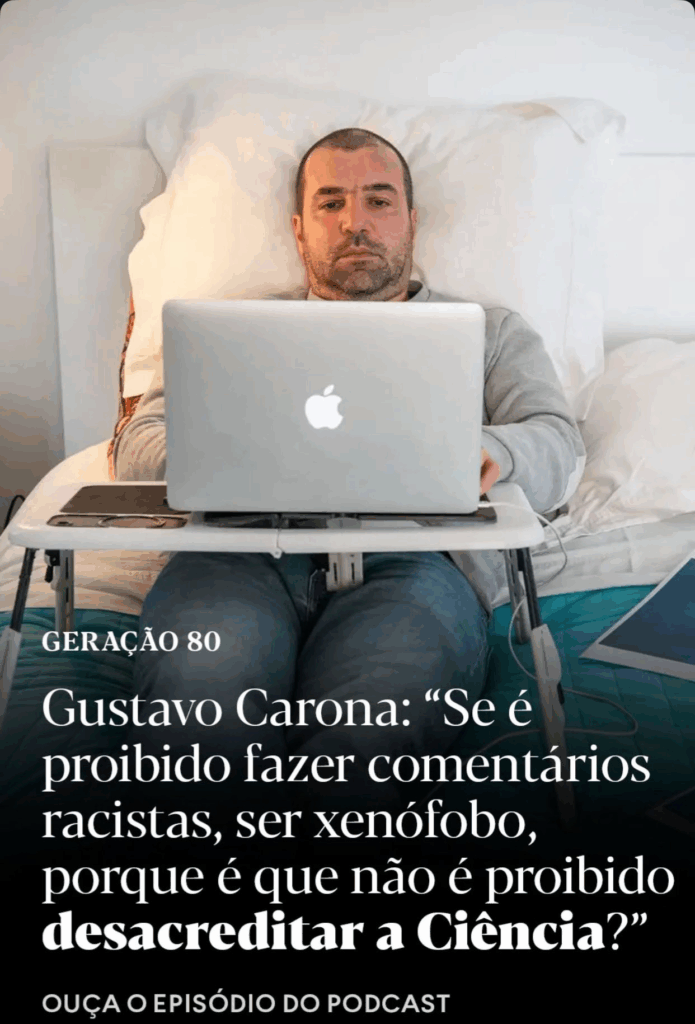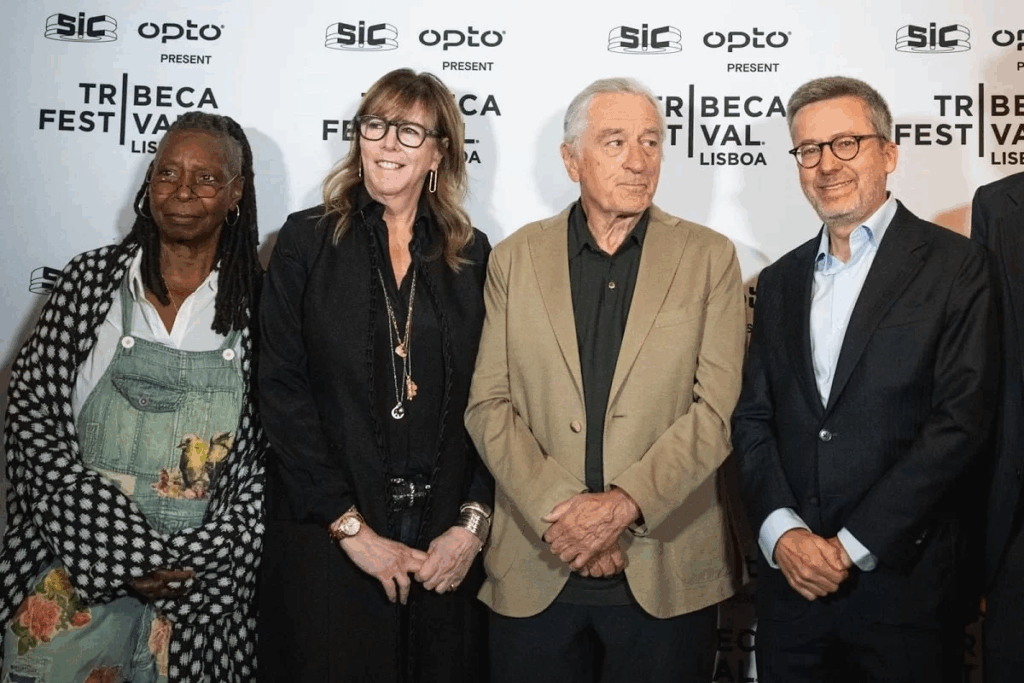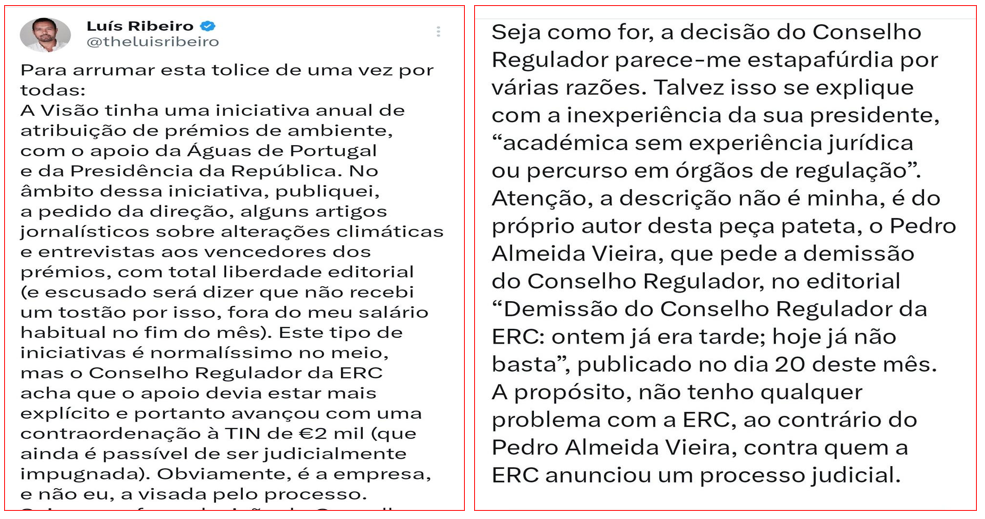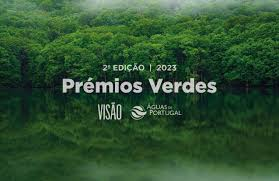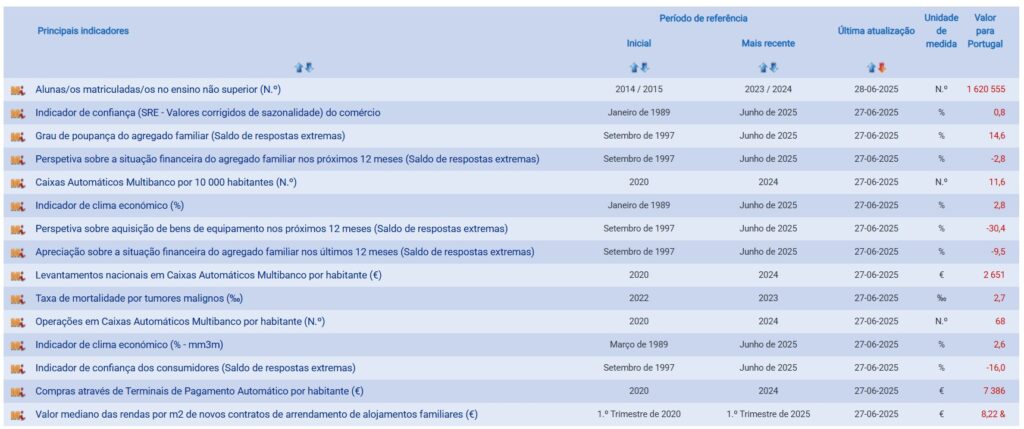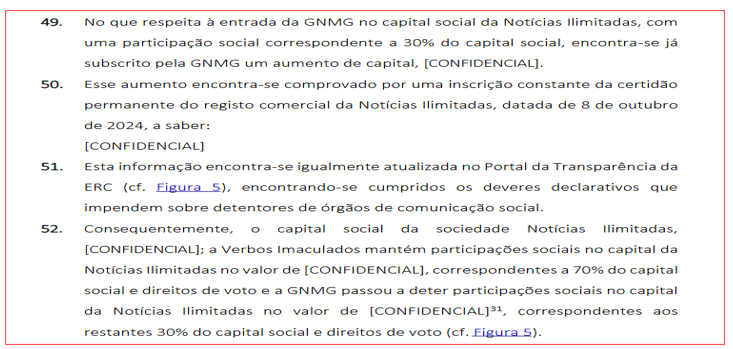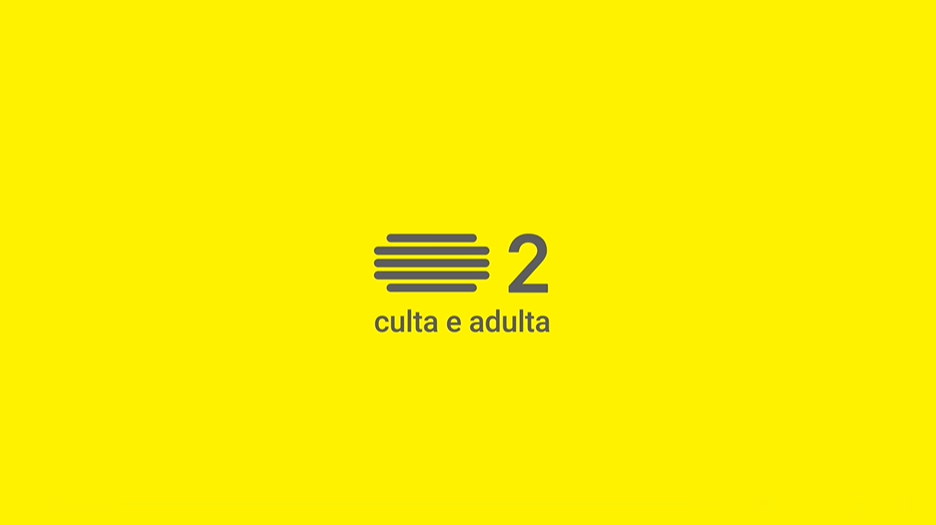Numa qualquer semana estival, entre festas de aldeia e campanhas com cânticos ecológicos, volta e meia sopra um ventozinho moral que gela a espinha dos que ainda pensam. Não por causa do que se diz — até porque já se espera tudo —, mas por aquilo que se esquece. E se há caso paradigmático da moral selectiva e da indignação plastificada das consciências contemporâneas, esse caso tem nome: Tesla. E um rosto catalisador: Elon Musk.
Convém recordar — porque a memória mediática é de curta duração e a moral pública é de plástico biodegradável — que, nos últimos anos, a Tesla tem sido alvo de campanhas de desdém e boicote, não por aquilo que produzia (carros eléctricos, limpos, bonitos e até eficientes), mas por causa do seu CEO. Com efeito, ainda recentemente, e depois de a compra do X (ex-Twitter) ter desencadeado uma onda contra a Tesla, o ódio dos media e de uma certa clique piorou porque, a certa altura, Elon Musk teve o desplante de estar próximo de Donald Trump — imagine-se, o pária-mor da civilização ocidental.

Ainda no início do ano, antes mesmo de se saber a causa — o suicídio de um militar veterano norte-americano — uma explosão em Las Vegas serviu durante dois dias para colocar a Tesla no centro das atenções, induzindo a ideia de que o problema estava no carro — e afinal, por triste ironia, foi a estanquicidade do Cybertruck a evitar danos envolventes maiores.
Sobretudo ao longo do último ano, tenho assistido a uma verdadeira maré moralista, onde desaguaram todas as figuras da ‘nova espiritualidade parvinha’. Recordo, entre tantas figuras menores, João Manzarra, que não hesitou em declarar publicamente que ia vender o seu Tesla por razões de consciência. À data, as notícias correram, os likes brotaram, os moralistas aplaudiram: o espírito crítico meditava ao volante da coerência. O problema? Não se sabe se vendeu, nem se trocou por um Renault Clio a gasóleo ou por uma bicicleta com travões de cortiça orgânica.
A verdade é esta: os modismos de indignação funcionam como nuvens de Verão — carregadas de trovões, mas sem consistência. Parece que anunciam o Inverno, mas duram meia hora e desaparecem ao primeiro raio de sol. Os apóstolos da consciência ecológica, tão velozes a apontar o dedo a Musk e ao seu imaginário político, nunca se detiveram a pensar que, se há empresa que verdadeiramente revolucionou o transporte ligeiro — mesmo com impactes ambientais significativos (v.g., baterias de lítio) —, foi a Tesla, com inovação real e lógica disruptiva.

Esta é, contudo, apenas a face anedótica de um fenómeno mais grave: a hipocrisia que governa o discurso político e ideológico sobre o ambiente, em particular sobre o clima. Como tenho repetido ao longo das últimas décadas — bem antes de a Greta Thunberg saber apontar para um mapa —, as alterações climáticas são uma realidade, independentemente da causa, mas a noção de emergência climática é uma falácia e acabou por ser criada como instrumento político: serve para abrir caminho à desresponsabilização dos governos e à concentração de fundos públicos em projectos de duvidosa eficácia ambiental, mas altamente rentáveis para empresas amigas. Um mercado paralelo de virtudes.
E, se dúvida restasse, a realidade tem-se encarregado de a dissipar. A Comissão Europeia, com os seus ‘ministros do carbono’ e os seus ‘comissários do catastrofismo’, vive obcecada com a liderança verde, embora a sua capacidade política e diplomática valha zero sobre políticas ambientais de âmbito mundial. Por exemplo, nas emissões de gases com efeito de estufa, os países da União Europeia emitem cerca de 8% e não determinam aquilo que os Estados Unidos, a Índia e a China emitem, por muito que esbracejem.
Não liderando nada, a Europa tem vindo, sim, e lamentavelmente, a tornar-se a vanguarda da fraude ambiental — e o sector automóvel é a ilustração suprema desta decadência.

Depois do escândalo do Dieselgate — cujo impacte em termos de saúde pública não foi irrelevante, havendo um estudo que aponta para a causa de 124 mil mortes prematura —, em que a Volkswagen foi apanhada a aldrabar os testes de emissões com softwares aldrabões, parecia que se tinha aprendido a lição. Parecia.
Esta semana, soube-se que a Justiça francesa abriu um novo processo contra a Peugeot e a Citroën (ambas do grupo Stellantis), por fraude agravada. O motivo? A comercialização, durante anos, de veículos a gasóleo com sistemas informáticos programados para contornar os testes de emissões de óxidos de azoto.
Segundo a acusação, os veículos estavam “especialmente calibrados” para se comportarem bem apenas durante o teste de homologação — como estudantes que decoram a resposta certa para o exame, mas nada sabem da matéria. No uso real, os níveis de emissão superavam largamente os limites regulamentares, com consequências para a saúde pública: doenças respiratórias e degradação ambiental.

A acusação vai mais longe: a burla é qualificada como agravada por colocar em risco a saúde humana. E, mais uma vez, os autores da fraude foram empresas acolhidas com louvores em Bruxelas, promovidas como campeãs da inovação sustentável. Em 2021, estas mesmas empresas já tinham sido acusadas por factos semelhantes. O modus operandi repete-se. E repete-se também o silêncio da imprensa portuguesa — sobretudo da mainstream — que há muito se enamorou por figuras como Carlos Tavares, ex-presidente da Peugeot, que deixou de ser CEO da Stellantis em finais do ano passado.
Na imprensa nacional, Tavares é descrito como uma coqueluche da gestão, um génio da eficiência e da competitividade. Um português de sucesso no Mundo. Mas, à luz dos processos agora abertos, talvez devêssemos perguntar: será uma coqueluche da gestão ou da encenação, do ultraje e da fraude?
A resposta é incómoda. Mas as evidências são claras. Enquanto se apontam dedos a Musk por piadas ou posicionamentos políticos — e ele põe-se a jeito em muitos casos —, escondiam-se crimes ambientais sistemáticos na santa Europa. Enquanto se vendia a narrativa de que a União Europeia era líder da sustentabilidade, enterravam-se debaixo do tapete os dados reais de emissões poluentes do sector automóvel. E enquanto se usava o selo verde para certificar negócios bilionários, envenenava-se o ar dos cidadãos.

A moral da história — e é sempre preciso haver uma — é que a verdade ambiental não se mede pelos slogans, mas pelos actos. A Tesla, goste-se ou não do seu CEO, mudou radicalmente a indústria automóvel em direcção à electrificação. As grandes marcas europeias, com décadas de privilégios e lobbying, enganaram clientes e reguladores. E hoje, no pico do Verão, são elas que anunciam o Inverno — não o das alterações climáticas, mas o da confiança pública nas elites políticas, tecnocráticas e industriais.
Sejamos claros: a hipocrisia ambiental mata mais do que o dióxido de carbono — e quem o diz sou eu, que defendo uma melhoria na eficiência energética e uma contenção no consumo de petróleo (a começar por ser uma matéria-prima demasiado preciosa para ser simplesmente queimada em motores de propulsão). A hipocrisia ambiental, de facto, mata a confiança, mata o rigor, mata o sentido de urgência verdadeiro. E por isso me irrita tanto ver que, enquanto os Manzarras desta vida se preocupam em dar lições de moral ao volante dos seus Teslas de segunda mão, os verdadeiros poluidores continuam a circular à vontade, com selo europeu — e aplausos.
Infelizmente, ainda, neste novo teatro do mundo, aquilo que parece contar não é a verdade — é a encenação.