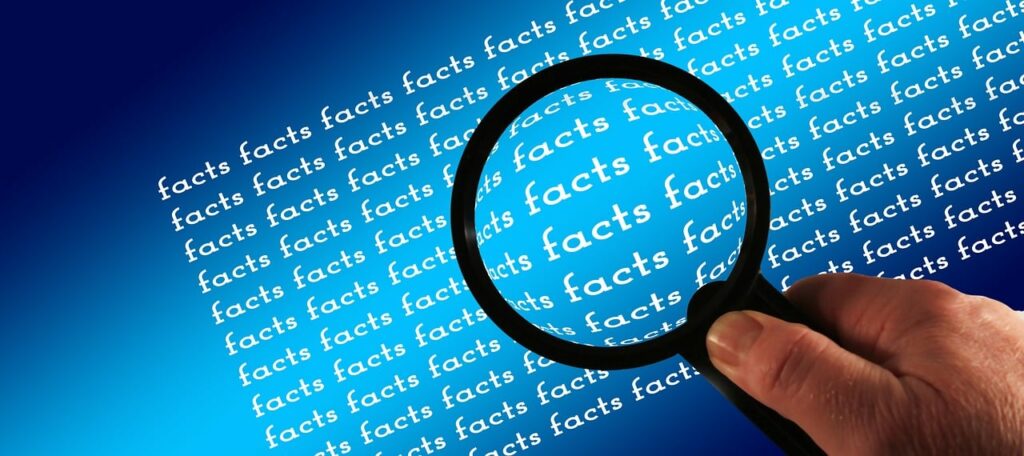Quando comecei a trabalhar, há 23 anos, seguia por norma para o “escritório” com uma farda. Não era uma farda propriamente bonita ou elegante, mas eu gostava dela. Não me chateava com roupa e não perdia muito tempo a ir a lojas – coisa que, ainda hoje, detesto. Gostaria de salientar que o dito escritório ficava num complexo industrial, paredes meias com uma fábrica, portanto, a farpela não era propriamente a de um piloto da KLM, se é que me faço entender.
Algures pela Primavera, provavelmente no meu aniversário, o meu pai ofereceu-me algumas daquelas camisas que a malta de Cascais usa. Todas garridas e com marcas cheias de cavalinhos, ursinhos ou pessoas a jogar polo, esse desporto tão cativante. Levei-a para a fábrica no dia seguinte, com aquele orgulho próprio de quem enverga algo que não consegue comprar. O meu colega da frente, contestatário por natureza, disse-me: “mas afinal a malta de esquerda, sempre preocupada com os pobres, também usa camisas da Ralph Lauren?”. Disse-lhe que a camisa de flanela aos quadrados, com as nódoas de vinho, tinha ido para lavar e por isso, era obrigado a recorrer à das festas. Ainda hoje somos amigos, embora eu tenha largado a farda mal José Sócrates chegou ao poder. Foi uma coincidência, note-se.

O estigma de que alguém mais identificado com a justiça social, solidariedade ou divisão de riqueza, não pode comer um bife do lombo, é algo que já vem de longe. Se és pobre, deves encostar à esquerda; e se fores rico ou classe média, deves apontar para a direita. Um rico não pode ter um filho na escola pública, um pobre não pode ir a um hospital privado. Um rico deve tentar fugir aos impostos, porque tem horror nos gastos públicos; e um pobre deve, feliz, contribuir com o que pode e agradecer a benesse do Serviço Nacional de Saúde.
Eu não vejo o mundo assim, e nunca achei que as subidas ou descidas no elevador social estivessem necessariamente ligadas aos ideais políticos. Conheci agricultores no Alentejo profundo que votavam no CDS e empresários que se reviam na sociedade sem classes defendida pelo PCP (ou vá, mais justa, para não entrar agora em utopias).
Isto para dizer, meus amigos, que quando querem eliminar o Pedro Nuno Santos da corrida à liderança do PS porque anda de Maserati, ou porque vem de uma família abastada… estamos a voltar à discussão da camisa. Interessa-me o que ele diz e, especialmente, o que pensa. O que veste, conduz ou come, é irrelevante.

Salazar andou a pregar em cada freguesia que era poupado, de origens humildes e que servia a Pátria sem enriquecer. Nada contra essa parte do “resumé”, mas isso não o impediu de criar uma ditadura, impedir o livre uso da palavra, perseguir opositores e destruir uma geração de jovens na guerra colonial.
Rishi Sunak, primeiro-ministro inglês, chegou ao poder com a etiqueta de um liberal milionário, que não precisava da politica para viver. É também uma vantagem, isto de chegar ao serviço público com a vida feita. Livra-nos de Armandos Varas, Relvas, Passos Coelhos e gente dessa. Por outro lado, se a riqueza e educação de Sunak desviam as atenções de possíveis abusos de poder, nada conseguiram perante a hedionda ideia de vender refugiados ao Ruanda. Um programa que Sunak apoia com alguma firmeza.
Portanto, entre ricos e pobres, discutam-se ideias e não as famílias em que foram criados os políticos. Se ser pobre fosse curriculum para a liderança da esquerda, Tino de Rans estaria em São Bento há 20 anos.
É-me relativamente indiferente que líder terá o PS depois de António Costa, mas acho sempre interessante quando ouço apoiantes dizerem que um é aventureiro e radical, enquanto o outro é mais moderado e discreto. Na dúvida sobre personalidades e na ausência do debate de ideias, aconselho que vejam quem é que o Medina apoia. Depois é só escolherem o outro lado.

Quando vejo partidos do Centrão a elegerem líderes por “seriedade”, lembro-me logo de Santana, Sócrates, Barroso e Passos Coelho. Tudo gente com uma seriedade à prova de bala e ajudados por uns quantos escudeiros também de valor. Como se, neste país, o roubo fosse feito pela cabeça do polvo e não por todos os tentáculos. De assessores a ministros, de vogais a secretários de Estado, de deputados na última fila a presidentes de câmara. Há décadas que andamos a ver a banda a passar e a aplaudir a impunidade com que a corrupção nos é apresentada, da Assembleia às autarquias. Mas ainda nos perdemos com a aparente “seriedade” de um candidato a primeiro-ministro. Ou se come bife do lombo em vez de jaquinzinhos. Somos pelas aparências, interessa-nos pouco a essência.
Enquanto nos perdemos em discussões sem interesse, os “senadores” da direita, com Relvas à cabeça, vão dizendo que não há que ter complexos em assumir uma coligação pós-eleitoral com o Chega. Passos Coelho, o criador, também já disse que o Chega é um partido que respeita a democracia e por isso, bola para a frente. Esta é que é a parte que realmente me importa. Ouvir André Ventura a implorar por uma coligação e perceber que, os antigos governantes do PSD, assentem com a cabeça e tentam, em horário nobre, normalizar um partido racista e xenófobo. É aqui que reside o verdadeiro problema. O assalto ao poder que a extrema-direita fascista tenta com o patrocínio do PSD.

Espero que as forças de esquerda percebam isto e compreendam que, tal como em eleições anteriores, a palavra do PSD vale de muito pouco quando começa a cheirar a poder. Se a única hipótese de Montenegro chegar a primeiro-ministro for com a ajuda do Chega, nem que seja por acordo parlamentar, ele fá-lo-á.
É tempo de as esquerdas se unirem. Sem medo. Sem complexos. E deixarem as discussões sobre o avô sapateiro para o Tilly na ChegaTV.
Tiago Franco é engenheiro de desenvolvimento na EcarX (Suécia)
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.