Quinze mortos, dezenas de feridos, turistas em pânico, comércio local paralisado. Lisboa está de luto, e por mais do que um dia. O descarrilamento do Elevador da Glória não foi um acidente no sentido puro da palavra. Foi uma tragédia anunciada, consequência directa da irresponsabilidade estatal, do desleixo burocrático e da lógica perversa de um sistema que vive do assalto ao contribuinte e nunca presta contas.
Desde finais de Agosto que o contrato de manutenção e segurança caducara. Não havia substituto, não houve sequer um ajuste directo para garantir serviços mínimos. O funicular histórico, símbolo da cidade, circulava sem cobertura contratual de manutenção quando o cabo de sustentação partiu. A carnificina não foi uma surpresa: foi a consequência inevitável de um Estado que funciona sem responsabilidade real.

A história desta tragédia começa em 2017, quando a Carris foi municipalizada e transferida do Estado central para a Câmara de Lisboa. O discurso foi o habitual: proximidade, gestão de proximidade, mais controlo democrático. Na prática, significou apenas que a Câmara passou a usar a empresa como um instrumento político e como sorvedouro de fundos.
Em 2022, o globalista Carlos Moedas nomeou Pedro Bogas presidente da Carris. Nesse mesmo ano, a manutenção dos elevadores históricos foi externalizada para a empresa MAIN – Maintenance Engineering, através de concurso público. O trabalho passou a ser feito por subcontratação, afastando os trabalhadores internos que conheciam as máquinas e que sempre tinham garantido a sua manutenção.
Dois anos depois, em 2024, realizou–se a última grande intervenção. Os trabalhadores continuaram a alertar para falhas, denunciaram problemas nos cabos de sustentação, pediram que a manutenção regressasse a casa. Foram ignorados. A 31 de Agosto de 2025 caducou o contrato. Não havia manutenção, não havia segurança. Três dias depois, o Elevador da Glória despenhou–se.

Contudo, nada mudará. A Carris não é uma empresa privada sujeita ao veredicto do mercado. É uma vaca sagrada do poder político. Desde 2017 é propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. Em termos claros, o “dono” político da tragédia chama–se Carlos Moedas. Mas esse não sofrerá consequência alguma. Nenhum gestor público verá a sua carreira destruída, nenhum administrador perderá a casa para pagar indemnizações, nenhum político responderá em tribunal até ao fim da sua vida. O contribuinte, o assaltado, sempre ele, pagará a conta.
Os números não deixam margem para dúvidas. A Carris recebe todos os anos cerca de trinta milhões de euros em subsídios à exploração. Entre 2020 e 2024, só para tapar o buraco estrutural da operação, foram quase cento e cinquenta milhões extorquidos aos residentes em Lisboa. A isto somam–se cento e quarenta e três milhões em subsídios ao investimento para frota e infra–estruturas, canalizados por fundos europeus e pelo Orçamento de Estado. Ao todo, quase trezentos milhões de euros em cinco anos. Dinheiro em catadupa, mas que não chegou para garantir a manutenção mínima de um funicular centenário.
Aqui reside a diferença fundamental entre um accionista privado e um “accionista público” como a Câmara Municipal de Lisboa. O privado vive sob a disciplina férrea do mercado. Se um operador privado permitisse a morte de quinze pessoas por negligência, seria imediatamente arrasado pelo risco reputacional.

Os turistas e residentes deixariam de usar os seus serviços. As indemnizações civis seriam devastadoras, as seguradoras rescindiriam contratos, a falência seria inevitável. O accionista privado veria a sua fortuna arruinada, passaria os próximos anos nos tribunais, perseguido até ao fim da vida por processos judiciais e execuções patrimoniais. É essa a lógica saudável do mercado: quem falha paga, e paga caro.
O “accionista público”, pelo contrário, é imune. A Câmara Municipal de Lisboa não enfrenta risco reputacional: não há concorrência, não há alternativa. O “cliente” é obrigado a usar o serviço subsidiado, e a conta é paga por todos através dos impostos – um eufemismo para designar um assalto.
As indemnizações não saem do bolso dos administradores nem dos políticos: saem do bolso do contribuinte. O desastre não significa falência, significa mais impostos, mais subsídios, mais inquéritos que nunca dão em nada.
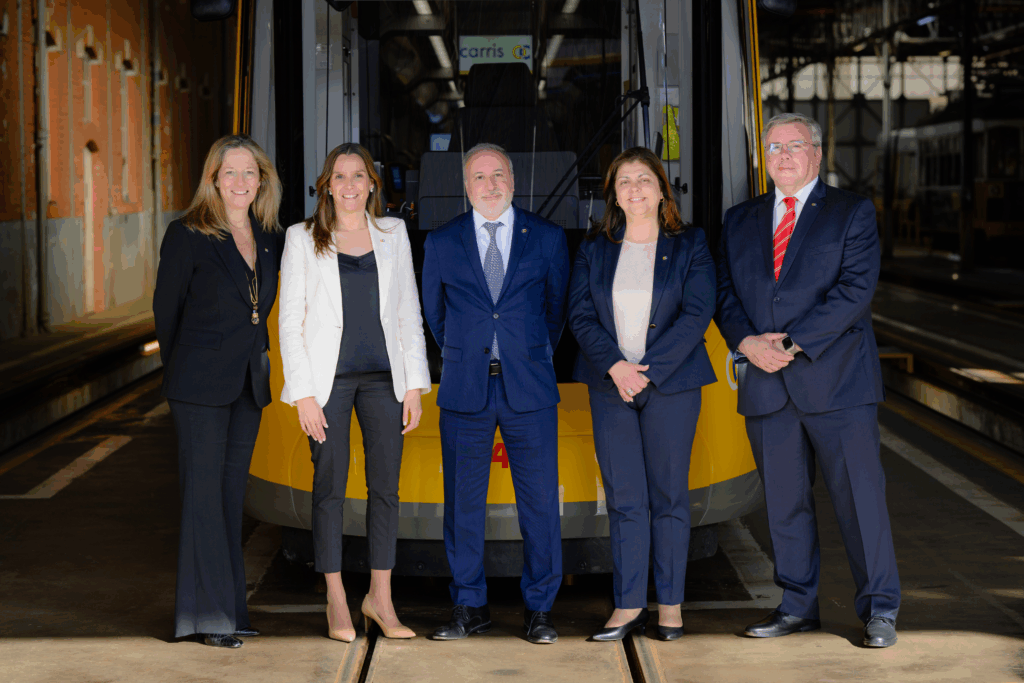
O presidente da Câmara aparece agora nas televisões com ar compungido, mas são lágrimas de crocodilo. Hoje chora frente às câmaras, amanhã já estará a procurar a próxima inauguração, a próxima fotografia, o próximo vídeo nas redes sociais, para se promover. Trabalhar, resolver, assumir responsabilidades não é com ele.
É um indivíduo que vive do saque e precisa de garantir os próximos quatro anos de carreira. Pedro Bogas continuará a dormir como um bebé de um ano, os administradores da Carris prosseguirão as suas carreiras douradas, e o ciclo recomeçará. A irresponsabilidade não tem preço para quem manda, porque o preço é sempre empurrado para os bolsos dos contribuintes – os eternos assaltados.
O cinismo é total. Depois da tragédia, alguém teve a ousadia de declarar que “os protocolos foram cumpridos”, quando na prática não havia protocolos em vigor desde o primeiro de Setembro. Eis a lógica degenerada da gestão pública: proteger-se com burocracia enquanto corpos jazem no chão.

Os trabalhadores tinham avisado que a manutenção externalizada em 2022 não tinha o rigor da realizada internamente. Tinham alertado para os cabos de sustentação. Tinham exigido que a Carris reassumisse o controlo técnico. Foram ignorados; no fim, a narrativa oficial é a de que “tudo estava em ordem”.
Não nos iludamos também quanto aos sindicatos, que se apresentam agora como voz da moralidade. Os sindicatos não são santos: são cartéis de trabalhadores com poder legal, capazes de impor condições de exclusividade salarial ou de protecção profissional, mesmo a quem não está sindicalizado. Ao contrário do empresário privado, que só sobrevive se alguém comprar voluntariamente o seu produto ou serviço, o sindicato usa a arma da lei para forçar terceiros. É a perversão legal transformada em regra.

Este desastre é a metáfora perfeita do funcionamento do Estado. O Estado não presta contas. O Estado não assume riscos. O Estado não responde às vítimas. No privado, o erro significa falência. No público, o erro traduz-se em mais impostos. Cada tragédia é convertida em argumento para reforçar orçamentos, pedir mais dinheiro, alargar a eterna roubalheira. A disciplina do mercado castiga o erro; o regime estatal recompensa-o.
Lisboa está de luto, mas devia estar furiosa. Furiosa com um presidente da Câmara que é o responsável político máximo e que continuará intocável. Furiosa com uma empresa que em cinco anos devorou trezentos milhões de euros e não assegurou a manutenção mínima de um símbolo da cidade. Furiosa com um sistema que rapina os contribuintes e devolve cadáveres. Furiosa com a mentira de que “o público é de todos”, quando na realidade não é de ninguém.
Há ainda as externalidades negativas que ninguém contabiliza. O turismo em Lisboa sofrerá inevitavelmente com este desastre. Quem confiará a vida a uma cidade que deixa descarrilar um funicular? Os negócios em redor do Elevador da Glória verão menos clientes, menos movimento, menos receitas.

Em qualquer mercado livre, esses negócios processariam a empresa responsável por negligência, reclamando indemnizações pelos danos sofridos. Aqui, não. Aqui o prejuízo espalha-se, os danos diluem-se, e a factura regressa sempre ao contribuinte.
A tragédia do Elevador da Glória não foi apenas um acidente. Foi o Estado em funcionamento puro: rios de dinheiro, incentivos perversos, sindicatos cartelizados, manutenção cancelada, protocolos inexistentes e responsabilidades nulas. A máquina política já trabalha para transformar a morte de quinze pessoas em mais um álibi para reforçar o orçamento. Os contribuintes, os eternos confiscados, lá estarão outra vez a pagar tudo. Mas tenhamos esperança: o governo já declarou um dia de luto nacional.
Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.
