Colaborador do PÁGINA UM desde a primeira faísca, o Luís Gomes é, reconheça-se, uma das criaturas mais bem apetrechadas — em teoria e em prática — que já conheci no vasto território das ciências económicas. Mas traz no estojo um curto-circuito irresistível: basta alguém insinuar a sombra de uma intervenção do Estado e logo lhe estalam os fusíveis, ficando de imediato cego e surdo, a tresler os argumentos de quem ousa não partilhar a sua cosmologia económica — tão imaculada quanto frágil ao menor sopro de heresia.
No seu artigo intitulado “Anti-comuns? A verdadeira tragédia da floresta é o Estado” — em resposta ao meu artigo inicial, “Sabe a causa dos incêndios devastadores? Não são as alterações climáticas; é a tragédia dos anti-comuns” —, Luís Gomes cometeu diversos erros conceptuais graves na leitura do que escrevi.

Nunca propus qualquer confisco, expropriação disfarçada ou socialização da floresta, nem sequer, abrenúncio!, a tutela soviética que ele gosta de evocar como espantalho.
A minha proposta parte exactamente do contrário, e ele nem sequer teve o discernimento de perceber: manter a propriedade privada em pleno, com todos os poderes de exclusão e rivalidade assegurados ao proprietário. Quem tem terra continua a poder explorar madeira, resina, caça, turismo, construir, arrendar, vedar ou simplesmente nada fazer, conforme a sua escolha, dentro de limitações legais, como existem em muitos outros sectores do quotidiano.
Aquilo que está em causa, numa gestão territorial que impeça os desastres cíclicos que vivemos, não é a posse nem o uso económico exclusivo, mas a necessidade de reconhecer que a floresta — ou, mais propriamente, os espaços florestais (distintos das parcelas/propriedades florestais) — gera externalidades positivas: ar limpo, regulação do ciclo hidrológico, sequestro de carbono, protecção contra a erosão, beleza natural que sustenta bem-estar e turismo. Tudo isto beneficia a sociedade, sem que esta pague, e, ironicamente, isso resulta em prejuízo privado para o dono da terra, porque lhe reduz opções de uso ou lhe impõe custos de manutenção sem qualquer contrapartida.

Ou seja, o ponto que o Luís não quis compreender é simples: uma externalidade positiva para a sociedade implica quase sempre um custo de oportunidade para o proprietário. Manter uma faixa de combustível, abrir caminhos de servidão para combate, preservar linhas de água ou garantir mosaicos de descontinuidade florestal são actos que aumentam a segurança colectiva, mas que significam menor rendimento ou maior despesa para quem é dono do terreno. E isso não é justo nem sustentável.
Até hoje, o Estado português resolveu o problema de forma expedita, administrativamente cega: impôs o encargo aos mais frágeis, geralmente proprietários envelhecidos e pobres, para que os mais distantes respirassem ar mais limpo e contemplassem paisagens bem cuidadas, ou que beneficiassem de menores probabilidades de danos por incêndios.
É esse desequilíbrio que proponho corrigir, não através de confisco — como o Luís esbraceja —, mas através de contratos claros entre sociedade e proprietários, em que estes sejam compensados de forma justa pelos custos e pelos benefícios que geram. E isto porque o “mercado” do Luís jamais o solucionaria.
Confundir a minha proposta com colectivização é como ver um polícia a organizar o trânsito num engarrafamento e acusá-lo de planificação soviética. A floresta portuguesa sofre de um problema estrutural que em Economia tem nome próprio: falha de mercado.

Falha porque o fogo não respeita estremas, alastra de uma parcela abandonada para outra cuidada, arrasta consigo aldeias, infra-estruturas, vidas humanas e património. Falha porque os custos de transacção em territórios com trinta ou cinquenta herdeiros dispersos pelo mundo são tão altos que inviabilizam qualquer solução puramente privada.
Falha porque, em grande parte do interior, não existe mercado para remunerar serviços de ecossistema: não há turistas suficientes, nem procura imobiliária, nem investidores que garantam retorno económico. A “liberdade de investir” de que fala o Luís Gomes é, nestes territórios, uma liberdade de papel: juridicamente plena, mas economicamente vazia.
Ao contrário do que ele sugere, não defendo um SNS da floresta nem um plano centralizado ditado a partir de Lisboa. Defendo, sim, uma arquitectura mínima de coordenação, que pode ser executada por cooperativas, zonas de intervenção florestal, baldios, associações de produtores ou até empresas privadas.

O Estado pode ser o mandatário inicial dessa coordenação, porque foi criado precisamente para lidar com problemas de acção colectiva, mas não precisa de ser o executor directo: pode delegar, contratualizar e auditar. A chave está em estabelecer contratos claros, com prazos, objectivos definidos, pagamentos condicionados a resultados e auditoria independente.
O Luís Gomes também erra ao menosprezar a diferença entre uma externalidade marginal e uma externalidade sistémica. Um pomar que atrai abelhas gera um benefício pequeno e localizado; ao invés, um incêndio florestal é uma catástrofe sistémica. Não é a definição académica de bem público que importa aqui, é a escala do dano. O fogo alastra sem pedir licença, multiplica prejuízos, destrói vidas e consome recursos públicos em larga escala. E tal como uma doença infecciosa não se resolve apenas com a higiene individual de cada cidadão, também uma floresta fragmentada não se protege apenas com a boa vontade de alguns proprietários. É preciso coordenação, porque os custos sociais são incomensuravelmente maiores do que os custos privados.
Por isso, insisto: não proponho retirar um milímetro de propriedade a ninguém. Aquilo que proponho introduzir, pela primeira vez, são preços e pagamentos para aquilo que até hoje foi consumido de graça pela sociedade e pago com prejuízo pelos donos da terra. Há instrumentos claros para isso: pagamentos por serviços de ecossistema com base em métricas verificáveis, cobertura integral dos custos de defesa civil, contratos-programa em zonas críticas, leilões reversos para seleccionar as propostas mais eficientes, fiscalização independente para evitar abusos. Nada disto mexe na exclusividade e rivalidade dos bens privados do proprietário. Madeira, caça, turismo, segundas casas — continuam a ser dele, e só dele.
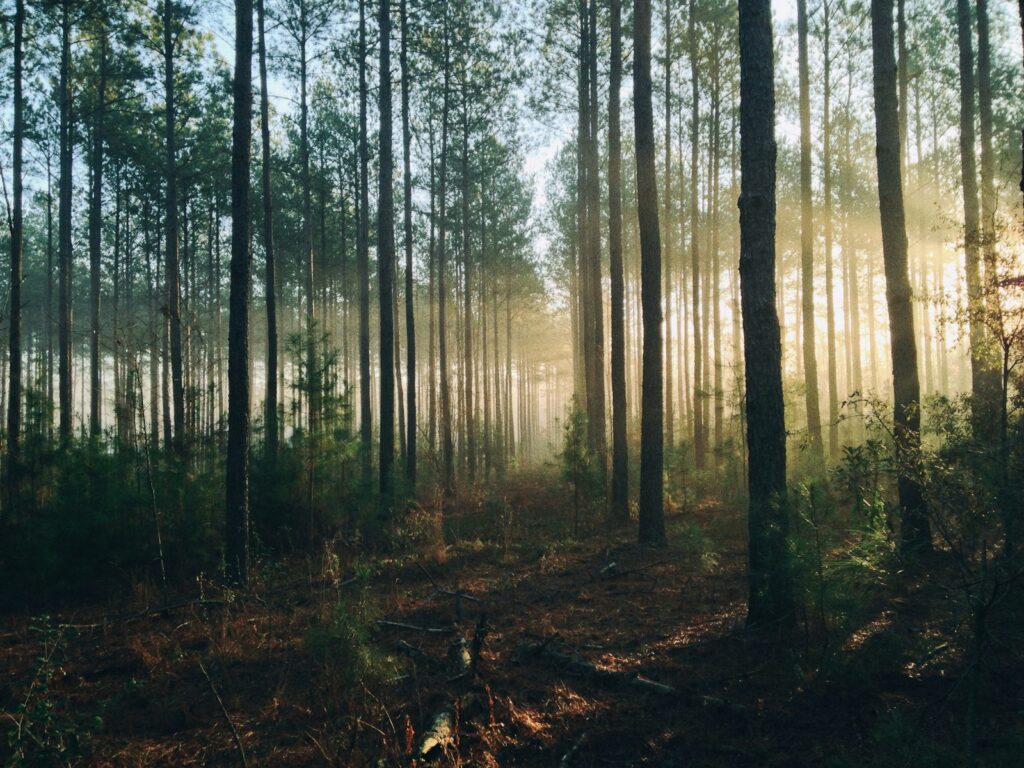
Reduzir tudo isto à caricatura do “estatismo arrogante” é fácil, mas é intelectualmente pobre. O Luís Gomes parece aquele condutor preso no trânsito que insiste em que a solução não são semáforos nem polícia, mas mais liberdade de acelerar. Podemos até deixá-lo carregar no pedal, mas ele vai limitar-se a bater no carro da frente a vociferar sempre que a culpa é do Estado.
Ora, a floresta portuguesa é esse engarrafamento: milhões de parcelas, custos de coordenação altíssimos, risco partilhado que não respeita limites, benefícios públicos invisíveis no mercado. Não chega gritar “menos Estado”; é preciso desenhar instituições que alinhem incentivos e tragam justiça para quem até hoje tem sido sacrificado em silêncio.
Chamar “bandido estacionário” ao Estado pode render aplausos numa tertúlia libertária, mas não resolve um único hectare de sustentabilidade e equidade. A questão útil não é essa; é antes perguntar que desenho institucional minimiza abusos e maximiza resultados.
A resposta é clara: regras simples, contratos curtos, auditorias independentes, pagamentos por resultado, competição por preço através de leilões, acesso aberto a cooperativas, associações, baldios ou empresas, e possibilidade de delegação em entidades não estatais. O Estado coordena e paga, através de taxas (e não impostos) por serviços (por vezes intangíveis) prestados pela sociedade aos proprietários; a execução é descentralizada e disputada.

E para não restar qualquer equívoco, resumo em três linhas: 1) a propriedade permanece plena e quem tem terra mantém posse, uso, fruição e exclusão dos seus bens; 2) as externalidades negativas, como o risco de incêndio, são mitigadas com custos de protecção pagos; as externalidades positivas, como os serviços de ecossistema, são remuneradas com pagamentos justos e contratos transparentes; e 3) as instituições asseguram uma coordenação mínima, com execução diversificada e concorrencial, sujeita a escrutínio.
A floresta portuguesa é, na verdade, um condomínio gigantesco onde só uns poucos condóminos são obrigados a pagar os extintores — e alguns nem sequer os compram —, mas, quando há fogo, arde o prédio todo. Aquilo que proponho não é tirar casas a ninguém: é apenas que o condomínio, em conjunto e de forma contratual, compre os extintores, mantenha as saídas de emergência e pague a quem faz a prevenção. Só assim a liberdade individual de cada condómino terá futuro. Até lá, continuaremos a ver o país a arder todos os verões, embalados por discursos inflamados contra o Estado que não passam disso mesmo: slogans sem chama para um mundo utópico, incapazes de resistir ao primeiro clarão.
