Portugal atravessa um dos piores Agostos de sempre em matéria de fogos. Mais de 200 mil hectares já arderam desde Janeiro, e a contabilidade cresce a cada dia. O número impressiona, mas o país já quase se habituou a vê-lo repetir-se, década após década, com a mesma coreografia: discursos inflamados, homenagens aos bombeiros, promessas de reformas e um rasto de cinzas. O que ninguém encara de frente é a raiz estrutural do problema: a floresta portuguesa vive presa numa “tragédia dos anti-comuns”.
O termo pode soar académico, mas descreve com precisão a realidade do território. Ao contrário da “tragédia dos comuns” — quando um recurso partilhado é destruído por uso excessivo —, a dos anti-comuns resulta de uma fragmentação que paralisa a gestão: demasiados donos, cada um com poder de exclusão, nenhum com capacidade de agir em escala. Portugal é o caso perfeito: 11,6 milhões de prédios rústicos, muitos com dimensões microscópicas, abandonados ou em litígio entre herdeiros. Cada proprietário olha para a sua parcela; o fogo, porém, olha para o conjunto.

É aqui que se esconde a confusão maior. “Floresta privada” não é a mesma coisa que “espaços florestais”. A primeira refere-se às parcelas, registadas nas conservatórias, com estremas e dono definido. Os segundos são o território real: manchas de vegetação contínuas, cursos de água, ecossistemas e paisagens que não reconhecem limites de caderneta. O incêndio não se detém numa estremadura; os benefícios ambientais também não. O ar limpo, a regulação da água, o sequestro de carbono, a biodiversidade — tudo isto ultrapassa as linhas do cadastro. Por isso, os espaços florestais, mesmo em terrenos privados, devem ser encarados como bens públicos.
Durante muito tempo, a gestão não falhou. Pelo contrário: funcionava porque a paisagem tinha uso e valor. O pinhal era resinado, a lenha e a caruma aqueciam casas, os baldios eram administrados pelas comunidades, e os Serviços Florestais mantinham vigilância, caminhos e aceiros. Havia uma economia do mato e uma autoridade técnica que impunha regras. Funcionava porque havia gente no território e guardas no terreno.
Esse modelo desfez-se nas últimas décadas. E não foi por causa das alterações climáticas nem pelas ondas de calor – foi por razões políticas, de erros de desenvolvimento. As alterações climáticas aumentam o risco, mas não são o factor desencadeador dos fogos destrutivos. A causa principal está no contínuo vegetal que aumentou, quer em extensão quer em volume, por razões demográficas, económicas e sobretudo políticas.

O êxodo rural esvaziou as aldeias, a resinagem deixou de dar rendimento, os baldios perderam relevância e os Serviços Florestais foram virtualmente extintos. Onde havia uso e vigilância, ficou abandono; onde havia técnicos e guardas, ficou a retórica; onde havia economia, ficou custo. A floresta deixou de ter dono visível e passou a ser combustível à espera da próxima ignição.
É neste vazio que os incêndios ceifam – e é aqui que cada vez mais urge defender um novo paradigma: a criação de um efectivo Sistema de Gestão de Espaços Florestais (SIGEF), de natureza pública, com equipas permanentes no terreno, incluindo prevenção e combate. O modelo é simples: técnicos, sapadores e vigilantes com mandato para limpar, vigiar e agir, incluindo em áreas privadas, sempre sem custos directos aos proprietários – e, pelo contrário, com compensações justas pelos serviços ambientais prestados pelas suas parcelas. E com uma lógica clara: quem se abstém de gerir não bloqueará o interesse colectivo, quebrando assim a possibilidade de accionar a tragédia dos anti-comuns.
Assumir os espaços florestais como um bem público teria naturalmente um custo orçamental robusto. Se o Estado quisesse assegurar uma gestão integrada de toda a superfície florestal do continente — cerca de 6,2 milhões de hectares, que inclui áreas de floresta e matos —, com economia de escala, ciclos de limpeza de cinco anos e preços médios de 800 euros por hectare, o encargo anual rondaria 1,1 mil milhões de euros, considerando a rotatividade neste sistema de gestão.
Mesmo admitindo intervalos de eficiência, o orçamento para este sistema nunca seria inferior a 900 milhões de euros. Em termos macroeconómicos, trata-se de um valor equivalente a pouco mais de 0,4 % do PIB português, montante comparável àquilo que o país despende anualmente em políticas activas de emprego.

A diferença, porém, é que este esforço financeiro representaria uma inversão do paradigma actual: em vez de dependermos de milhares de minifundiários incapazes de coordenar estratégias de prevenção, o Estado assumiria a floresta como património comum, reduzindo drasticamente a lógica dos anti-comuns que hoje favorece a desordem, a inércia e, em última instância, a catástrofe dos megaincêndios.
Os números mostram que não é dinheiro que falta: é racionalidade. Entre 2000 e 2016, os incêndios custaram ao país 5,2 mil milhões de euros; em 2003, só num ano, os prejuízos ultrapassaram 1,5 mil milhões. E há custos que passariam a ser evitados. Por exemplo, actualmente entre 45% e 50% da despesa pública — e foi de cerca de 640 milhões de euros em 2024 — é destinada apenas às operações de combate, incluindo meios aéreos.
Com uma gestão adequada dos espaços florestais, uma parte significativa seria poupada. Menos incêndios seria também riqueza que se criaria: os custos (indicativos) de madeira perdida por incêndios rondam os 1.000 a 1.500 euros por hectare.

Além disso, têm de se considerar os custos ambientais e mesmo climáticos: em 2017, cerca de 40% das emissões de dióxido de carbono foram dos incêndios; este ano estarão seguramente acima dos 20%. Existem também os custos em infra-estruturas destruídas (habitações, estradas, prejuízos agrícolas, etc.) e as perdas no turismo. Fazendo algumas contas, o ganho económico potencial de reduzir drasticamente os incêndios situa-se entre os 0,25% e os 0,45% do PIB.
Mesmo assim, numa primeira fase, o sistema poderia obter um financiamento assente em três pilares, numa lógica clara e percebida como taxa de serviços públicos: contributo diversificado, incidência proporcional e justiça social.
O primeiro pilar seria o reforço do Fundo Ambiental, via receitas da fiscalidade verde e, sobretudo, das licenças de carbono. Portugal arrecada, em média, 400 milhões de euros por ano apenas com leilões de dióxido de carbono (CO₂). Se um quarto desse montante fosse automaticamente canalizado para a gestão florestal, garantir-se-ia uma verba fixa de 100 milhões anuais.

O segundo pilar seria um adicional ao IMI rústico — cujo valor é quase nulo —, aplicando-se um imposto inicial de cinco euros por prédio, mas com forte progressividade: explorações activas ficariam praticamente isentas, enquanto prédios abandonados, em litígio ou em regime de absentismo fiscal suportariam uma carga maior. Desta forma, além de ser um incentivo ao emparcelamento e à venda de prédios rústicos abandonados, seria possível gerar entre 120 e 150 milhões anuais, mas sem penalizar quem mantém a terra viva e produtiva.
O terceiro pilar seria a criação de uma Taxa de Protecção de Espaços Florestais. Com a aplicação de uma taxa anual de 10 euros por prédio urbano (cerca de 6 milhões) e por veículo motorizado (cerca de 7,2 milhões), a receita anual ultrapassaria os 130 milhões de euros. O valor continua irrisório para quem possui uma habitação ou um automóvel, mas permitiria financiar de forma directa a rede nacional de prevenção e vigilância florestal.
Naturalmente, a parte da despesa já inscrita todos os anos no Orçamento do Estado — cerca de 600 milhões em prevenção e combate — teria de ser incorporada no novo modelo, funcionando como verba cativa e estável.
Ao mesmo tempo, Portugal poderia exigir em Bruxelas a criação de um Fundo Europeu de Coesão Florestal, aplicando o princípio da solidariedade ambiental: países menos expostos ao risco de incêndio contribuiriam mais para apoiar aqueles que, como Portugal, Espanha ou Grécia, enfrentam o drama recorrente do fogo. Um mecanismo deste tipo poderia garantir entre 200 e 250 milhões de euros anuais, integrando a política florestal na própria agenda climática europeia e servindo para financiar os serviços ambientais dos proprietários.
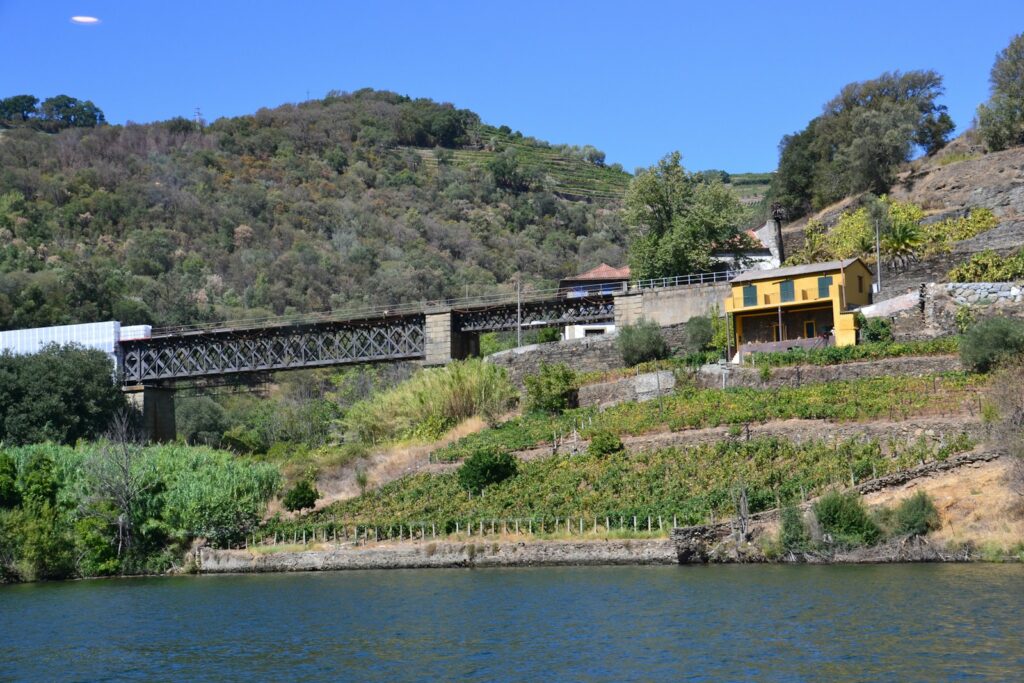
Com este modelo, em vez de desperdiçar milhares de milhões em prejuízos a cada década, Portugal passaria a investir de forma previsível, justa e transparente. Porque transformar os espaços florestais em bens públicos exige também que o seu financiamento seja público, claro e equitativo — distribuindo encargos de acordo com a responsabilidade, mas também com a solidariedade nacional.
Persistir no modelo actual — pseudo-voluntário, de glorificação da tragédia — mostra-se insustentável económica e socialmente. Se 2025 já está entre os piores anos deste século, é porque Portugal insiste em varrer cinzas em vez de organizar o território. Enquanto não se assumir que os espaços florestais são bens públicos e não se pagar para os gerir, o país continuará a repetir este Verão: cada vez mais extenso, cada vez mais caro, cada vez mais devastador.
