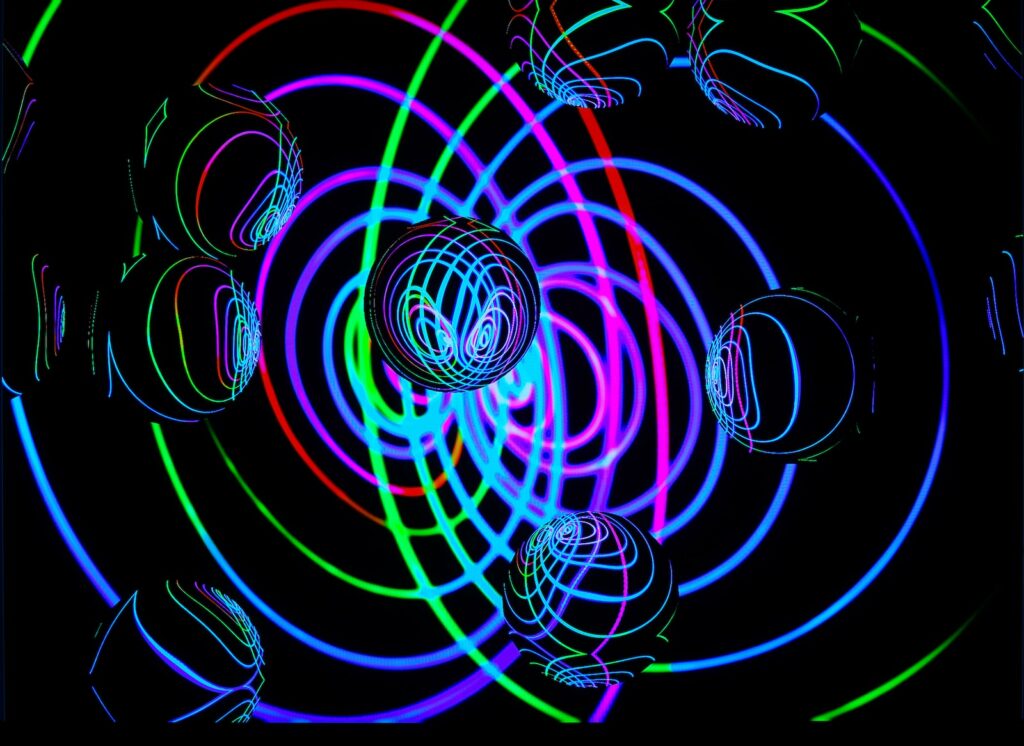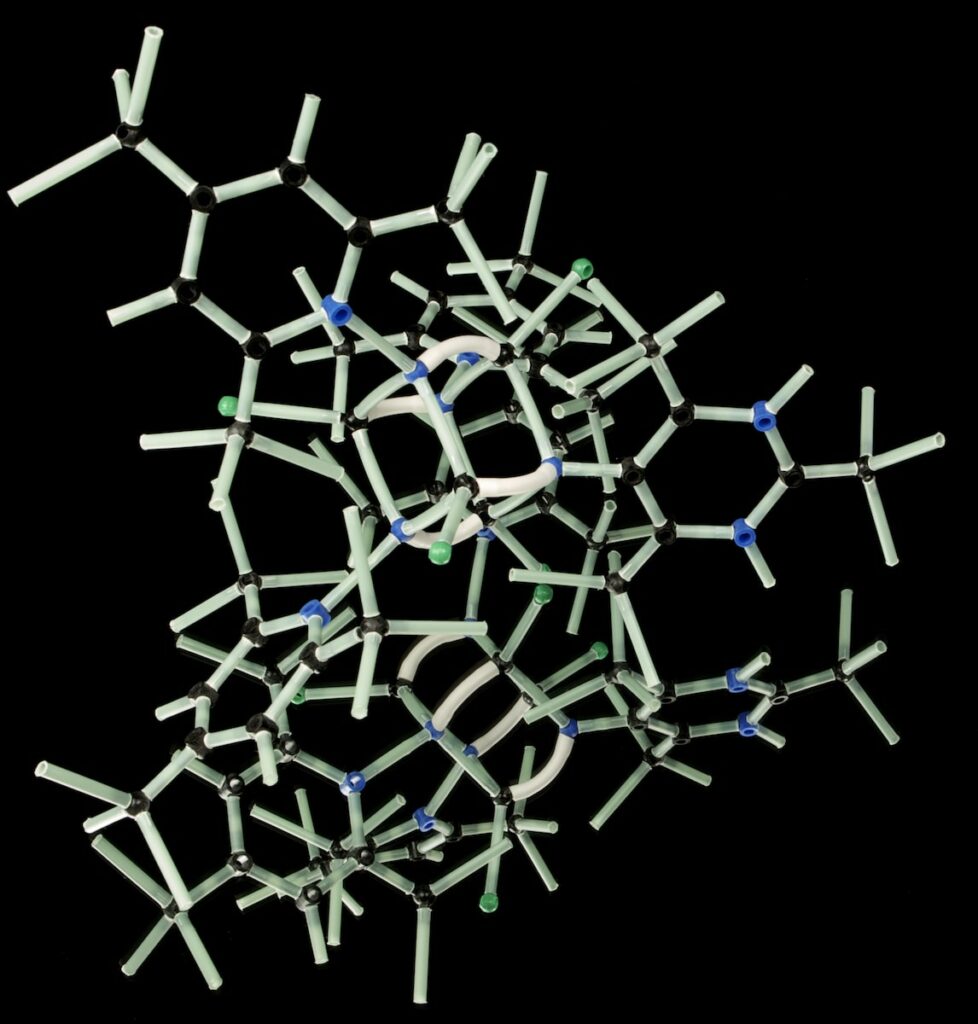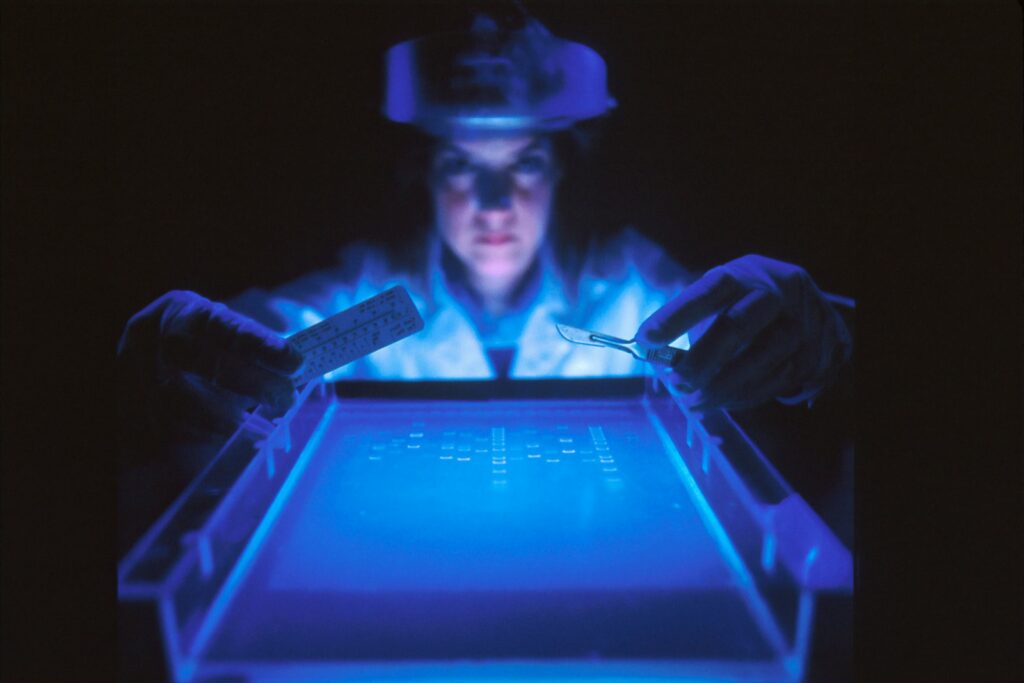Tenho um lema como jornalista: devo escrever para que o meu leitor mais burro me entenda e que o meu mais entendido leitor não me chame burro.
Isto a pretexto de uma notícia da edição de ontem do semanário Expresso, da autoria da jornalista Carla Tomás, que escreve sobre Ambiente há já umas boas duas décadas – e, portanto, tem mais do que obrigação (nem que seja para si própria) de não transmitir disparates, nem que estes saiam da boca de outros. Excepto se agora os jornalistas forem apenas pés de microfone ou transmissores de narrativas da moda, forçando tudo a ir até às alterações climáticas, como as dissertações do professor Aquiles Arquelau, especialista em Mitologia, que sempre descambavam na Bruna Lombardi.

A dita notícia do Expresso, sob o antetítulo de “Crise Climática”, lança a parangona: “Torre de Belém ameaçada por nível do mar e ondas de calor”. E relata o seguinte: “A acelerada subida do nível médio do mar e as cada vez mais intensas e frequentes ondas de calor estão a pôr em risco um dos ícones da cidade de Lisboa, classificado como Património Mundial. Construído no século XVI, o monumento é frequentemente batido pela ondulação em dias de temporal conjugado com a maré alta e corre o risco de ficar inundado no futuro com consequências para a estrutura que sustenta este monumento, isto quando se projeta uma subida de um metro no nível médio do mar antes do final do século”.
E acrescenta que “o alerta é feito pela arquiteta americana Barbara Judy, que está em Lisboa a coordenar uma equipa que estuda o impacto das alterações climáticas no Mosteiro dos Jerónimos e na Torre de Belém e que, até novembro, irá apresentar um relatório com sugestões de como minimizar os impactos e adaptar este património cultural a eventos extremos futuros”, informando ainda que “os trabalhos resultam de uma parceria da direção do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém com a embaixada dos EUA, no âmbito do Programa Embassy Science Fellow”.

O artigo da Carla Tomás também apresenta duas fotos do Torre de Belém, em preia-mar e baixa-mar, sendo que na primeira o monumento está rodeado de água e na segunda se vê uma ‘língua de areia’, o que não é surpreendente atendendo que está em plena boca do estuário do Tejo, onde as variações do nível da água do mar (“culpa” da Lua) rondam os três metros.
Como não me canso de dizer, existem evidências de alterações climáticas, com um aumento significativo do ponto de vista da frequência de fenómenos extremos – e isto independentemente das suas causas, sendo que se estas forem mesmo derivadas do dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa, bem que podemos meter a “viola no saco”, porque a China está a fazer com que qualquer sacrifício de redução seja em vão.
Mas uma coisa é a necessidade de assumir a existência de um problema – as alterações climáticas, com as suas cambiantes e especificidades, encontrando medidas de minimização, mitigação e adaptação, de forma racional –; outra é a necessidade de não permitir que se tornem um monotema ambiental – e com isso permitir um pornográfico greenwashing, onde se pavoneiam empresas com passado e presente poluidor travestidas agora de “amigas do ambiente” –; e outra ainda, e muito importante, a necessidade de rigor informativo arredando o sensacionalismo manipulatório.

Bem sei que a imprensa vive de soundbites, e sei também que, sobretudo depois da pandemia da covid-19, existe uma enorme tentação nas editorias menos escrupulosas de fazer suceder à emergência sanitária uma emergência climática, onde qualquer tempestade se transforma numa evidência das alterações climáticas, quando na verdade os processos são mais lentos, embora inexoráveis, e até mais afastados da Europa. E nem os impactes serão trágicos como uma crise sanitária se houver planeamento preventivo.
Por exemplo, se não expandíssemos áreas urbanas para leitos de cheia ou não impermeabilizássemos zonas de drenagem, provavelmente não teríamos tantos estragos em tempestades. Ou se fizéssemos uma prevenção mais activa, em simultâneo com mudanças na estrutura silvícola, porventura os incêndios num mundo rural (cada vez mais desertificado de pessoas) não seriam tão dramáticos.
Mas não quero falar agora mais sobre isso. Foquemo-nos na notícia do Expresso sobre a Torre de Belém – e nos seus disparates.

Como disse no início, convém a um jornalista que não lhe chamem burro.
E, assim sendo, que se pode dizer então de uma notícia que, titulando estar a subida das águas do mar e as ondas de calor a AMEAÇAR a Torre de Belém, se “esquece” de referir que, enfim, este agora monumento estava, quando construído no século XVI, num pequeno ilhéu a cerca de 250 metros da margem?
Carla Tomás, e o Expresso, além das fotos a mostrarem simples variações de marés, deveriam sim ter também apresentado mapas, pinturas ou gravuras antigas onde a Torre de Belém (ou Torre de São Vicente) se mostrava bem dentro do Tejo, tal como a chamada Torre Velha (ou Forte de São Sebastião da Caparica), portanto muito mais “afectada” por ondas e salinidade – muito menos “protegida” do que agora.
Na verdade, foi a evolução costeira, a dinâmica estuarina, com assoreamentos progressivos, e em outras partes com desassoreamentos para tornar navegável o estuário, a par de aterros – que, por exemplo, “afastaram” o Mosteiro dos Jerónimos das águas do rio Tejo –, que “colocaram” a Torre de Belém onde está. Quer dizer, está no mesmo sítio, mas tudo mudou em seu redor. E essa mudança não foi derivada das alterações climáticas nem é absolutamente nada expectável que o aquecimento global coloque qualquer pressão relevante. Não é por aí que o gato vai às filhoses…

Ao longo dos séculos, e não por causa de quaisquer alterações climáticas, a Torre de Belém – que bem antes da Revolução Industrial (“berço” das emissões de dióxido de carbono) estava rodeada de águas do estuário – foi beneficiando de constantes e sucessivas remodelações e reabilitações, porque o tempo, esse “grande (mau) escultor”, desgasta sem parança. Que haja agora necessidade de uma nova intervenção, parece evidente. Basta conferir o Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, onde se constata que foram executadas 27 obras de reabilitação em diversos graus na Torre de Belém ao longo do século XX, mas não havendo registos de alguma acção relevante nas últimas duas décadas. Por isso, sejamos honestos: “pedras partidas, molhes erodidos e juntas sem argamassa”, relatadas pela especialista citada pelo Expresso, não se devem às alterações climáticas. Apenas ao tempo, à lenta acção dos agentes físicos e químicos – e, vá lá, à incúria do Estado em relação a um rico património histórico. Nada mais.
Torna-se, também, risível a referência no título do Expresso às ondas de calor ameaçarem a Torre de Belém, como se um aumento de temperatura por via de um aquecimento global – nem que fosse de 10 graus ou mais – pudesse causar qualquer dano de monta a pedras sujeitas a contínua salinidade, ondulação e variação das marés. É tão absurdo que nem merece mais comentários…
Enfim, por tudo isto, só por incompreensível ignorância, ou por sensacionalismo bacoco ou por uma intencional manipulação da realidade – coisas que pouco incomodam os reguladores (ERC e CCPJ) e a classe jornalística (e o Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, mais afoito a fretes para difamar o jornalismo incómodo e independente) –, se faz uma notícia onde declarações de uma pouco conhecida arquitecta norte-americana que trabalhou no National Park Services – equivalente ao nosso Instituto de Conservação da Natureza e Florestas com a componente do património – se transformam em “provas irrefutáveis” das alterações climáticas sobre a Torre de Belém, que já “assistiu” a muitas façanhas e também muitos disparates em cinco séculos.

Mas o pior é a notícia do Expresso não ser um exemplo isolado de mau jornalismo, a forçar uma “missão”; antes é um novo paradigma. Se assim não fosse, outros jornais não correriam a propalar o disparate do Expresso, como sucedeu com o Correio da Manhã e o Observador, o que mostra o nível de conhecimentos (até históricos) da malta que anda pelas redacções a copiar mutuamente disparates.
Enfim, se isto é jornalismo de referência… vou ali e já venho. Ou melhor, sigo sozinho.