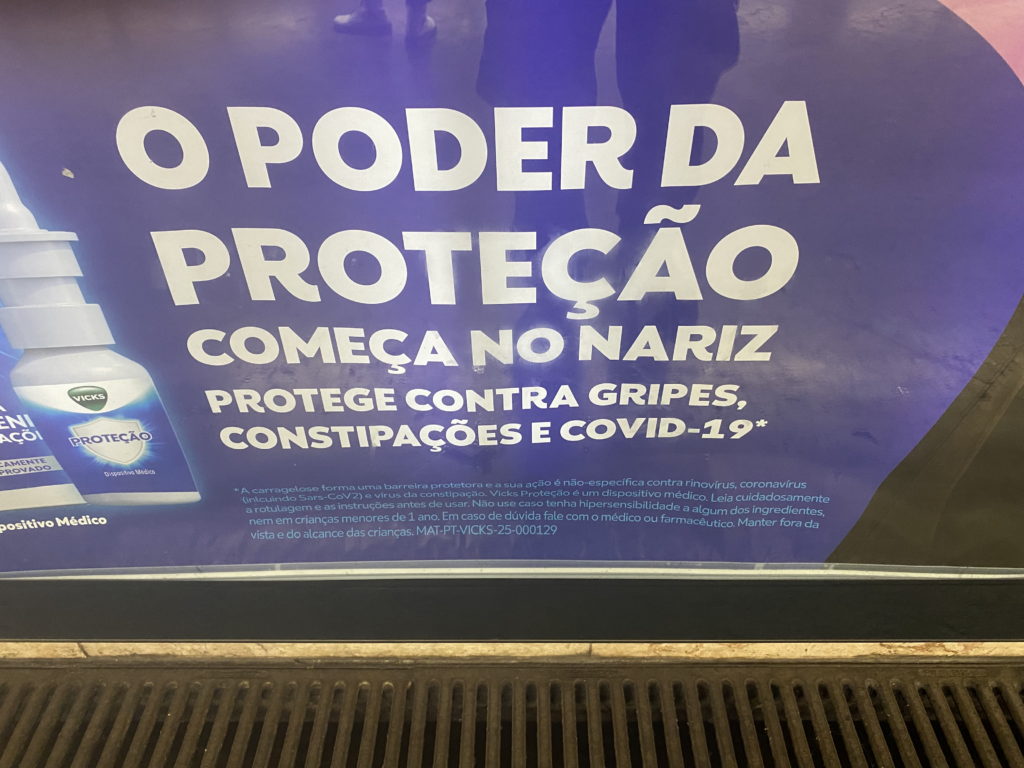Portugal aprecia apresentar-se — sobretudo em fóruns internacionais, cimeiras climáticas e discursos ministeriais — como um aluno aplicado da transição verde. Os sucessivos Governos vestem com gosto o traje de arautos ambientais, juram fidelidade à economia circular e invocam, com frequência quase litúrgica, a palavra “sustentabilidade”. O problema é que, quando se abandona a retórica e se olha para os dados oficiais, a realidade é muito menos verde — e muito mais embaraçosa.
Hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou dados que confirmam aquilo que há muito deveria ser assumido politicamente: Portugal está estruturalmente afastado — a uma distância considerável — do cumprimento das metas ambientais básicas impostas pelas directivas comunitárias, nomeadamente no que respeita à reciclagem de resíduos urbanos e à redução da deposição em aterro.

Comecemos pelos factos oficiais, porque eles dispensam adjectivos excessivos, mesmo antes de destacar valores absurdos e contraditórios que constam em relatórios da Agência Portuguesa do Ambiente.
Em 2024, segundo os dados do INE, a taxa de reciclagem de resíduos urbanos em Portugal fixou-se em 30,3%. Este é um valor ligeiramente superior ao de 2023 (29,0%), mas praticamente idêntico ao registado há uma década. Em 2015, Portugal reciclava cerca de 31,3% dos seus resíduos urbanos. Pelo meio, houve oscilações, recuos e pequenas recuperações, mas nenhuma trajectória estrutural de progresso. A palavra adequada é estagnação.
Ora, a legislação europeia — a Directiva-Quadro dos Resíduos (2008/98/CE), reforçada pelo chamado Pacote da Economia Circular — estabelece metas claras e juridicamente vinculativas: 55% de preparação para reutilização e reciclagem até 2025, subindo para 60% até 2030 e para 65% até 2035.

Comparar estes objectivos com a realidade portuguesa é um exercício simples — e devastador. Considerando os dados do INE, Portugal encontrava-se assim cerca de 25 pontos percentuais abaixo da meta mínima exigida para 2025. Não se trata de um pequeno atraso conjuntural, mas sim de um desvio estrutural profundo, que não pode ser corrigido com campanhas de sensibilização tardias ou anúncios de última hora.
A situação torna-se ainda mais grave quando se cruza este dado com o outro pilar essencial da política europeia de resíduos: a redução drástica da deposição em aterro. A União Europeia definiu como objectivo que, até 2035, no máximo 10% dos resíduos municipais sejam depositados em aterro. Portugal continua, porém, a enviar mais de metade dos seus resíduos urbanos para aterros sanitários. Em termos práticos, significa que o país faz exactamente o contrário do que a política ambiental europeia recomenda: enterra o problema em vez de o resolver.
Do ponto de vista pedagógico, importa explicar por que razão estas metas existem. A reciclagem e a preparação para reutilização não são fetiches ideológicos. São instrumentos centrais para reduzir a extracção de matérias-primas, diminuir as emissões associadas à produção industrial — e, no limite, as emissões de dióxido de carbono —, prolongar os ciclos de vida dos materiais e limitar impactos ambientais cumulativos. Já os aterros, mesmo quando “sanitários”, representam perdas irreversíveis de recursos, riscos ambientais a longo prazo e uma herança tóxica transferida para gerações futuras.

Mas o mais absurdo acaba por ser o facto de os valores agora assumidos oficialmente pelo INE nem sequer estarem de acordo com a informação constante nos dados da Agência Portuguesa do Ambiente, como destaca Rui Berkemeier, técnico da associação ambientalista Zero. Para este especialista em resíduos urbanos, os valores oficiais da reciclagem apontados pelo Ministério do Ambiente são de apenas 14% para reciclagem multimaterial (por recolha selectiva ou processamento em unidades de tratamento mecânico e biológico), 8% para valorização orgânica (restos de alimentos processados em unidades de compostagem) e cerca de 1% de reciclagem na origem (sobretudo através de compostagem doméstica).
Além disso, sublinha ainda Rui Berkemeier, “os aterros sanitários continuam a ser o destino final da maioria dos resíduos”, apesar de o INE apontar para 48,7% em 2024. De facto, atendendo aos dados da Agência Portuguesa do Ambiente, no ano passado cerca de 54% dos resíduos tiveram como destino final os aterros, o que inclui os resíduos despejados directamente ou as “partes remanescentes” dos processos de valorização energética (incineração) e de tratamento mecânico e biológico. Mesmo existindo uma redução de 59% para 54% entre 2023 e 2024, em termos absolutos a diminuição é de apenas 144 mil toneladas, uma vez que a produção total de resíduos urbanos em Portugal aumentou quase 4%, passando de 5,064 milhões de toneladas para 5,267 milhões.

Refira-se que o crescimento económico em Portugal, medido pelo PIB, foi de 1,9% em 2024, o que constitui um sintoma claro de ineficiência estrutural na gestão de resíduos.
Porém, como salienta Rui Berkemeier, mesmo os dados do Ministério do Ambiente merecem cautela, porque os registos disponíveis no respectivo site apresentam incongruências graves, a maior das quais é o somatório dos distintos destinos finais nunca perfazer 100%, conforme confirmou o PÁGINA UM. Em 2020, 2021 e 2022 o total fica nos 98%, em 2023 nos 96% e em 2024 nos 97%. “Um desleixo completo sobre informação relevante”, acusa este especialista no sector dos resíduos, com mais de três décadas de experiência.