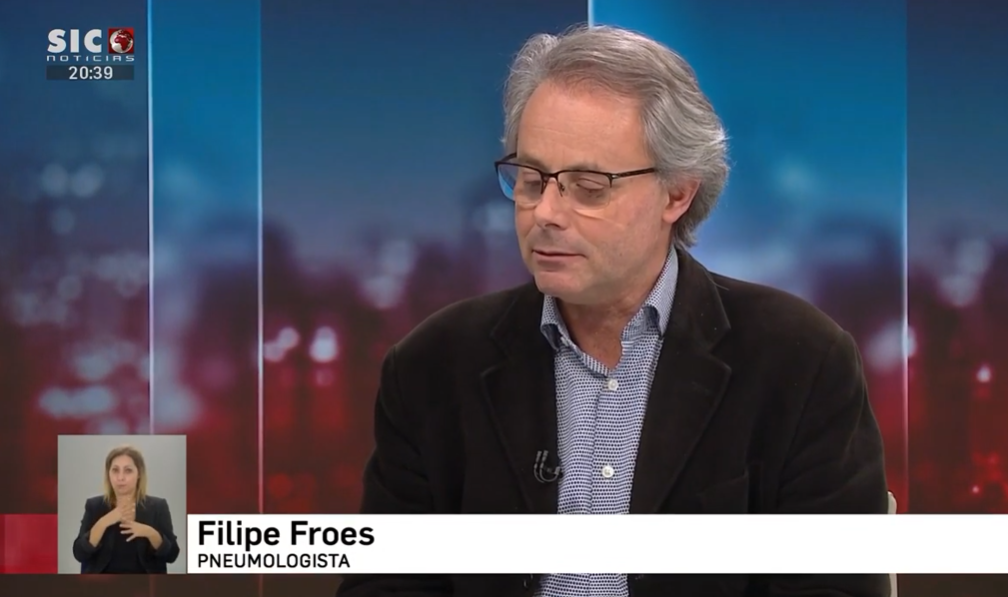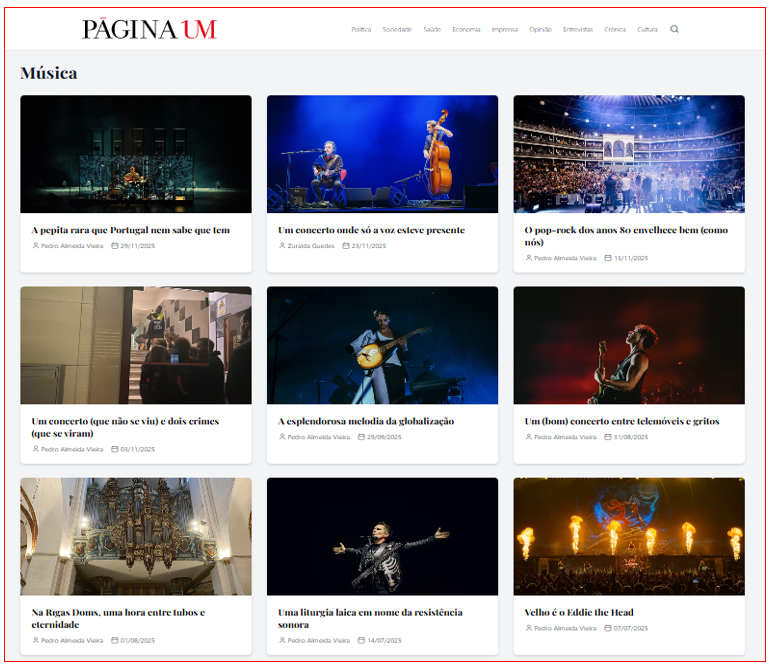Há corporativismos discretos, há corporativismos ruidosos e depois há o corporativismo da Ordem dos Psicólogos, presidida pela doutora Sofia Ramalho, que parece determinada a reeditar, em pleno século XXI, a Casa Verde de Itaguaí. Tal como Simão Bacamarte, acredita que só ela e o seu círculo de devotos compreendem a realidade e definem aquilo que é ciência e método científico e o que é permitido aos comuns mortais pensar.
O artigo que publicou hoje no Expresso é disso prova eloquente: uma defesa audaciosa — e totalmente infundada — do uso do Personality Assessment Inventory (PAI) para seleccionar juízes e procuradores, como se Portugal estivesse prestes a liderar uma revolução psicométrica que nem os países mais experimentais do planeta ousaram tentar.

É revelador que a bastonária não responda ao essencial. Como é possível que um método supostamente rigoroso, aplicado por uma equipa supostamente experiente, tenha produzido tal hecatombe que uma segunda avaliação reverteu nove em cada dez exclusões feitas pela empresa do seu amigo Mauro Paulino — ele próprio membro do Conselho Jurisdicional da Ordem?
O simples enunciado desta pergunta dispensaria qualquer comentário adicional. Mas não: Sofia Ramalho prefere ignorá-la. Não responde porque não pode; não justifica porque não há justificação que resista à matemática; e, para escapar ao fiasco, recorre ao expediente clássico dos fracos argumentadores, desviando a discussão para onde a poeira é mais densa e mais conveniente.
Insiste em dar lições de psicometria a quem não as pediu, como se a incompetência metodológica pudesse ser compensada com uma avalanche de jargão. Segundo a bastonária, o problema não está na grelha de avaliação, nem na escolha dos instrumentos, nem na metodologia aplicada, mas nas “interpretações” dos leigos, da ministra, dos juristas, dos candidatos e — inevitavelmente — do jornalista que ousou perguntar o que não devia. É a velha táctica da autoridade que se substitui à evidência, da condescendência que se sobrepõe ao escrutínio. Se alguém não concorda, é porque não percebe. Um truque tão antigo como medíocre.

Mais grave é a forma como ela tenta deslocar a crítica para um plano emocionalmente confortável, insinuando que o questionamento do uso do PAI equivale a colocar “a Psicologia no banco dos réus”. Nada mais falso. Aquilo que está em causa não é a Psicologia, mas o mau uso de um instrumento específico — um teste desenhado para contextos clínicos e forenses, destinado a avaliar psicopatologias, fronteiras diagnósticas, imputabilidade, risco de reincidência ou adequação parental.
Andei a pesquisar — e não existe, em nenhum país do mundo, um único caso em que o PAI seja utilizado para seleccionar candidatos ao ingresso de escolas de magistrados. E só encontrei um que o aplique a magistrados: no Equador, este teste é aplicado a quem queira ir para a luta anti-corrupção. Deve estar a dar um resultado fantástico, visto que o Equador ocupa a posição 121, entre 180 países, no Índice de Percepção da Corrupção da Transparency International. A Dinamarca, a Finlândia, Singapura, a Nova Zelândia, a Suíça, a Noruega, o Luxemburgo, a Suécia, a Holanda e a Austrália — que estão no top 10 dos países com menor percepção de corrupção — deviam já contratar o doutor Mauro Paulino e a sua ‘advogada’ Sofia Ramalho para melhorarem ainda mais a performance dos magistrados com o PAI.
Além de tudo isto, a bastonária confunde uma racionalização apressada com ciência, numa tentativa desastrada de justificar um erro monumental. E, pior ainda, varre do seu texto, com um silêncio ensurdecedor, o resultado da segunda equipa de psicólogos, igualmente credenciada, igualmente formada, igualmente conhecedora de psicometria — e até escolhida pela própria Ordem dos Psicólogos — que invalidou quase tudo o que fora feito na primeira fase com a empresa do seu amigo Mauro Paulino. Quando 90% das exclusões são revertidas, não estamos perante interpretações “leigas”: estamos perante um falhanço metodológico de proporções épicas, que deveria preocupar qualquer pessoa que, de facto, preze o rigor científico

Ao invés, Sofia Ramalho prefere transformar o desastre numa pirueta retórica. Tudo está errado — menos, claro, o que ela defende. O problema nunca está na primeira avaliação: está, presume-se, na segunda, ou nos candidatos, ou na comunicação social, ou na ministra, ou no CEJ, ou no clima, ou no alinhamento dos astros. A única coisa que não pode estar errada é aquilo que ela decidiu proteger. E para isso corre para o Expresso, porto de abrigo habitual das teses frágeis que precisam de acolhimento acrítico. É uma estratégia antiga: quando o argumento é fraco, procura-se o conforto de uma imprensa que não faz perguntas difíceis. O Expresso, sempre pronto a confundir solenidade com autoridade, dá-lhe o palco. E ela aproveita-se.
O texto da bastonária da Ordem dos Psicólogos é um festival de falácias que Schopenhauer aprovaria sem pestanejar — talvez até lhe dedicasse um capítulo suplementar. Lá estão todas: a falácia da autoridade (“nós é que sabemos”), a falsa equivalência (“há literatura, logo serve para tudo”), a cortina de fumo (“o público não percebe, logo cala-se”) e a infantil crença de que a validade de um instrumento transfere, por osmose, validade para qualquer uso que dele se faça. É como elogiar uma panela de pressão por ser excelente — o que é verdade — e concluir, com a mesma cientificidade, que é perfeita para fazer gelado. Ou sugerir que, porque um bisturi corta bem, pode substituir uma motosserra.
O problema de Sofia Ramalho e de Mauro Paulino não é técnico — é político, ético e epistemológico. Ambos pretendem uma Psicologia sem escrutínio, onde decisões administrativas se escondem atrás de uma fórmula mágica chamada “evidência científica”, mesmo quando os resultados contradizem a própria evidência. Querem uma Psicologia que não tem de explicar nada, que não responde a ninguém, que se irrita quando alguém ousa pedir contas. Mas ciência que não admite perguntas não é ciência: é dogma.

A bastonária Sofia Ramalho exige respeito pela Psicologia. Pois bem: o maior respeito que se pode ter por uma ciência é submetê-la ao debate, aceitar a crítica e corrigir o erro quando ele ocorre. E quando uma equipa erra nove em cada dez avaliações, a única resposta admissível — a única verdadeiramente científica — seria reconhecer o erro, corrigi-lo e garantir que não se repete. Em vez disso, tivemos um exercício de contorcionismo retórico que nem Simão Bacamarte ousaria ensaiar. Ao menos o alienista de Machado tinha coerência — e até uma certa doçura lunática. Na Ordem dos Psicólogos, sobra apenas uma obstinada recusa a admitir o óbvio.
E o óbvio é este: o problema não são os candidatos, não são os jornalistas, não é a ministra, não é o CEJ. O problema é uma avaliação mal concebida, pior aplicada e ainda pior defendida. Se a Psicologia quer credibilidade — institucional, pública e científica — terá de começar pelo princípio básico do método científico: reconhecer que errou.
Até lá, a Casa Verde, ali para os lados da lisboeta Avenida Fontes Pereira de Melo, continua aberta. E, pelos vistos, arrisca lotação esgotada.