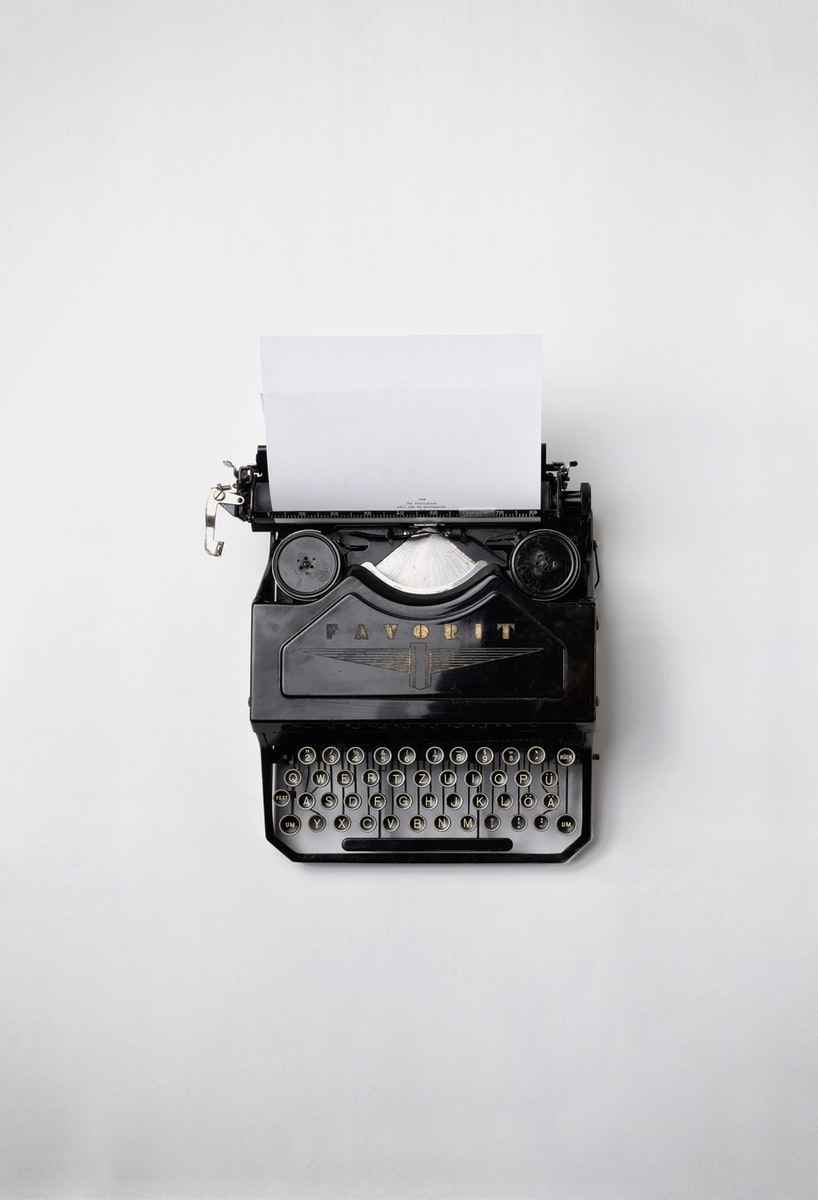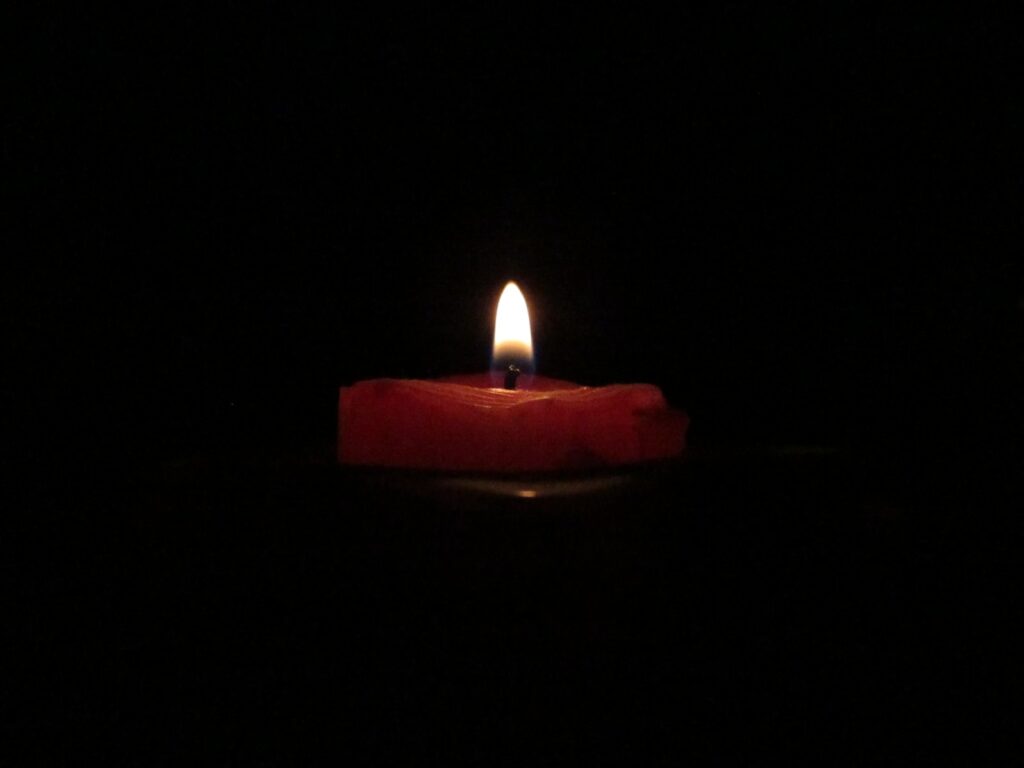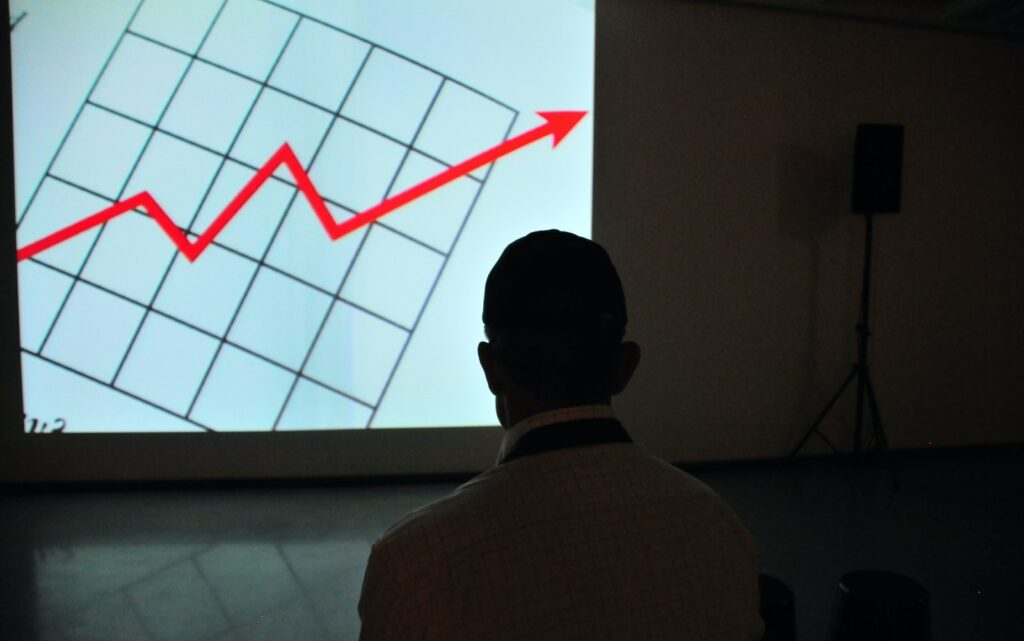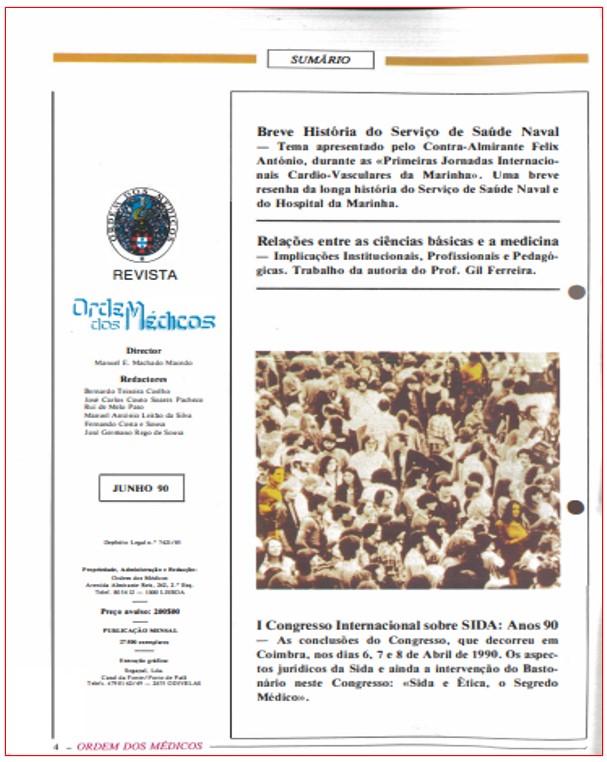Enquanto vou conduzindo para a Suécia (sim, sou um emigrante old school que ainda não se converteu aos aviões), vou pensando nesta coisa dos bluffs políticos.
Não precisamos deles para vender jornais e fazer Alertas CM, mas depois exigimos que o bluff seja mesmo bluff, porque o contrário atrapalha-nos mais a vida.
Confusos? Também eu. Mas vamos aqui pensar em círculo como se estivéssemos numa reunião dos A.A.

Quando Putin disse que a NATO se estava a aproximar do quintal, ninguém quis saber, porque, obviamente, ele não teria coragem de largar uns mísseis. Afinal, a Rússia estava decrépita e refém de uma pequena economia…
Reparem que nesta discussão importa pouco o que é propaganda ou realidade. Até se dá de barato a argumentação utilizada, que todos percebemos ser apenas uma desculpa para um braço-de-ferro entre impérios. Ou vá, um I’m back à disputa do domínio mundial, versão Kremlin.
O que quero para já reter desta conversa é que ele, Putin, avisou que as negociações da Ucrânia com a NATO teriam consequências. E tiveram. Julgo que ao fim de sete meses, milhares de mortos, uma pazada de refugiados e várias taxas de juro depois, podemos todos concluir que aquele lunático não estava a brincar.

Agora, enquanto se prepara um referendo para anexação de partes do Donbass que, já todos vimos, fará parte da narrativa seguinte de “ataques em solo russo” para justificar o uso de armas nucleares, volta a história do bluff.
Ouvi ontem na CNN, RTP e SIC, diversos analistas com uma ideia comum: Putin não terá coragem de despejar uma bomba atómica. Até ouvi, de boca um pouco mais aberta, que, quando muito, faria umas explosões nucleares controladas. Umas cargas mais pequenas, pelo desprezo da descrição, ali umas coisinhas de carnaval sem aquele cheiro a bufa.
Não sou grande jogador de póquer e não arrisco análises sobre intensidades de bluffs, mas fico sempre espantado com a ligeireza com que se julgam as palavras de um gajo que já não tem nada a perder. Ou que, como provam estes sete meses, não é grande jogador de cartas e parece não ter grande vontade para recuar.

Se ele diz que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do Mundo (é factual esta parte, espero não estar a dar uma grande novidade), e que o usará em caso de ataque em território nacional (que daqui a umas semanas terá uma parte do Donbass), porque insistimos nós na conversa do bluff? Ainda não morreu gente suficiente?
Putin disse no seu discurso à Nação que, caso o Ocidente continuasse a fornecer armas à Ucrânia, o conflito tenderia a escalar e passariam ao nível de armamento seguinte. A corja de velho encabeçada por Biden disse logo que, tudo bem, ele que venha que a NATO continuaria a fornecer a Ucrânia. O que se percebe.
O cheiro a churrasco de uma ogiva em Kiev, em princípio, não atrapalha o aroma de um barbecue em Washington e, nesse sentido, Biden até vê com bons olhos pedrada da grossa no Leste europeu. Isso transformado em venda de armas, energia para a Europa ou, até, enfraquecimento do contrapoder russo, é Chopin para os ouvidos do Biden. Mas em piano, note-se, não violino como o Santana Lopes pensava existir…

Li uma crónica com um argumento que me pareceu também fazer sentido. Dizia que não podemos ceder à chantagem do nuclear porque, desde Fevereiro, sempre esteve em cima da mesa e, seguindo esse raciocínio, estaríamos sujeitos a que qualquer potência nuclear invadisse territórios quando bem lhe apetecesse. Concordo, em absoluto. Agora, o Alerta CM aqui é que (rufem os tambores!) já é assim que o Mundo funciona. Estão a ver essa parte?
Quando os Estados Unidos decidem invadir o Afeganistão porque uns sauditas lhes rebentaram dois prédios, fazem-no porque… podem. Quem é que se vai meter em frente daquele arsenal e dizer: “olha, tentem antes o diálogo!”.
Se os israelitas carregados de armas nucleares ocupam territórios há 70 anos é porque, lá está, têm poder bélico para isso.
Se os kosovares arranjaram um país podem agradecer a uma “força de defesa”, por acaso também nuclear, que bombardeou os sérvios (pela paz, eu sei!).

A guerra civil na Síria terminou quando uma potência nuclear entrou no conflito e a outra, que apoiava os rebeldes, achou melhor recuar.
A Líbia derrubou o regime quando um exército mais poderoso invadiu o território sem que ninguém lhe fizesse frente.
O Tibete deixou de ter voto na matéria quando um dos maiores exércitos do Mundo achou que era tempo de anexar.
Os curdos não conseguem definir fronteiras porque ninguém se atreve a confrontar um exército com o poderio do turco.
Ou seja, em resumo, desde o império romano, passando pelo Alexandre o Grande, vikings, os mongóis no século XIII e a armada invencível espanhola, no século XXI ainda é a força que dita leis.

Espero continuar no domínio do banal e não estar a trazer novidades a ninguém. Portanto, quando se diz que não vamos ceder à chantagem do nuclear a minha resposta é, vamos. Vamos pois. Aliás, não temos feito outra coisa ao longo dos séculos. Manda quem a tem maior, neste caso ogiva.
Claro que me poderiam dizer: “ó Tiago, mas o Putin é um imperialista do pior, bem pior do que os outros a que já nos habituámos a obedecer e não podemos deixar passar; há que ficar na miséria e torrar tudo na Ucrânia”. Ora, vam’lá a ver: pessoalmente, o Putin mete-me tanto asco como qualquer parceiro europeu que lhe andou a apertar a mão (ou que ainda apertam dentro da União Europeia, seria engraçado discutirmos isso um dia). E as guerras criadas pelo imperialismo russo prejudicam-me tanto como as guerras financiadas ou criadas pelo império americano.
As tangas que usam para as invasões são essencialmente as mesmas, embora o marketing americano seja melhor. Por exemplo, no Iraque, estivemos ali até à última para saber se apareciam as armas de destruição maciça ou não. Parecia o fim de uma novela na TVI e aquela incerteza de quem casa com quem.

Já o disse várias vezes que se tiver que abdicar da minha vida, pelo menos quero escolher a causa. E se o objectivo é empobrecer e comprometer o futuro de uma geração para libertar outros povos e mostrar solidariedade, então, se não se importam, eu gostaria de começar por quem sofre opressão não há sete meses, mas sim há 70 anos.
Querem os poderes mundiais continuar a combater uma guerra até ao último ucraniano, paga pelo endividamento dos europeus? Muito bem. Suspendam os pagamentos dos créditos bancários e metam as taxas de juro no… ia escrever aquela palavra com duas letras, a primeira um C e a última a quinta vogal do abecedário, mas isto é um jornal de respeito.
Já nos basta a inflação e a perda de salários reais que, como qualquer economista vos dirá em 75 palavras e termos técnicos, corresponde ao empobrecimento geral das populações.
Portanto, se chegamos aqui praticamente de joelhos, sugeria que, quando outro maluco fala em bombas nucleares, façam o favor de não usar metáforas com jogos de casino como se isto fosse lá longe.
Não é. Nem longe e, provavelmente, nem bluff.
Tiago Franco é engenheiro de desenvolvimento na EcarX (Suécia)
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.