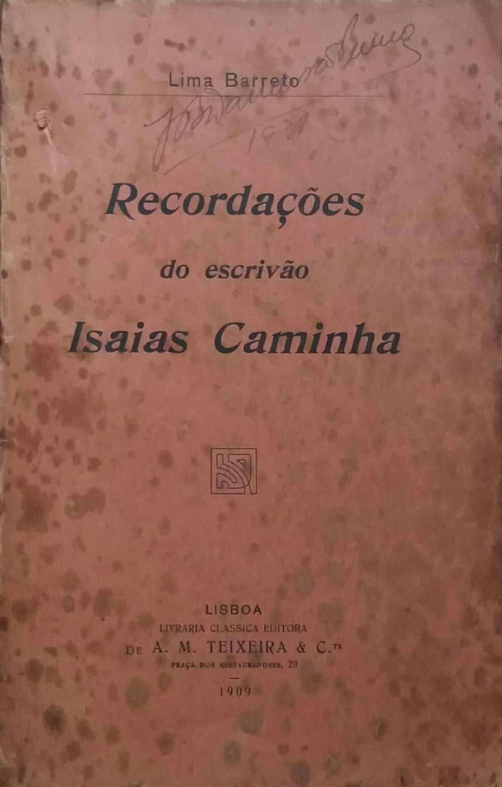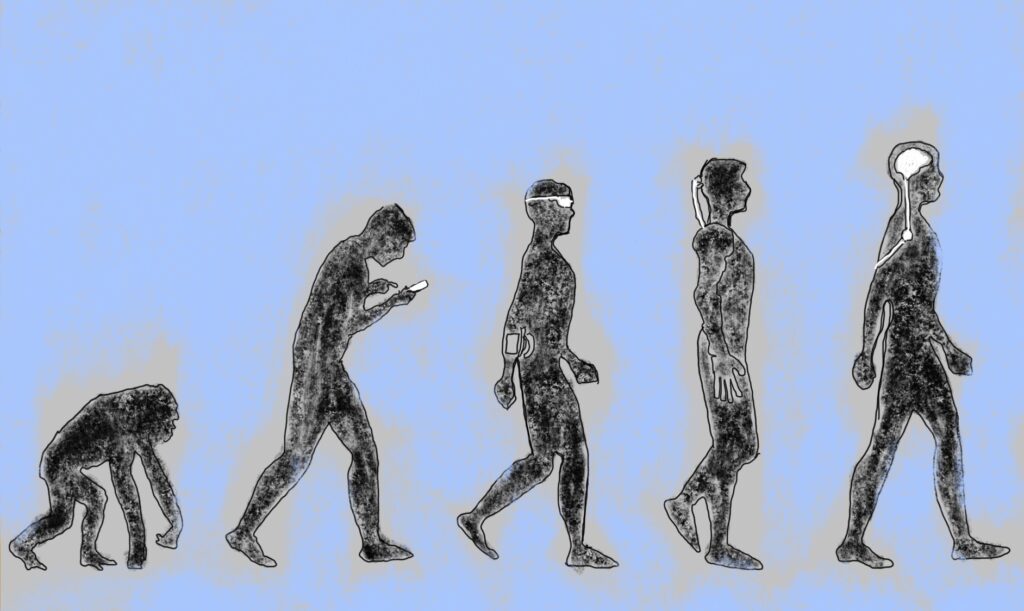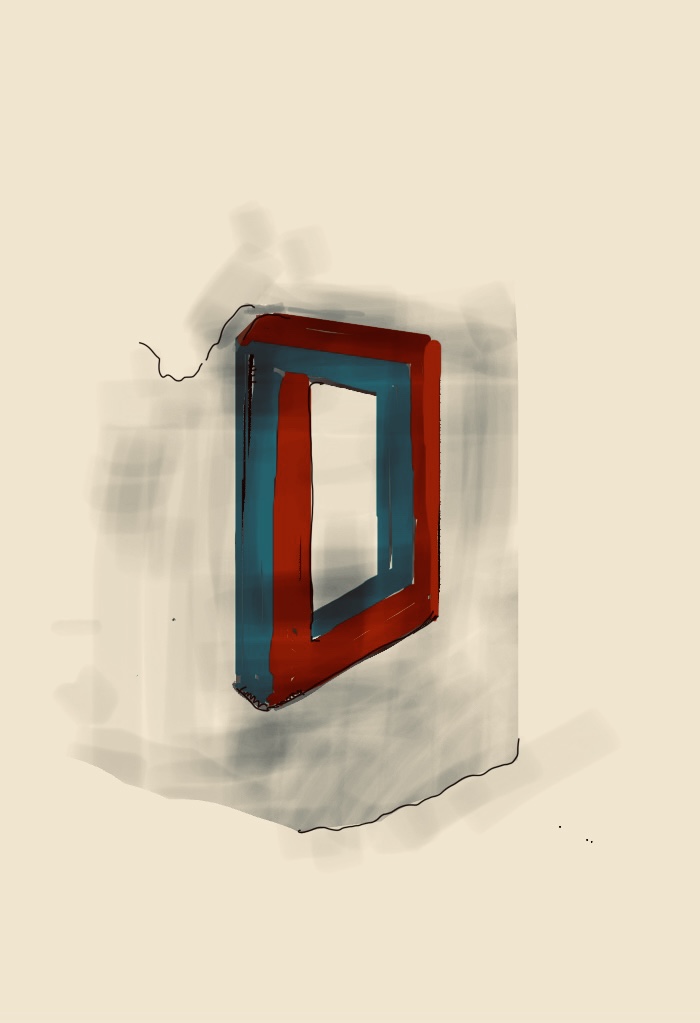Em meados do século XIX, quando os comboios começavam a circular a 40 km à hora e não havia sofás com almofadas de molas, nem móveis com verniz; quando os jovens desiludidos ainda não usavam óculos, e as mulheres filosofavam pouco; nesses tempos ingénuos, a meio caminho entre o paleolítico e a nossa era espacial, em que se entrava para a terceira classe dos caminhos-de-ferro com um farnel cheio de provisões; quando os jornais começavam a saltar das rotativas, e as patentes dos laboratórios para as fábricas; quando as chaminés cuspiam longos rolos de fumo negro e os salões de baile eram iluminados por candelabros de cera, com os móveis dispostos simetricamente; quando ainda se travavam duelos à pistola ou à espada, por uma questão de honra, e se corria para o lado oposto da sala só para apanhar um lenço propositadamente caído; quando as senhoras de sociedade usavam vestidos de saias redonda, cintura de vespa e mangas soltas, e as operárias tinham saias estreitas, cintura larga e mangas arregaçadas; quando as damas com camélias se escondiam da luz do dia e Maxwell punha em equação as leis do eletromagnetismo do amigo e sábio Faraday; nesses tempos longínquos em que os maçons ainda eram quase todos sérios, os judeus só eram perseguidos na Rússia e os católicos estavam suspensos de um papa infalível e se dizia que na Europa havia paz, uma das muitas famílias de apelido Kohn partiu da capital da Boémia, a terra por onde então viviam, para a cidade luz, a fim de prosseguir o grande sonho da integração social.
Nessa época, trabalhava Ferdinand Kürnberger como colunista em Viena e costumava visitar todos os dias uma livraria muito conhecida. Um dia, quando estava no estabelecimento, entrou um jovem que lhe chamou a atenção. Quando ele saiu, Kürnberger perguntou ao livreiro o nome do jovem. “É um violinista conhecido” … “chama-se Connady.” “Connady, mesmo?” repetiu Kürnberger: “- “Não”, respondeu o outro, “na verdade chama-se Kohn.” Poucos dias depois, Kürnberger reparou noutra personalidade interessante. Quando perguntou o nome, o livreiro respondeu-lhe: “Este é o escritor parisiense Paul d’Abrest, mas não é esse o seu nome verdadeiro; é Kohn.” Kürnberger olhou para o amigo, pegou no chapéu e saiu em silêncio, meio a fungar.

Mas as coisas não ficaram por aqui. Apareceu na loja o autor da comédia “As tristezas do jovem Heine”, que na altura causava sensação em Viena, e, tendo ele saído, disse Kürnberger: “O homem chama-se mesmo Mels? Parece-me demasiado elegante para nome de família.” – “Deus me livre”, disse o livreiro, “isso é pseudónimo“; o verdadeiro nome é Kohn.” Desta vez, sentindo que lhe saltava a tampa e convencido de que o amigo estava a troçar, Kürnberger agarrou o chapéu, não só para sair, mas também para nunca mais lá voltar, enquanto resmungava „Será que este acha que toda a gente no mundo se chama Kohn?“ E, no entanto, os três autores existiram, e na realidade tinham esse apelido.
Os judeus da Europa – com exceção de uma escassa centena de famílias aparentadas – tinham vivido até ao século XIX em um mundo criado por eles próprios, sem contato com a história; e os cristãos tinham ajudado a isolá-los dos grandes movimentos históricos, como a Reforma, Renascimento e Iluminismo. Alguns que se emanciparam, tiveram existências solitárias e muitas vezes trágicas, nas margens da vida, depois cuspidos pelas próprias comunidades, como é o caso notório de Maimónides e Espinoza. No início do século XIX, porém, abriram-se os guetos. As famílias judaicas vieram em massa das aldeias para as vilas, das vilas para as cidades e destas para as capitais.
A explosão libertou enormes energias: forças intelectuais e espirituais, que durante quase dois milhares de anos tinham sido treinadas, afiadas, domesticadas e amarradas ao estudo das Escrituras, podiam agora aplicar-se a construir as nações que começavam a despertar. A Inglaterra, pátria-mãe do romantismo, foi a primeira a ser estimulada por grandes movimentos liberais. Depois foi a vez da Alemanha, França, Itália, Polónia, Hungria, Portugal, Espanha, Grécia, e Rússia. Por entre movimentos religiosos, políticos e intelectuais, entre revoluções e contra-revoluções, o êxodo dos guetos colocou grandes valores à disposição dos povos europeus.
Na França, além do caso especial dos Rothschild, os judeus desempenharam um papel significativo na literatura, economia e política desde a segunda república. Um israelita tornou-se o primeiro-ministro da Grã-Bretanha: Disraeli, Lord Beaconsfield, trouxe à Rainha Vitória a coroa da Índia e reforçou o imperialismo britânico. Na monarquia austro-húngara, de Viena, Budapeste e Praga, os israelitas ajudaram a transformar as antigas estruturas feudais em uma sociedade industrial moderna. Uma nova nobreza judaica surgiu e casou-se com famílias da aristocracia cristã, tanto no império austríaco como no Reich alemão, onde o implacável chanceler Bismarck via com bons olhos a união de “garanhões” cristãos com “éguas” judias como meio de procriação de uma classe dinâmica de líderes. É entre esses judeus europeus de educação germânica que passam para França e que ajudaram a criar pontes entre todas as nações da Europa que se encontram os Kohn que agora despertam a nossa atenção.

Jacob Kohn e Sofia Altschul pertenciam à burguesia que habitava nas grandes cidades da Europa ocidental, uns em Praga então parte do Império austríaco, outros em Colónia, do Reino da Prússia, outros em Roterdão e Bruxelas, nos Países Baixos: geriam vários negócios, mas contando entre os antepassados alguns poucos médicos e numerosos rabinos. O trisavó Jacob – chamemos-lhe assim – nascera em 1823 em Chemnitz, pequena cidade perto de Praga, onde casou e onde nasceram a maior parte dos filhos. Ao arribar a França em 1858, obteve no ano seguinte a autorização oficial de residência beneficiando dos direitos civis e adotou o nome de Jacques. Começou a trabalhar como caixa num pequeno banco parisiense e depois passou para a Banque Génèrale de Suisse onde ficou encarregado de negócios, até 1869; nesse ano tornou-se contabilista em chefe da Sociedade Anónima de Refinarias Parisienses.
Dos seus filhos, a mais velha, então com 18 anos, e também de nome Sofia ajudava a mãe a tomar conta dos irmãos mais novos, nascidos entre 1851 e 1855: Friedrich, Louis, Herminie, Léopold, Edmond, Sigismond e Mathilde. Um pouco mais tarde, em 1860, veio Eugénie, talvez assim chamada em homenagem à imperatriz consorte de França, Eugénie de Montijo. Foram viver para o 9º arrondissement, um bairro de urbanização recente no oeste da cidade, onde se estabeleciam com frequência famílias judaicas com posses. Para trás, ficavam as memórias de Praga que o tio Fred narra assim:
“Todos os dias, fizesse chuva ou sol, o Imperador descia das alturas de Hradschin ao tocar o meio-dia nas inúmeras torres sineiras da capital da Boémia. Ao chegar ao Ring, a praça central onde se encontra a Câmara Municipal, uma joia arquitetónica digna de comparação às mais belas Câmaras da Flandres, parava a carruagem conduzida por um cocheiro em grande libré branca, o tricórnio “em batalha” como o dos polícias; o trintanário saltava do assento para abrir a porta e o soberano que abdicara, descia acompanhado por um cavalheiro. Ambos trajavam de forma muito simples: davam duas ou três voltas à praça, e todos saudavam respeitosamente o Imperador, que respondia com muitos chapeladas e, por vezes, apertos de mão. De vez em quando parava à frente de uma loja para contemplar um objeto que desejava. Dava ordens para comprar, mas as suas instruções nem sempre eram seguidas, pois se sabia que uma hora depois já nem se lembrava da compra. Por vezes, interrompia a sua caminhada para ver as crianças que saiam das escolas.

Estas – e eu estava lá entre elas – conheciam o bom Imperador, e se evoco esta memória, é porque a minha imaginação infantil ficou muitíssimo impressionada com o contraste que se me ofereceu ao chegar a Paris em 1858. Vi então, um dia, o imperador Napoleão III a dirigir-se para o Bois de Boulogne a galope no seu landau atrelado à Daumont, seguido e precedido por um destacamento de lanceiros. Na semana anterior, tinha visto o imperador Fernando caminhando no Ring de Praga com as mãos atrás das costas, sem qualquer comitiva, sem guardas nem soldados.”
Os dois irmãos mais velhos – Friedrich e Louis – foram estudar para o liceu Condorcet, que na época se chamava Liceu Imperial Bonaparte. Era uma escola de excelência, uma das quatro mais antigas de Paris, localizada na rue de Havre, entre a estação de Saint-Lazare e o Boulevard Haussmann. Como escola não confessional tinha uma pedagogia relativamente aberta e liberal e contava com alunos israelitas e protestantes, fortemente pró-republicanos. Ao longo da história, o liceu alterou 11 vezes de nome, refletindo as mudanças de regime. A última vez foi em Maio de 68, em que adotou efémero nome de Karl Marx, até os estudantes descobrirem que o marquês de Condorcet também fora revolucionário! Nele estudaram Henri Bergson, Georges Mandel, Marcel Proust, Claude Lévi-Strauss, Raymond Aron, Jean Paul Sartre, André Citroën, Marcel Dassault e mais dezenas de khâgneux de reputação mundial. Na verdade, toda a França estudou aqui, como numa universidade, incluindo os que reprovaram uma vez, como Proust, o que lhe deu a oportunidade de receber aulas de literatura do estimado professor Desjardins.
Fossem alunos mais mundanos, ou mais doutos, o que dava ao liceu Condorcet a sua fisionomia única era a mistura muito parisiense de seriedade precoce e graça leve, de disciplina indulgente e rebeldia inofensiva, de ardor pelo estudo e gosto pelo prazer. Entre os alunos, o jovem Frédéric já mostrava ser uma mente brilhante aos dez anos, o que sem dúvida representava também um risco, como diz o seu amigo Jules Claretie, jornalista e escritor que veio a ser diretor da Opéra de Paris: “Vi, em Genebra, um pequeno prodígio de uma espécie especial. Não era o pequeno compositor prodígio, era o pequeno orador prodígio. Tinha dez anos, e alguém fê-lo subir para uma mesa e ele ali perorou, como uma espécie de Pico de Mirandola da política, sobre todos os assuntos, sem ter ajudas. Confiou-nos, por exemplo, e sem vacilar, a sua teoria pessoal sobre os impostos. Era muito inteligente. O curioso é que este orador de dez anos tornou-se, aos trinta, um jornalista talentoso, um verdadeiro estudioso, o Sr. Kohn-Abrest. Fala menos e escreve melhor. Geralmente as pequenas maravilhas, como árvores que florescem demasiado cedo, não dão fruto assim.“
Os assuntos do planeta giravam na época em torno da Europa, a Europa girava em torno da França e da Alemanha, e estas duas nações giravam em torno de Bismarck e Napoleão III; ambos tinham emergido após as revoluções de 1848. Esse ano foi a grande cicatriz com que o século XIX se apresenta na história. Em Frankfurt reunira-se um Parlamento como jamais se assistira, com mais de cem professores e duzentos juristas, escritores, sacerdotes, médicos, burgomestres, altos funcionários, banqueiros, donos de fábricas, proprietários rurais, e alguns rendeiros, mas nenhum artesão nem operário, começaram as revoltas que derrubaram os dirigentes da Santa Aliança. Havia muito idealismo nesses homens que adotaram a bandeira negra, vermelha e dourada mas que não tinham consciência das possibilidades da revolução industrial e enchiam a boca com palavras altissonantes e a cabeça com quimeras. Alguns milhares de belos discursos e alguns milhares de mortos foram a colheita de um ano de revolução em Viena, Paris, e na Alemanha e Itália que despertavam como nações; e foi também o ano do espectro que pairava sobre a Europa. E contudo, dessas grandes expectativas ficou uma enorme desilusão, a vergonha dos vencidos e o escárnio dos vencedores. As nossas fronteiras proclamou Bismarck, “não devem ser melhoradas através de discursos e decisões da maioria — o grande erro de 1848 e 1849 — mas com ferro e sangue.“

A primavera dos povos deixou muita amargura no ar e dois homens da ordem tomaram as rédeas do poder. De um lado, Bismarck. “O príncipe é como um enorme bloco de granito assente em um prado; se o deslocarmos, encontramos por baixo minhocas e raízes secas, mais do que qualquer outra coisa“, escreverá Guilherme II. O príncipe desprezava a maior parte dos oficiais profissionais, embora lhe agradasse usar o uniforme de general das milícias. É sobretudo um antigo guerreiro germânico, como os heróis das óperas de Wagner, que trava com paixão as suas guerras privadas, seja contra inimigos internos ou estrangeiros. Tanto combate os orgulhosos companheiros da classe nobre que se lhe opõem, e os príncipes adversários austríacos; como persegue ferozmente as organizações de trabalhadores alemães, a que chama o “quarto estado” com a mesma paixão e crueldade com que os nobres medievais faziam a caça ao homem. Os seus inimigos de ontem podem ser os aliados de amanhã; durante trinta anos à frente da Prússia e da Alemanha, foi dos primeiros a criar sistemas de segurança social e tinha entendimentos com Ferdinand Lassalle, o fundador da social-democracia alemã.
Tinha consciência que levava dentro de si um “demónio teutónico” que adorava o raio e o trovão. Há neste príncipe da era industrial algo do arcaico e das antigas raízes pagãs; acredita no poder benéfico das árvores, dos bosques, e dos animais, sobretudo os cavalos. A posse da terra, a aquisição de território desperta-lhe uma paixão irreprimível; era a herança brutal dos colonizadores prussianos do leste, que se apegam com tenacidade às terras conquistadas pelos antepassados, o que muito distingue as gentes do outro lado do Elba dos germânicos ocidentais que, como Heinrich Heine, conhecem o verdadeiro ouro do Reno.
Do lado da França, está “Napoleão o pequeno”, como o designou Vítor Hugo num panfleto famoso. Imperador que aprecia os plebiscitos, mas também carbonário que combateu pelo despertar da Itália. Não se sabe ao certo se era filho de Luís Bonaparte, rei da Holanda; mas a sua amada mãe Hortênsia de Beauharnais, irmã da imperatriz Joséphine, incutiu-lhe uma veneração sem limites pelo tio Napoleão. Fascinado pelo efeito mágico desse nome, o jovem foi capaz de o usar para conduzir milhões de franceses amedrontados pela revolução de 1848, a elegerem-no Presidente e facilitarem-lhe o golpe de estado de dezembro de 1851, com que se tornou imperador.
Formado nas escolas da Alemanha, nos treinos militares na Suíça e iniciando a carreira política como jovem carbonário em Itália, até 1848 é apenas um proscrito da França. Apesar do seu nome mágico, falha em 1836 um putsch em Estrasburgo e em 1840 um golpe em Bolonha. Condenado a cadeia perpétua, exila-se em Londres, onde se relaciona com poetas e artistas, e apresenta-se em festas, mascarado de Guilherme de Orange; uma mania germânica do século XIX, de personalidades como Luís da Baviera, Wagner e Nietzsche e do imperador Guilherme II que se disfarçava de pastor protestante e fazia sermões; foi usando disfarces que Napoleão III fugiu da prisão para se entregar à sua missão. Ao contrário dos puros aventureiros, tinha um sentido de responsabilidade com que foi evitando as grandes catástrofes. Mas a sua hora aproximava-se. Paris tornara-se um turbilhão de danças em torno do velo de ouro, uma realidade que Offenbach descreve nas suas operetas, um estranho império que Victor Hugo increpa com a sua pena e que o próprio imperador assim descreve em 1865: “O meu governo não vai por um bom caminho; e como poderia ser de outro modo, se a imperatriz é legitimista, Morny é orléanista e eu sou republicano? Bonapartista, só mesmo o Persigny; e esse está louco.

Nessa Europa da década de 1860 os regimes evoluem e as fronteiras políticas mudam. À margem das convulsões geopolíticas e da questão candente das nacionalidades, emerge o jovem estado federal suíço – fruto das revoluções de 1848. A vida cultural do país, na intersecção das áreas de língua francesa e alemã, e ainda italiana e romanche, pertence tinha escala europeia. Genebra era “o quinto contente”, dissera Tayllerand, um observatório ideal, um caso aparte. E nada mais natural que este cosmopolitismo atraísse o tio Fred, cada vez mais versado nas paixões políticas da sua pátria adotiva e à procura do seu pequeno lugar no grande drama da história. Sucedera que o velho deputado da extrema-esquerda Glais-Bizoin, (n. 1800) de Saint-Brieuc, um opositor dos Bourbons que se distinguia no parlamento menos pelos discursos do que pelas interrupções, vira proibida a representação de uma sua peça.
“Vi-o e ouvi-o em Genebra, em 1866, quando os genebrinos ofereceram um banquete ao Sr. Glais-Bizoin, que ia protestar, perto do lago Genebra, contra a censura que proibia uma das suas comédias em Paris. Rigor estupidamente inútil: se a peça La vraie courage tivesse sido autorizada, nada teria mudado em França; não haveria nem mais um dramaturgo. Mas este bretão Glais-Bizoin, resoluto e militante, quis protestar contra a arbitrariedade. Fez com que a comédia proscrita em Saint-Brieuc e Paris fosse apresentada na Suíça; e à sobremesa, um distinto jovem, que era precisamente o Sr. Frédéric Kohn, fez-lhe um brinde eloquente.(…)”
[CONTINUA]
PÁGINA UM – O jornalismo independente (só) depende dos leitores.
Nascemos em Dezembro de 2021. Acreditamos que a qualidade e independência são valores reconhecidos pelos leitores. Fazemos jornalismo sem medos nem concessões. Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não temos publicidade. Não temos dívidas. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro. Apoie AQUI, de forma regular ou pontual.
APOIOS PONTUAIS
IBAN: PT50 0018 0003 5564 8737 0201 1
MBWAY: 961696930 ou 935600604
FUNDO JURÍDICO: https://www.mightycause.com/story/90n0ff
BTC (BITCOIN): bc1q63l9vjurzsdng28fz6cpk85fp6mqtd65pumwua
Em caso de dúvida ou para informações, escreva para subscritores@paginaum.pt ou geral@paginaum.pt.
Caso seja uma empresa e pretende conceder um donativo (máximo 500 euros por semestre), contacte subscritores@paginaum.pt, após a leitura do Código de Princípios.