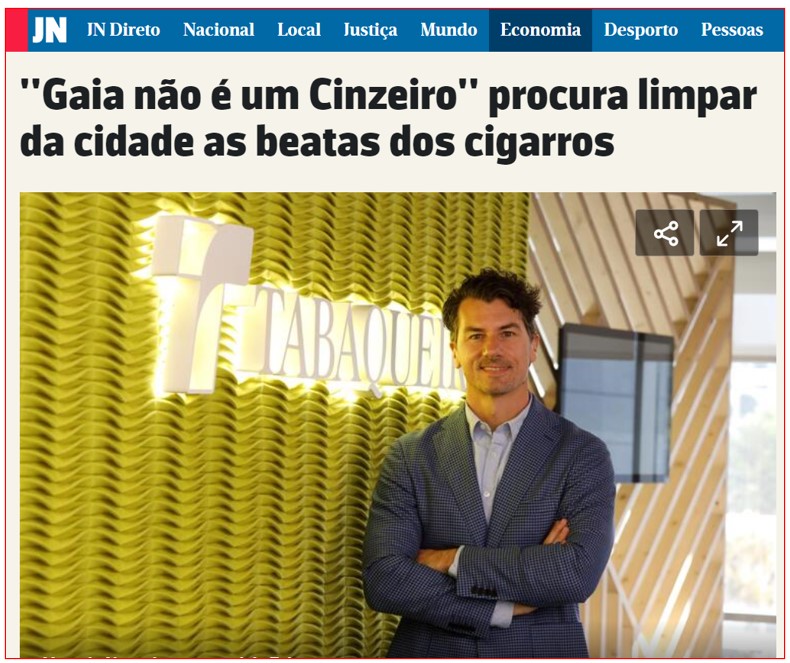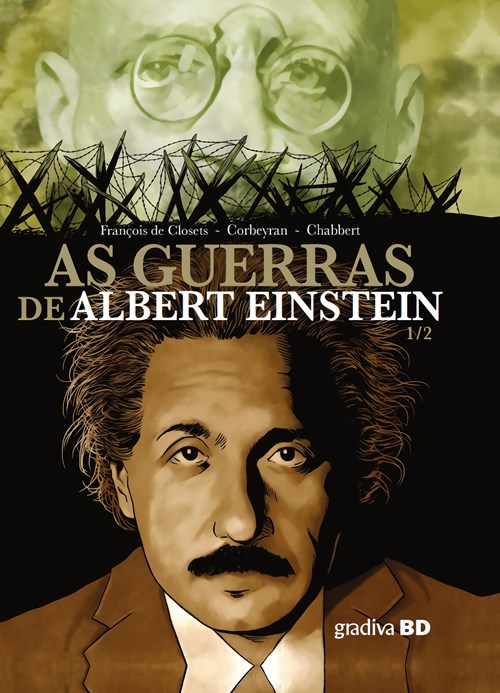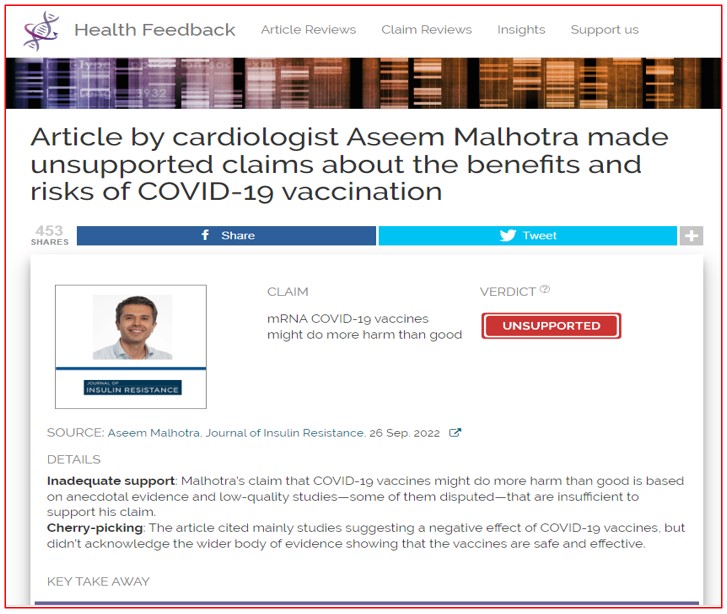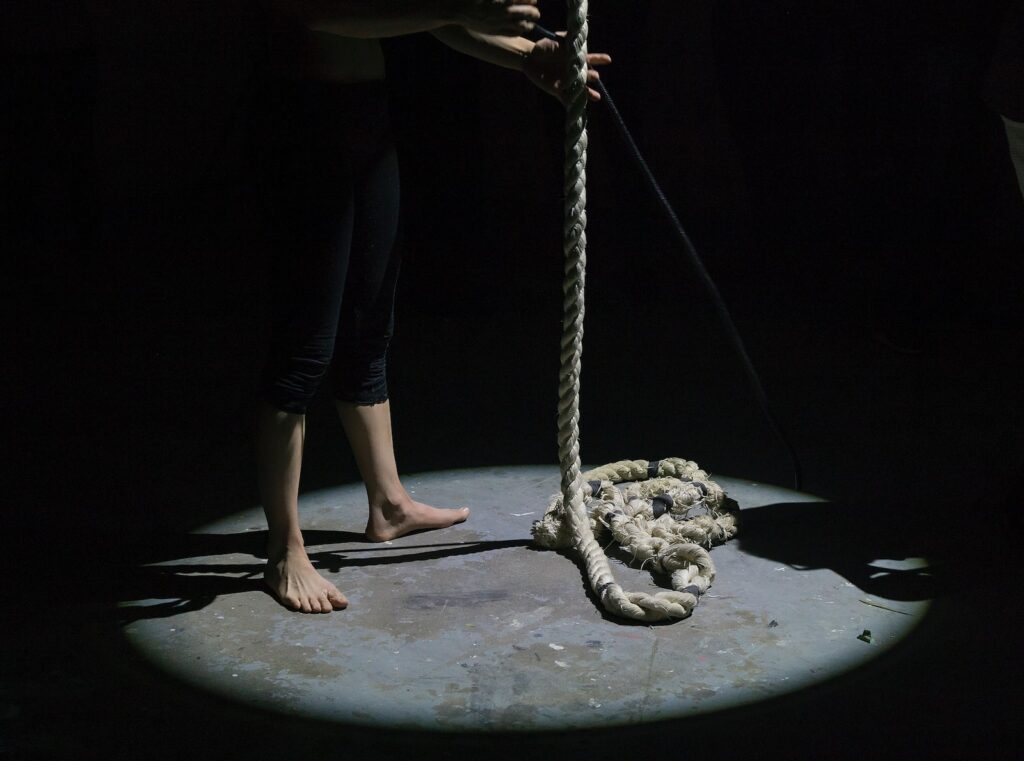Durante meses, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) recusou ao PÁGINA UM facultar as actas das reuniões da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, formada por peritos independentes, que determinaram as normas para a inoculação, incluindo em crianças e adolescentes, onde não terá existido unanimidade. O Tribunal Administrativo de Lisboa intimou agora a DGS a entregar ao PÁGINA UM essa actas, mas a entidade dirigida por Graça Freitas, vem agora dizer que nunca foram feitas. Mas adianta que as vai fazer a partir de agora. Sonegação ou apenas ilegalidade, eis a questão que se coloca. Nenhum membro da CTVC quis esclarecer o PÁGINA UM sobre se houve actas ou como eram, afinal, elaborados e aprovados os polémicos pareceres.
O Tribunal Administrativo de Lisboa intimou o Ministério da Saúde a entregar ao PÁGINA UM as actas das reuniões da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC), mas a Direcção-Geral da Saúde diz agora que “não existem actas das reuniões”.
Ao longo dos meses em que o PÁGINA UM solicitou a consulta a essa documentação, o gabinete de Graça Freitas nunca confessou que a CTVC – a comissão consultiva criada por despacho de 4 Novembro de 2020, e posteriormente alterado em Julho e em Dezembro do ano passado – não se reunia nem funcionava de acordo com a lei. Nem a DGS admitiu tal situação no decurso de uma queixa junto da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) nem durante o processo judicial que correu no Tribunal Administrativo de Lisboa, cuja sentença foi concluída em 30 de Setembro passado.

Na verdade, Graça Freitas até admitia mais do que implicitamente a existência dessas actas quando em meados de Março passado o PÁGINA UM consultara os pareceres da CTVC nas instalações da DGS, após um parecer da CADA.
Na missiva enviada pela jurista Isabel Alves Pires salientava-se que “por despacho da Senhora Diretora-Geral da Saúde, datado de 18 de Março de 2022, foi solicitada apreciação jurídica sobre as duas questões requeridas” pelo PÁGINA UM, a saber: a identificação dos membros que votaram contra e se abstiveram face ao parecer (homologado em 28/07/2021) relativo à vacinação contra a covid-19 em adolescentes, e o mesmo em relação ao parecer sobre a mesma matéria, homologado em 8 de Agosto de 2021.
Esse parecer nunca foi comunicado ao PÁGINA UM, razão pela qual o PÁGINA UM apresentou o caso ao Tribunal Administrativo de Lisboa. Mesmo no âmbito do processo judicial no Tribunal Administrativo, que se iniciou em 27 de Maio, a DGS alegou que não havia actas.
Admitindo agora que afinal nunca foram exaradas quaisquer actas da CTVC, fica em causa a própria legalidade daqueles pareceres que apenas contêm a assinatura de Valter Fonseca, então director do Departamento de Qualidade da Saúde na DGS, e a homologação de Graça Freitas. E nem sequer se consegue conhecer a identidade dos membros da CTVC que, em alguns pareceres, votaram contra nem quais as justificações para esse sentido de voto.
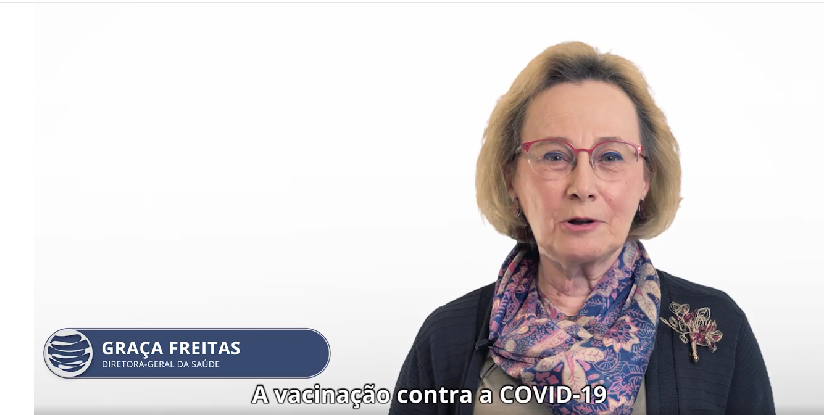
Recorde-se que, no âmbito da estratégia do combate à pandemia, a DGS justificou a implementação do programa de vacinação em adolescentes, no Verão de 2021, com base em dois pareceres polémicos que mereceram mesmo a não concordância de cinco dos membros da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC). Esta situação foi inédita em todos os outros 21 pareceres.
Na totalidade dos 23 pareceres feitos até ao primeiro trimestre deste ano, apenas outros dois não mereceram unanimidade, mas apenas por um dos membros, cada: o primeiro, referente à vacinação de maiores de 80 anos; o segundo, sobre a co-administração das vacinas contra a covid-19 e a gripe.
Destaque-se que as discordâncias nos dois pareceres sobre vacinação de adolescentes, datados em 28 de Julho e em 8 de Agosto do ano passado, foram sempre omitidas pela DGS. Relembre-se que todos os membros, com funções consultivas e publicamente pró-vacinas, foram escolhidos a dedo pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas. O conteúdo destes pareceres nunca constaram da informação então dada aos pais em 2021 com vista ao consentimento informado. Ou seja, os pareceres foram “vendidos” à opinião pública como se houvesse consenso entre peritos. Nunca houve.

Além da questão da transparência em matéria de grande sensibilidade pública, a ilegalidade cometida pela DGS com a inexistência de actas da CTVC fica patente pela simples leitura do Código do Procedimento Administrativo, que determina que os organismos da Administração Pública, incluindo comissões consultivas ad hoc, devem lavrar em cada reunião uma acta que “contém um resumo de tudo o que nela tenha ocorrido e seja relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade das deliberações tomadas, designadamente a data e o local da reunião, a ordem do dia, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respetivas votações e as decisões do presidente.“
O diploma prevê que essas actas sejam “ submetidas à aprovação dos membros no final da respetiva reunião ou no início da reunião seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelo presidente e pelo secretário”, acrescentando ainda que “o conjunto das atas é autuado e paginado de modo a facilitar a sucessiva inclusão das novas atas e a impedir o seu extravio.” E conclui, por fim, que “as deliberações dos órgãos colegiais só se tornam eficazes depois de aprovadas as respetivas atas ou depois de assinadas as minutas e a eficácia das deliberações constantes da minuta cessa se a ata da mesma reunião não as reproduzir.”
Por esses motivos, Paulo Morais, presidente da Frente Cívica, diz que “a CTVC não pode deixar de apresentar as actas das reuniões que fez”, acrescentando ter a obrigação de “dar conhecimento ao público das deliberações que tomou.” Para este professor universitário e antigo candidato à Presidência da República, estamos perante uma de duas situações. “ou a DGS está a sonegar informação, o que é inaceitável; ou então é porque nunca houve reuniões.”. “Ora, num estado democrático é inaceitável que se esteja a sonegar informação”, conclui.
A eventualidade de se estar perante a sonegação de actas com matérias sensíveis – por revelarem detalhes sobre algumas polémicas decisões, que poderiam até ter consequências legais e penais futuras para os seus membros – é, na verdade, uma das hipóteses.
Ainda hoje, a DGS comunicou ao Tribunal Administrativo de Lisboa que afinal não existem actas, e por isso não as disponibiliza ao PÁGINA UM, mas sabendo da ilegalidade deste procedimento, acaba de informar a juíza do processo “que, com a não prorrogação do estado de alerta em 30-09-2022, será assegurada e garantida a produção das atas das reuniões ocorridas após esta data.”

Saliente-se que os diplomas do estado de emergência e do estado de alerta nunca estabeleceram que organismos públicos ou comissões consultivas estivessem isentos de elaborar actas para ficarem expressas as suas decisões. Ou seja, se nunca houve actas – e vai passar a haver a partir deste mês, como afirma agora a DGS –, então o organismo liderado por Graça Freitas assume que, pelo menos, teve uma comissão com a relevância política, pública e mediática (a CTVC) a funcionar completamente à margem da lei.
O PÁGINA UM enviou questões à quase totalidade dos membros da CTVC, questionando-se se confirmavam a inexistência de actas e se tinham mesmo votados os pareceres em reuniões. Contudo, Manuel Carmo-Gomes, Ana Correia, António Sarmento, Fernando Rodrigues, João Pedro Rocha, Luís Graça, Luísa Rocha Vaz, Raquel Guiomar Moreira e Válter Fonseca – este presidente da CTVC – não responderam. Ou seja, oito membros da CTVC não estabeleceram se a DGS diz a verdade ou mente.
O Ministério da Saúde também não deu esclarecimentos sobre esta matéria.
N.D. O PÁGINA UM considera lamentável e intolerável esta postura da Direcção-Geral da Saúde em matéria de tamanha sensibilidade e gravidade. Tomaremos as diligências no sentido de as autoridades judiciais apurarem se houve uma ilegalidade – ausência de actas – ou um acto criminal – sonegação de informação.