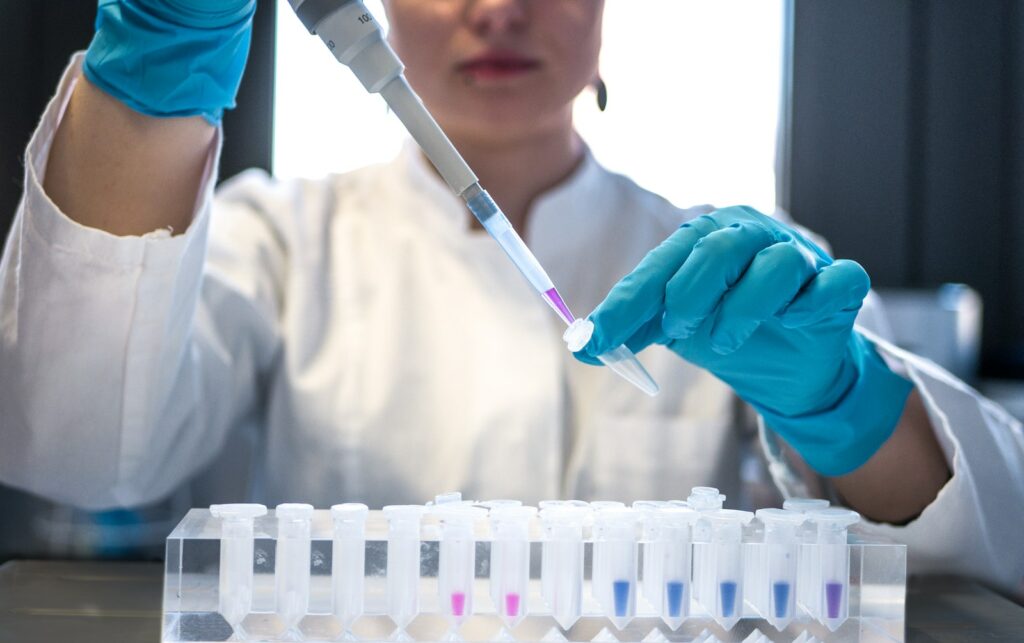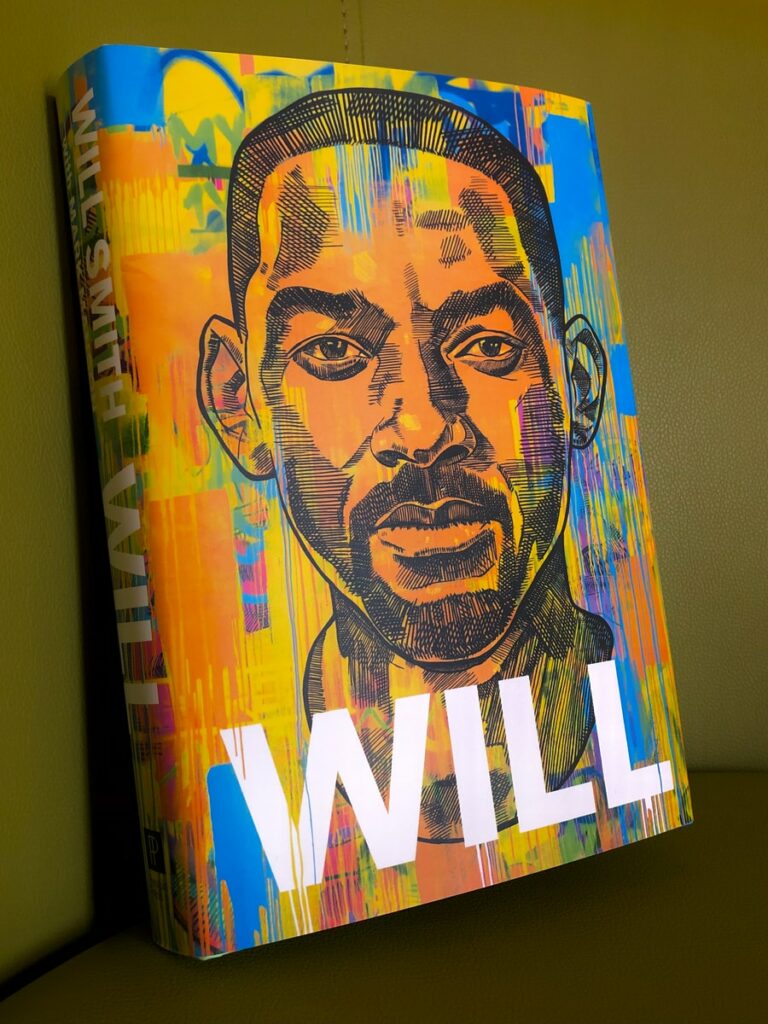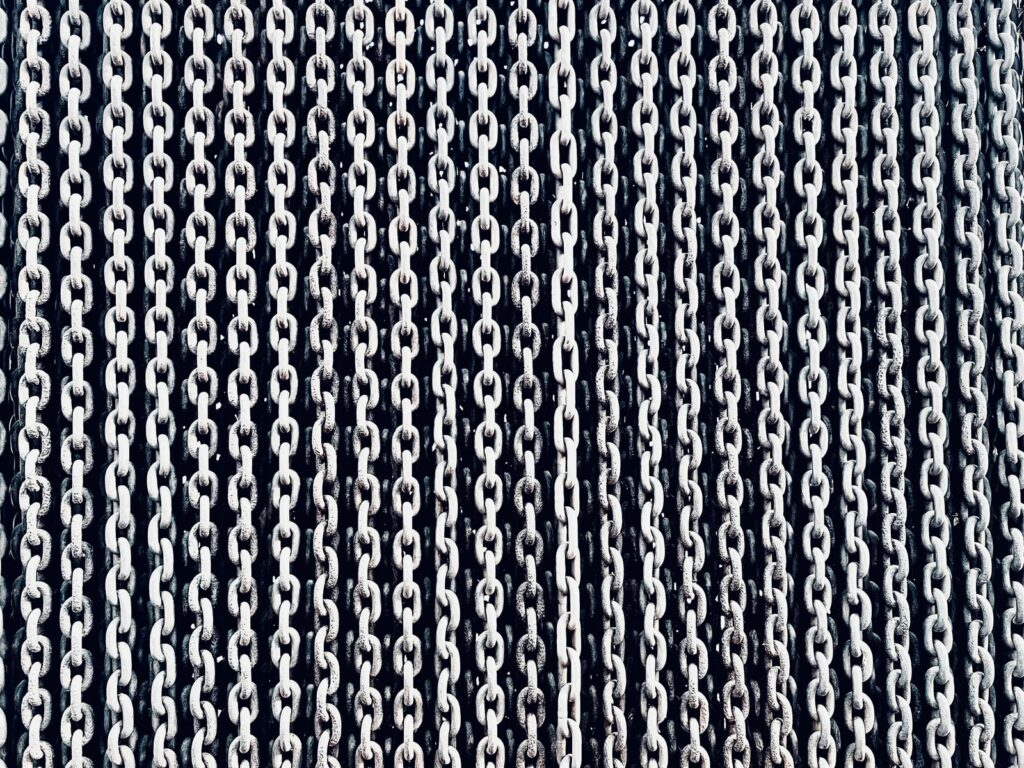No livro do Lewis Carrol, Alice no país das maravilhas, a Lebre de Março disse à Alice “Toma mais chá!”, num tom muito sério. “Ainda não tomei nenhum,” respondeu Alice em tom ofendido, “portanto não posso tomar mais.” “Não podes tomar menos, queres tu dizer,” disse o Chapeleiro, “é muito fácil tomar mais do que nada.”
Desde pequena que o meu feriado preferido é o 25 de Abril! O meu pai é professor de História, e todos os anos, solenemente, assistia-se lá em casa ao Capitães de Abril, realizado pela Maria de Medeiros.
Assim, cedo me apercebi da importância histórica da revolução de 25 de Abril que depôs o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, e que lançou as bases para a implantação de um regime democrático.
Desde que me lembro de ser, celebro o 25 de Abril como sinónimo de liberdade, e ainda o continuo a fazer, embora o peso da idade, das experiências vividas e observadas, me tenha trazido também o sustentável peso de se ser mulher, e de todas as limitações à liberdade que, embora em democracia, nos continuam a ser impostas.

Por isso, tal como a Alice, do “chá” da democracia, creio ter bebido ainda muito pouco ou nada. Não obstante, no dia 24 de Março de 2022, assinalou-se o facto de vivermos há mais tempo em democracia, 17500 dias, do que vivemos em ditadura, 17499 dias.
Começo assim esta crónica com uma pergunta provocatória: Caras companheiras de resistência, quando chegará o dia em que celebraremos o facto de TODAS vivermos, de facto, em democracia?
Ou por outras palavras, quando é que chegará o dia de celebrarmos todos (mulheres incluídas) o reconhecimento da dignidade humana, da liberdade de pensamento e expressão, da igualdade de direitos e deveres, da limitação e controle do poder, valores supostamente promovidos pelo regime democrático?
Disse também a Lebre de Março à Alice num tom encorajador: “Toma um pouco de vinho”, ao que a Alice respondeu: “Eu não vejo nenhum vinho”. “Não há nenhum”, disse a Lebre de Março. “Então não foi muito educado da tua parte oferecê-lo”, comentou a Alice, com raiva.
Parece-me, caras companheiras de resistência, que tal como aconteceu com a Alice, também a nós nos foi oferecido algo que nunca existiu: liberdade para todos, a ideia da democracia enquanto a única forma de governo que respeita plenamente a dignidade humana e permite aos seus cidadãos desenvolver ao máximo as suas potencialidades.
O 25 de Abril de 1974 aconteceu para todos, mas só aos cidadãos do sexo masculino lhes é permitido gozar das bem-aventuranças por tal acontecimento proclamadas. Por isso mesmo, caras companheiras de resistência, tal como a Alice, sintam-se no direito de sentir raiva! E já que aqui estamos, e o Mundo, tal como nos é permitido experienciar, não vai a lado nenhum, sintamo-nos também no dever de fazer algo para que possamos não só celebrar a liberdade, mas fazer parte dela também.

Há um velho ditado popular que diz: “A ignorância é uma bênção”. Já eu acredito mais na máxima de Francis Bacon de que o “conhecimento é poder”.
Assim, sendo a nossa democracia fundamentalmente patriarcal e machista, e atravessando a Humanidade um período bizarro em que há mulheres que garantem não serem feministas, disponibilizo aqui as já costumeiras definições do Priberam para esclarecer conceitos que me parece essencial não ficarem esquecidos ou serem deturpados:
Patriarcado é o tipo de organização social em que a autoridade é exercida por homens;
Machismo é o comportamento ou linha de pensamento segundo a qual o homem domina socialmente a mulher e lhe nega os mesmos direitos e prerrogativas;
Feminismo, o movimento ideológico que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem.
Para comprovar o argumento da democracia patriarcal e machista em que vivemos poderia socorrer-me de vários exemplos, mas vou concentrar-me apenas em um para ser clara, objetiva, e concisa, em mais uma de muitas tentativas de fugir ao estereótipo de que nós, mulheres, somos todas malucas.
Segundo a avaliação do Comité Europeu dos Direitos Sociais, tendo por base a Carta Social Europeia, à exceção da Suécia, todos os restantes 14 países europeus signatários – Portugal, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega e Eslovénia – estão em incumprimento das disposições adotadas para a implementação da igualdade de género em termos salariais.
Num documento divulgado a 13 de Março do ano corrente, o mesmo Comité afirma que “a disparidade salarial entre os sexos é inaceitável nas sociedades modernas, mas continua a ser um dos principais obstáculos para alcançar a igualdade real”, e apela a que os governos europeus intensifiquem esforços “com urgência” para garantirem a igualdade de oportunidades no local de trabalho.

Acrescenta ainda o mesmo Comité que, apesar dos 15 países signatários da Carta Social Europeia terem “legislação satisfatória”,isto é, “acordos de cotas e outras medidas”, continuam a ser registadas “várias violações” ao pleno estabelecimento de uma igualdade salarial entre homens e mulheres, e “as mulheres também continuam sub-representadas nos cargos de tomada de decisão nas empresas privadas.”
A Carta estabelece que o direito à igualdade de remuneração salarial entre os sexos deve ser garantido por lei pelos estados subscritores. Portugal assinou a Carta em 1996, e iniciou a sua vigência em Julho de 2002.
Contudo, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Pordata, em Portugal, no ano de 2020 registou-se um fosso salarial entre homens e mulheres de 11, 4%, superior ao verificado em 2019, de 10,9%.
Tal valor traduz-se numa perda de 51 dias de trabalho remunerado para as mulheres, que é o equivalente a dizer que, em 2020, as mulheres trabalharam pro bono 51 dias.
Mas para o bem público de quem? É que de acordo com relatório anual “Portugal, Balanço Social 2021. Um retrato do país e de um ano de pandemia”, elaborado pela Nova SBE Economics for Policy, na taxa de risco de pobreza, as mulheres são as que saem mais penalizadas, argumento comprovado pelo risco acrescido de 2,5 pontos percentuais de 2019 para 2020 durante a pandemia de COVID-19, no sexo feminino face ao masculino.
Caras companheiras de resistência, deixemo-nos então enraivecer, pois!
E com níveis mais altos de escolaridade, como demonstra o relatório “Education at a Glance 2021”, onde pode ler-se que “em 2020, as mulheres entre os 25 e os 34 anos eram mais propensas do que os homens a frequentar uma carreira universitária em todos os países da OCDE”, embora continuem a receber salários inferiores comparativamente aos seus pares masculinos.
Em Portugal, 49% das mulheres na faixa etária mencionada, tinham um diploma universitário em 2020, em comparação com os 35% dos homens, taxas que se tornam mais elevadas tendo em conta a média dos países da OCDE, 52% e 39%, respetivamente.

Parece-me que sou obrigada a dar a mão à palmatória e admitir que, efetivamente, a ignorância é uma bênção.
“Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir daqui?” Perguntou a Alice. “Isso depende muito aonde queres chegar!” Disse o Gato.
Caras companheiras da resistência, se o vosso destino desejado é também a igualdade salarial entre homens e mulheres, trago boas e más notícias: a boa é que já há data prevista para tal feito histórico, a má é que a mesma aponta para 2157, segundo o World Economic Forum, no “Global Gender Gap Report 2021”, ou seja, daqui a 135,6 anos, o que significa que “mais uma geração de mulheres terá de esperar pela paridade de género.”
Se de igual forma desejam contrariar a ideia do Gato de que “somos todos malucos aqui!”, e tal como a Alice não desejem andar “pelo meio de gente maluca”, deixemo-nos então enraivecer, pois! E enquanto isso, descruzemos os braços, não para trabalhar mais 51 dias que os homens por ano, de graça, mas para que os possam cruzar, graciosamente, e por fim, com a sensação de dever cumprido e de igualdade de direitos alcançados, afinal “é muito fácil tomar mais do que nada.”
Tal como a rainha da Alice no país das maravilhas, também eu “às vezes acreditei em até seis coisas impossíveis antes do pequeno-almoço”, e não pretendo esperar 135 anos para viver numa democracia de facto, porque a esperança média de vida não mo permite, nem tão pouco o facto de, tal como Álvaro de Campos, “o que há em mim é sobretudo cansaço”, cansaço do sustentável peso de ser mulher e de ter de continuar a celebrar, no papel de espectadora, a liberdade dos outros, dos que verdadeiramente continuam a (des)governar a democracia. 25 de Abril sempre!
E, já agora, para todos. Mulheres incluídas, se puder ser!
Professora universitária
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.