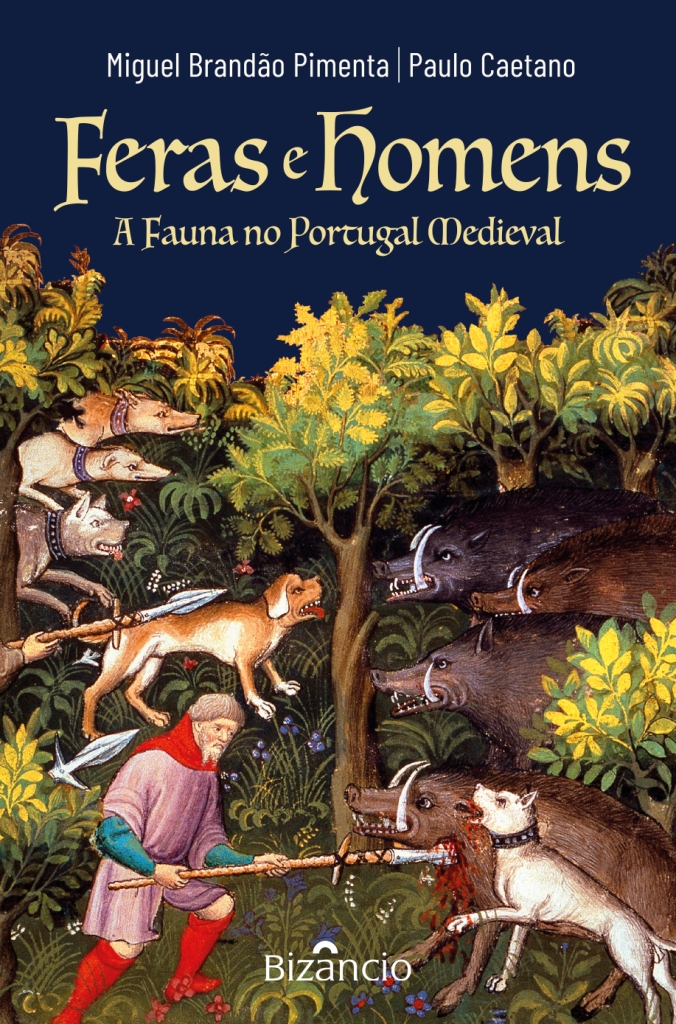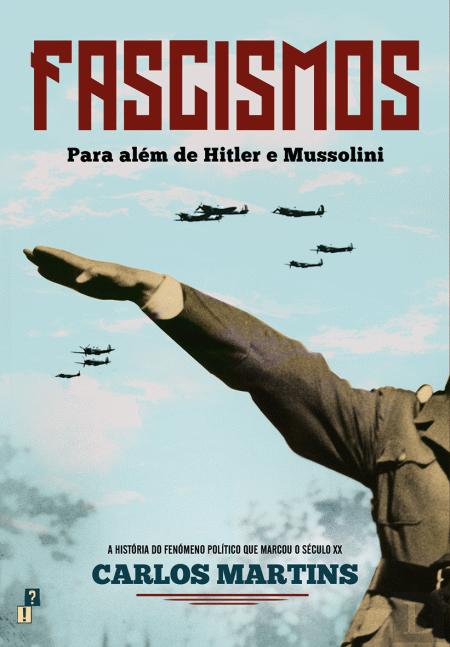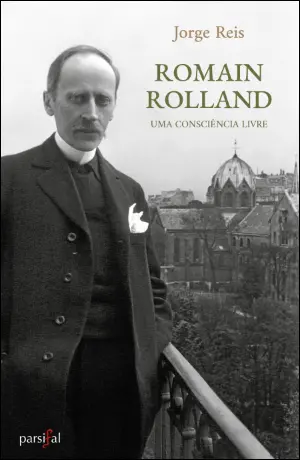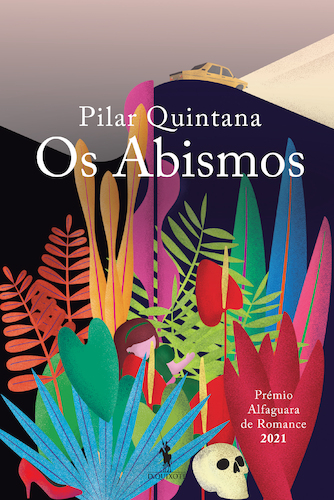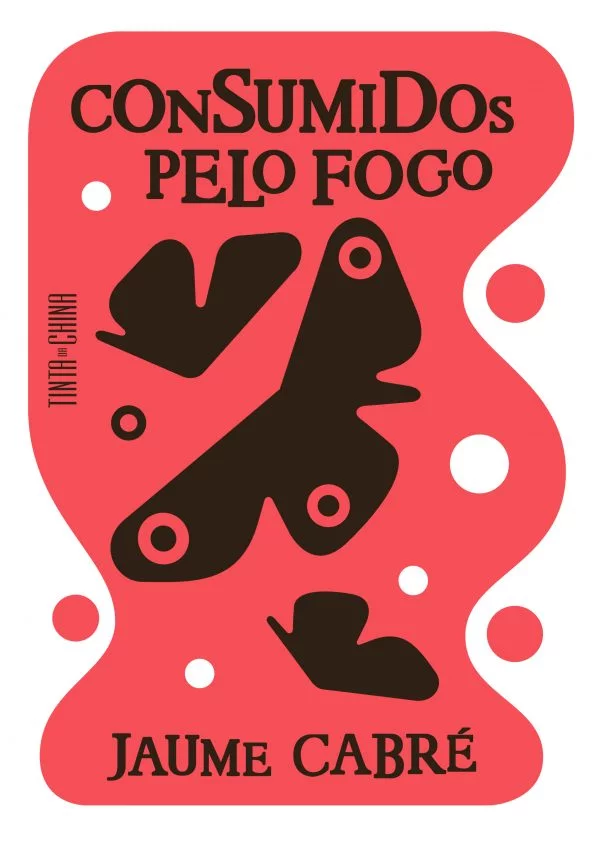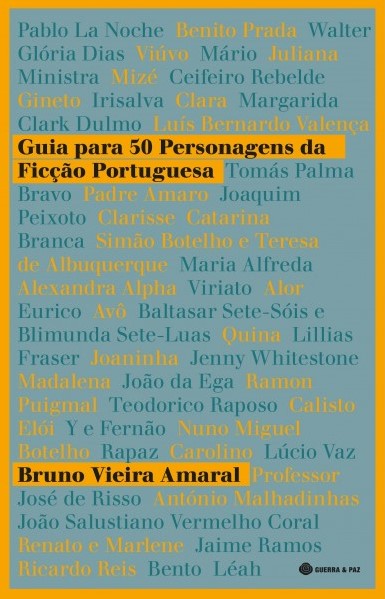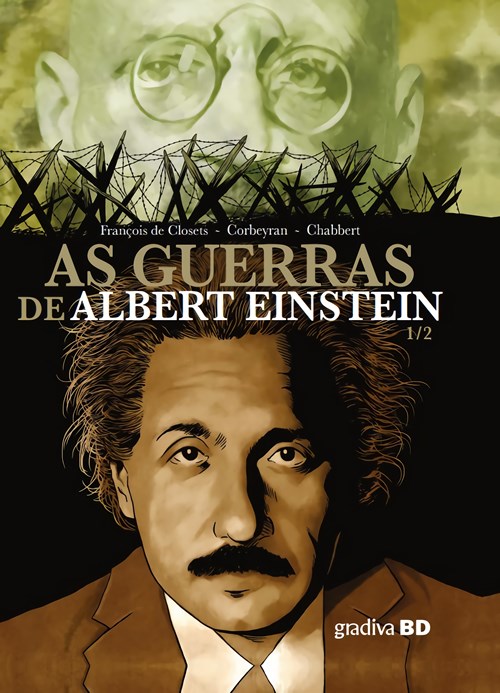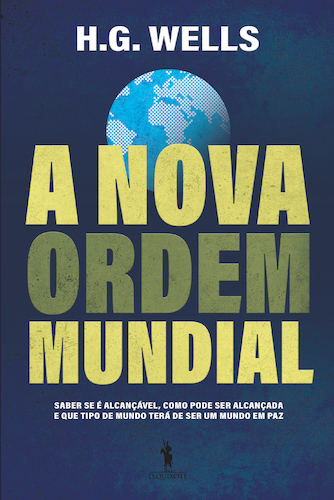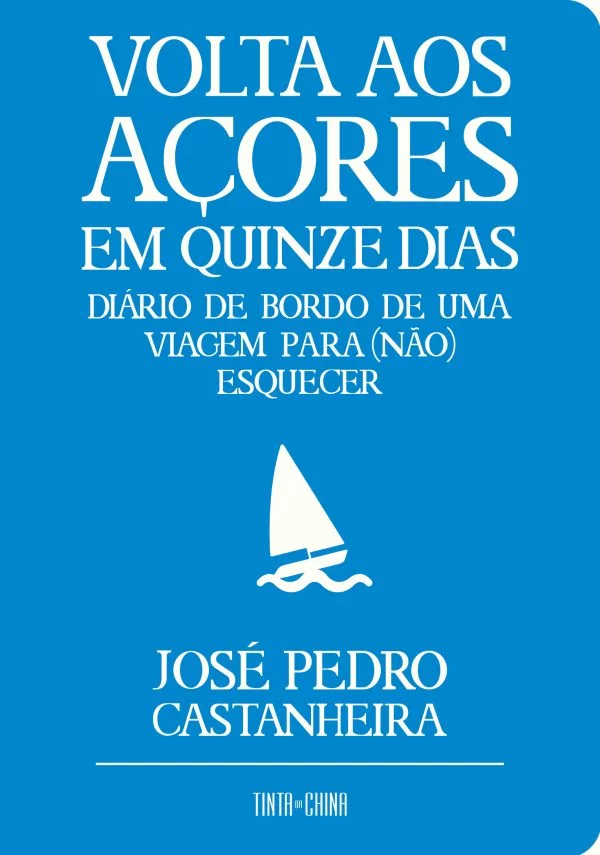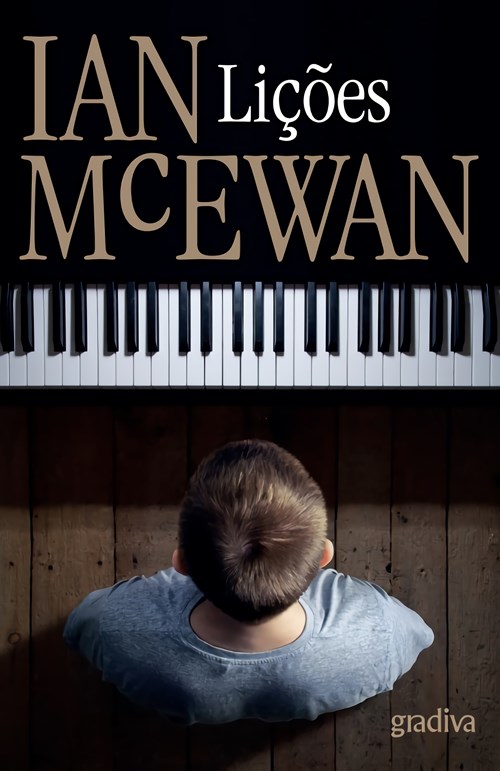
Título
Lições
Autor
IAN McEWAN (tradução: Maria do Carmo Figueira)
Editora (Edição)
Gradiva (Setembro de 2022)
Cotação
19/20
Recensão
A obra de Ian McEwan é internacionalmente reconhecida e aclamada pela crítica mundial. Entre muitos outros, o autor ganhou o Prémio Somerset Maugham, em 1976, pela sua primeira colecção de contos, Primeiro amor, últimos ritos; o Prémio Whitbread Novel (1987) e o Prémio Fémina Etranger (1993), para A criança no tempo. Foi seleccionado para o Man Booker Prize for Fiction inúmeras vezes, tendo ganho esse prémio com Amesterdão, em 1998. Um dos romances mais conhecidos é Expiação, adaptado para o cinema, cujo filme ganhou o Globo de Ouro para Melhor Filme Dramático, e o Óscar para a Melhor Banda Sonora.
De salientar que, em 2011, foi agraciado com o Prémio Jerusalém, uma honra outorgada a escritores cujos trabalhos se destaquem por lutar pela liberdade individual na sociedade.
Lições é o mais recente romance do autor britânico. O seu lançamento em Portugal, pela Gradiva (como toda sua obra), aconteceu em simultâneo com a edição original inglesa, como, aliás, tem sido habitual.
Inabitual é a sua extensão, 650 páginas. Uma dimensão que resulta, como é referido pelo Sunday Times, de “uma meditação poderosa sobre a história da humanidade através do espelho da vida de um homem”.
De facto, é uma “grande narrativa”, que incorpora outras grandes e pequenas narrativas, a da História do século XX. A guerra é a constante histórica das “pequenas narrativas” das diversas personagens. Se os ascendentes da personagem principal, Roland Baines, vivenciaram a primeira e/ou a segunda Grande Guerra, com a busca do grupo Rosa Branca, por exemplo, o próprio vivenciou a Guerra Fria, bem como a iminência de uma terceira guerra mundial, aquando da Crise dos mísseis de Cuba, e a Guerra das Malvinas. A queda do muro de Berlim e, com ele, o fim da União Soviética, a destruição das Torres Gémeas e os ataques ao metro de Londres, em 2005, são alguns dos episódios a que o autor recorre para contar a vida de Roland Baines.
É com o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, que a narrativa de Baines se inicia. Época em que se está a adaptar à vida de pai solteiro, depois de ter sido, inesperadamente, abandonado pela sua mulher, Alissa, que lhe deixa um bilhete e vai embora para se dedicar à escrita de romances. Sozinho, com um bebé de sete meses, Roland tem de aprender a fazer tudo, inclusivamente, a proteger o filho contra as radiações provenientes de Chernobyl.
O medo do nevoeiro provocado pelos gases e poeiras, vindos da Ucrânia, quase confundem o leitor quanto ao contexto temporal da história. Também as analepses constantes são intrigantes, remetendo-nos quer para a sua infância passada em Trípoli – onde o pai, militar britânico, estava destacado –, quer para os seus primeiros anos de estudante num colégio interno.
Os sonhos recorrentes e essas viagens no tempo proporcionadas pela memória são o gatilho para agarrar o leitor. Miss Miriam Cornell, a professora de piano, é a protagonista desses sonhos e das suas reflexões e decisões que terão condicionado a sua vida – uma das lições que terá aprendido.
O livro é, ele mesmo, uma grande lição. Lições de piano, de música clássica e mesmo de Jazz – o autor dá-nos a conhecer uma série de partituras e modos de as tocar, por intermédio das viagens ao tempo de aluno de Miss Cornell.
É com estes vaivéns de memória que o enredo do livro se desenrola – sendo esta outra lição, a da percepção do tempo no corpo e a sua degenerescência. Memória que se aviva com recurso à fotografia e, sobretudo, ao diário. Como se, efetivamente, fosse fundamental criar, guardar e, claro, rever as memórias para se saber quem é, quem fica e quem vai. Memórias para a posteridade, mas sabendo que “a memória é fumo e espelhos” (pág. 469).
A generosidade de Ian McEwan é imensa, dando-nos a conhecer obras primordiais da Humanidade. Neste Lições encontramos a sua interpretação de várias obras, como por exemplo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert e O golfinho, do poeta Robert Lowell, entre muitas outras.
Sem dúvida que Ian McEwan é um autor/professor, daí que possamos afirmar que o título, Lições, está bem atribuído. Lições de história, de literatura, de música. Não menos importante, as lições de vida que Roland Baines foi aprendendo ao longo da sua longa vida.
No final, num mundo carregado de incertezas, o seu maior medo é o nosso, pois “a liberdade de expressão, um privilégio cada vez menor, a desaparecer há mil anos” (p.640), poderá estar realmente em causa. A emergência deste PÁGINA UM é disso exemplo e consequência.