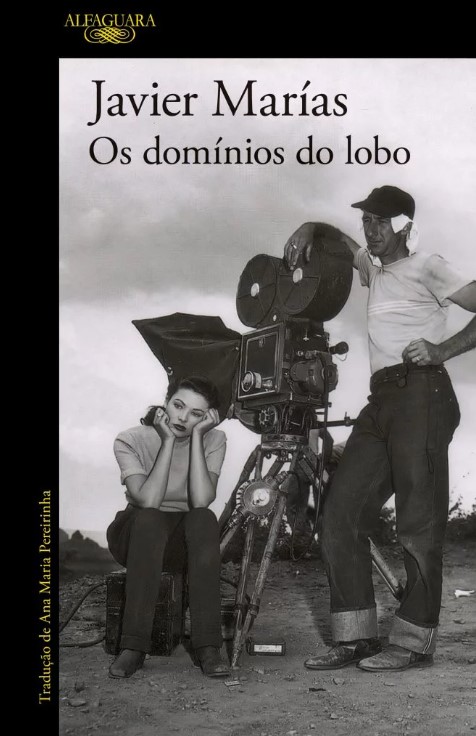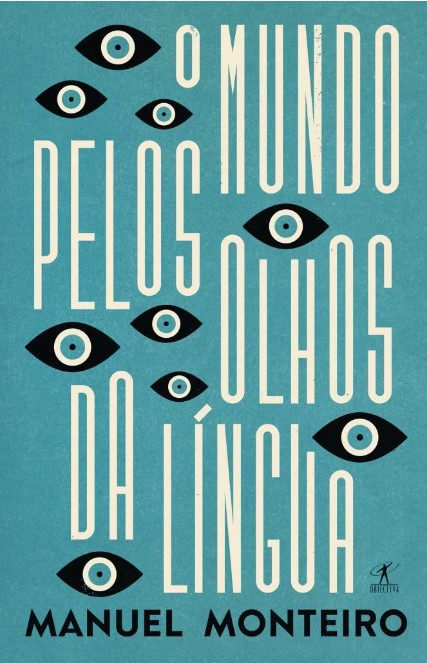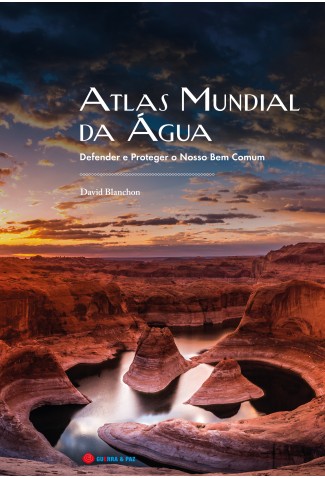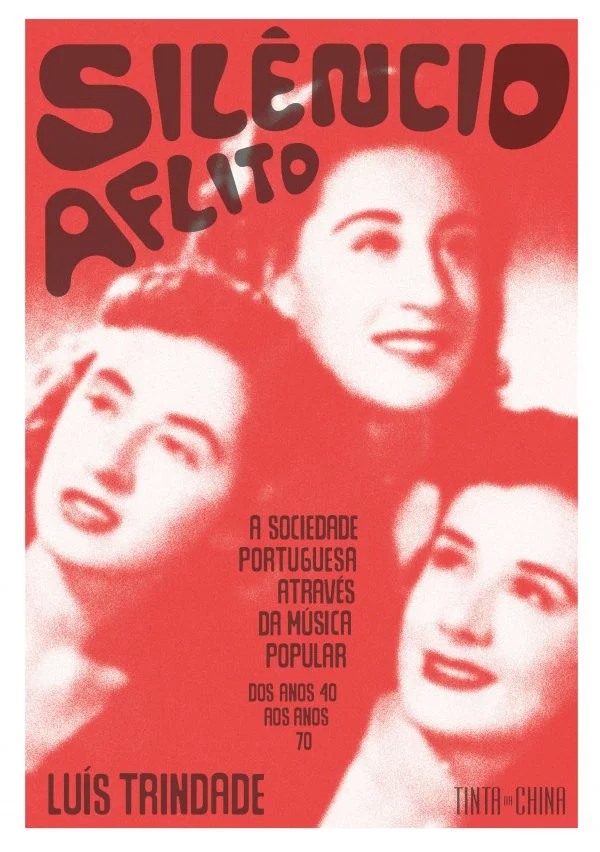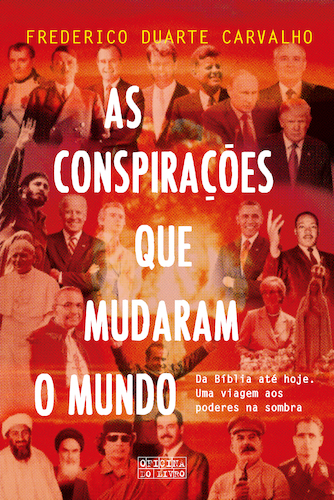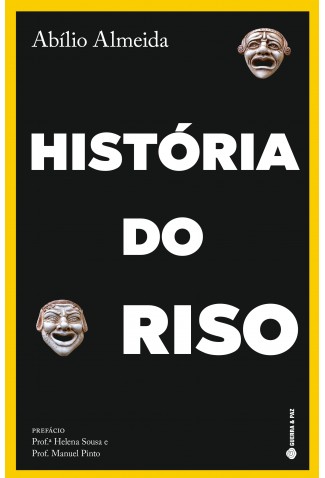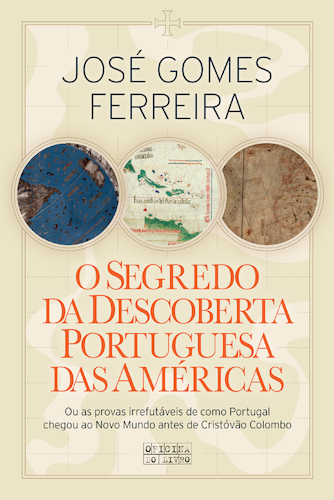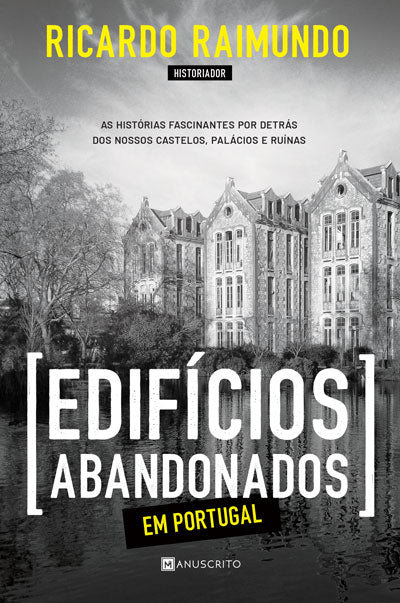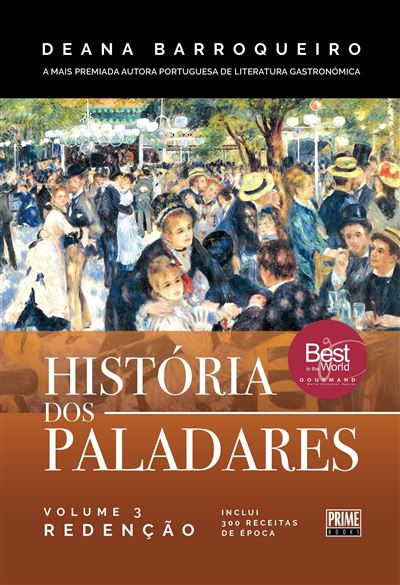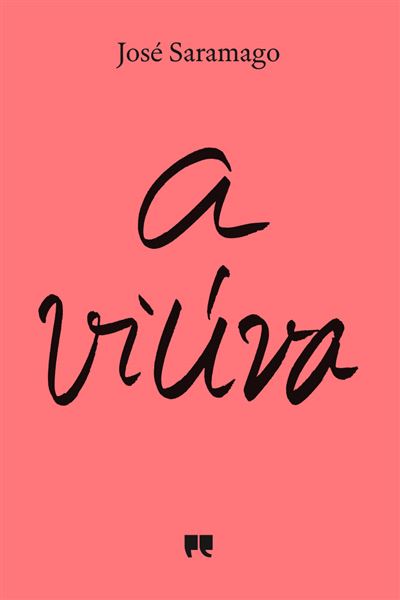
Título
A viúva
Autor
JOSÉ SARAMAGO
Editora (Edição)
Porto Editora (Novembro de 2022)
Cotação
12/20
Recensão
Em 1991, no ano em que publicou o polémico O Evangelho segundo Jesus Cristo – e já sendo um escritor consagradíssimo, depois de Levantado do chão (1980), do sublime Memorial do convento (1982), de O ano da morte de Ricardo Reis (1984), de A jangada de pedra (1986) e de História do cerco de Lisboa (1991) –, José Saramago contou a génese do seu romance de estreia: Terra do pecado, publicado em 1947, quando o único Prémio Nobel da Literatura da língua portuguesa contava 25 anos: “Foi publicado pela Minerva, mas o editor achou que A viúva não era um título comercial e sugeriu que se chamasse Terra do Pecado. Pobre de mim, queria era ver o livro editado e assim saiu. De pecados sabia muito pouco e, embora a história comporte alguma actividade pecaminosa, não eram coisas vividas, eram coisas que resultavam mais das leituras feitas do que duma experiência própria. Não o incluo na minha bibliografia, apesar de os meus amigos insistirem que não é tão mau como eu teimo em dizer. Mas como o título não foi meu e detesto aquele título…”
Em nota do próprio Saramago, nesta edição que a Porto Editora lança em parceria com a Fundação José Saramago, que recupera o título inicialmente desejado – a culminar as comemorações do centenário do nascimento do escritor –, além de contar a sua formação como leitor (alicerçado, como se sabe, na biblioteca das Galveias, em Lisboa), são revelados ainda outros pormenores da viagem do manuscrito até ser aceite inopinadamente pelo editor Manuel Rodrigues, que também criou o famoso Borda d’Água. E, por fim, conclui Saramago, não sem ironia, e em tom auto-depreciativo, que “não podia adivinhar que o livro terminaria a pouco lustrosa vida nas padiolas. Realmente, a julgar pela amostra, o futuro não terá muito para oferecer ao autor de A viúva.”
Não tendo a “vida” de A viúva, como romance, acabado em padiolas, o futuro não teria, de facto, muito para oferecer ao seu autor se o estilo se tivesse mantido. Felizmente, mudou. Por ele e para agrado dos leitores. Depois da sua estreia, aos 25 anos, Saramago manteve um interregno em obras de ficção de três décadas, até que em 1977 publicou Manual de pintura e caligrafia, demorando depois mais três anos até Levantado do chão para apurar e depurar o seu estilo característico, de marcante oralidade e fluxo narrativo encantatório, crítico e irónico (e criativos enredos) com uma pontuação não convencional (na verdade, com poucos pontos).
O interregno foi mais curto em outros géneros. Saramago publicou um livro de poemas em 1966, e na década de 70 mais dois livros de poesia, três livros de crónicas, sete contos (seis dos quais na obra Objecto quase, e o sétimo numa antologia) e duas peças teatrais. Em todo o caso, antes de Levantado do chão, Saramago era muito mais conhecido como (polémico) jornalista, de forte pendor ideológico, do que como escritor.
Por isso, queiramos ou não, até ao início dos anos 80, Saramago – já a caminhar então para os 60 anos – não teria grandes motivos para se orgulhar do seu romance de estreia, e não propriamente por lhe terem trocado o título.
De facto, sendo certo que A terra do pecado – ou A viúva, como agora se queira –, que era “renegado” por Saramago, acabou por ter mais edições do que a primeira, mas estas só começaram a surgir depois de 1997, a reboque da sua consagração, dois anos depois do Prémio Camões – e agregado a mais oito prémios literários – e em vésperas do Prémio Nobel da Literatura. As sucessivas edições que teve – na Editorial Caminho, foram sete até 1999 e 10 até à morte de Saramago, em 2010 – aparentam um sucesso literário, mas na verdade justificaram-se (e aceita-se que bem) somente pelo interesse, curiosidade e culto literários, tanto assim que os exemplares da primeira edição de 1947 atraem actualmente grande interesse bibliófilo. Os escassos exemplares no mercado alfarrabista atingem preços de 750 ou até de 1.000 euros. [com alguma sorte, há uns anos consegui um exemplar por 250 euros]. Um valor bem superior a um exemplar da primeira edição de Memorial do convento ou de Levantado do chão.
De facto, pode-se acusar Saramago de muita coisa – além de se poder (e dever) venerá-lo pela sua extraordinária escrita a partir de 1980 –, mas jamais de falta de lucidez. Com efeito, não foi por acaso – nem pela questão do título – que Saramago não terá incluído, por décadas, o romance de estreia na sua bibliografia. Simpatias à parte, Terra do pecado (ou A viúva) é obra de Saramago mas não é obra saramaguiana; é romance completamente fora daquilo que viria a ser o seu universo e estilo; é um romance com enredo simples, escrita enquadrada no movimento entre o realismo e o naturalismo, mas com descrições banais e um encadeamento pueril. Por exemplo, veja-se a segunda metade do romance onde se sucedem os capítulos com um quase invariável “na manhã seguinte”. Ou diálogos que “não aquecem nem arrefecem” (pg. 193):
– Boa noite, Joaquim! Já vais fechar?
O taberneiro curvou-se:
– Boa noite, senhor doutor! Já ia fechar, sim, senhor!… Mas cá o estabelecimento, para o senhor doutor, está sempre aberto. Faça favor de entrar.
O médico entrou e sentou-se, enquanto o taberneiro corria a um armário, donde tirou um copo limpo e uma garrafa de vinho do Porto.
– O costume, não é, senhor doutor?
– Sim, claro, o costume…
Não se diga, em todo o caso, que A viúva é um mau romance; é um romance de formação, de um jovem de 25 anos, ainda sem calo literário, e por isso muito aceitável. Não envergonha, merece até estar numa estante, mas não exalta. E olhando para a obra do seu autor, José Saramago, que nos ofereceu alguns romances de merecida nota 20, dar-se assim um 12 à sua A viúva acaba até por ser, pelas diferenças colossais num confronto com as suas (várias) obras-primas, um gesto de respeito.