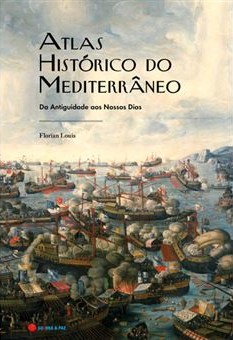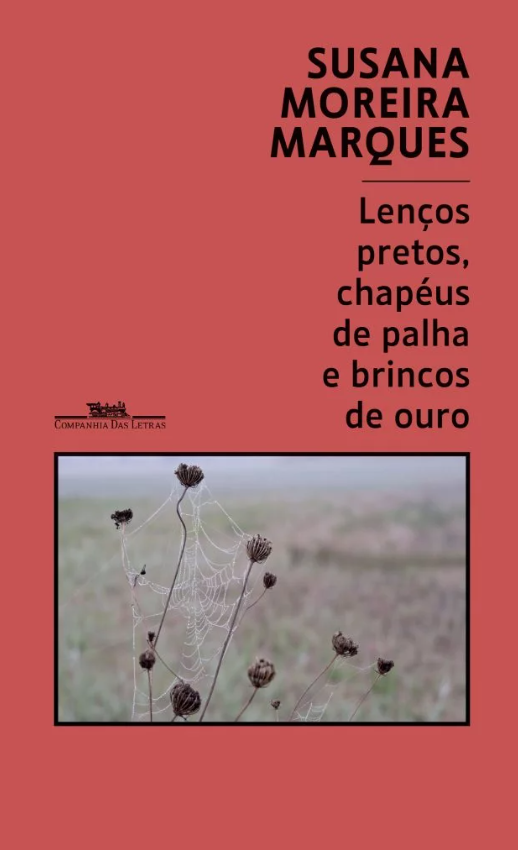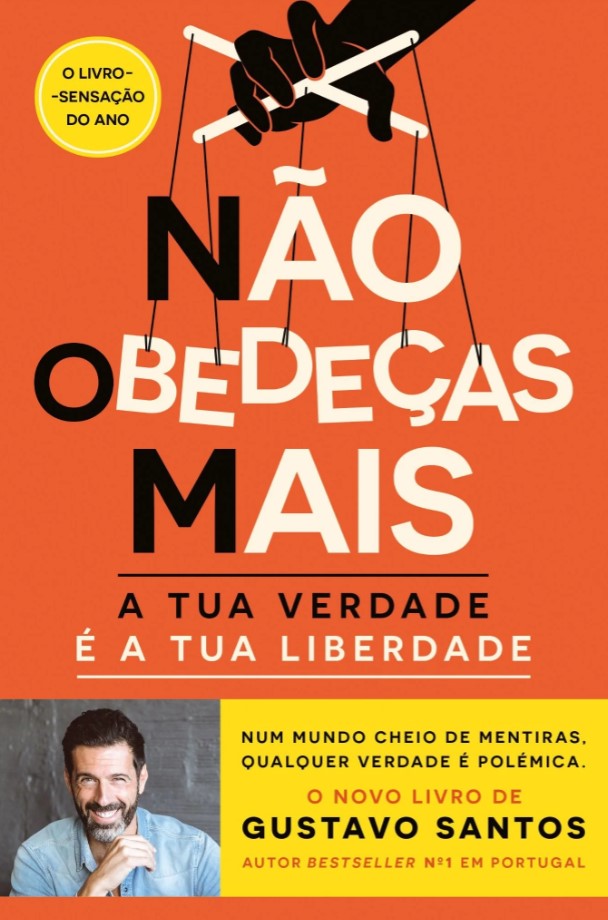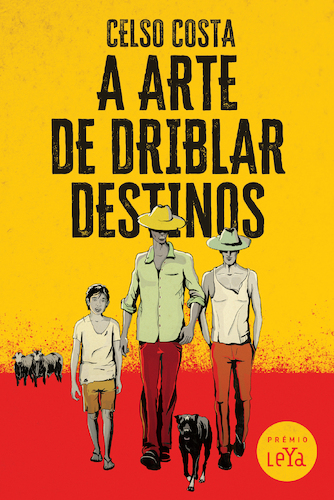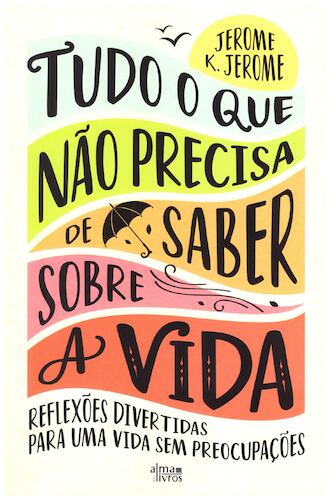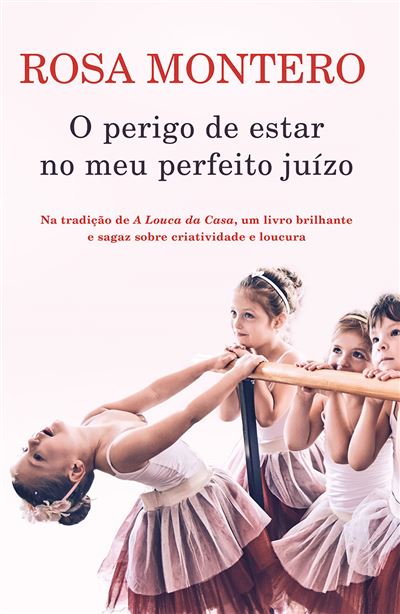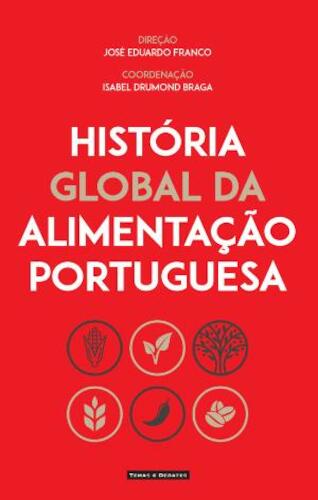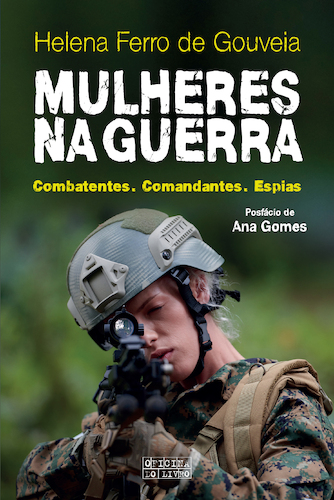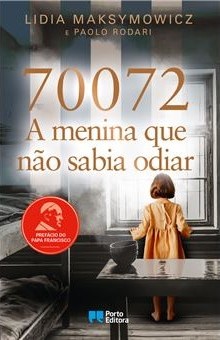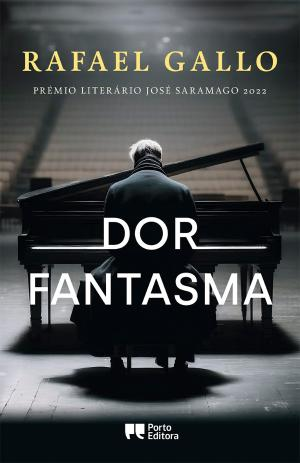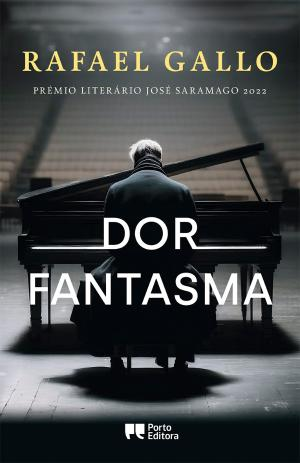Título
Mulheres na guerra
Autora
HELENA FERRO DE GOUVEIA
Editora (Edição)
Oficina do Livro (Maio de 2023)
Cotação
20/04
Recensão
No início deste ano, a Casa das Letras – uma das chancelas da Leya – publicou uma obra colossal, de grande profundidade investigativa, da inglesa Judith Mackrell que, fugindo da sua zona de conforto – é especialista em dança –, produziu uma obra de fôlego sobre “seis mulheres [jornalistas] extraordinárias na linha da frente da II Guerra Mundial”. Espero, na PÁGINA UM, ter ainda oportunidade de escrever sobre esse livro de extensas mas preciosas 526 páginas.
Presumo que, apesar da excelência desta obra, as vendas não o tornem em sucesso comercial; e no mundo editorial sabe-se bem que há livros que só se publicam por outros havendo, mais comerciais, que os suportam. Um desses livros comerciais, de sucesso garantido, e de uma outra chancela da Leya – a Oficina do Livro –, será o de Helena Ferro de Gouveia, Mulheres na guerra .
Antiga jornalista e actual administradora da Global Media e da Lusa, Helena Ferro de Gouveia é também comentadora da CNN Portugal, onde não se furta em defender intransigentemente as mulheres, enquanto debita sobre os mais variados assuntos, por vezes com as mais desvairadas teses.
Enfim, a discutida nunca mal fez ao mundo – bem pelo contrário. Tempere-se com o posfácio de Ana Gomes. Isto, em Literatura faz vender. Mas aquilo que deve ser o foco de uma recensão é o livro, em si mesmo, a sua qualidade intrínseca. E este de Helena Ferro de Gouveia, sejamos completamente francos e justos, é um perfeito díspar, se o propósito tiver sido mesmo (e desconfia-se que não foi) o de revelar e destacar “mulheres na guerra” ao longo da História – séculos ou milénios, portanto –, “catalogando-as” em combatentes, em comandantes (rainhas), em jornalistas e em espias.
Livros deste género – com uma selecção de perfis ou de histórias ou eventos reais – não são novidade; são até banais na Literatura – e, de forma despretensiosa e não necessariamente depreciativa, servem a propósito muito limitados: divulgação histórica e/ ou de leitura prazenteira para aumentar um pouco a cultura geral.
Podemos, em Portugal, destacar a Coleção 10, escrita nos anos 40 e 50 do século passado pelo jornalista Américo Faria (hoje esquecido), composta por cinco dezenas de títulos com os mais variados temas, cinco dos quais exclusivamente dedicados às mulheres: Dez beldades perigosas (nº 16), Dez amorosas românticas (nº 22), Dez rainhas que reinaram (nº 31), Dez mulheres no crime (nº 41) e Dez favoritas reais (nº 47). E que, aliás, merecia maior atenção das editoras para uma eventual republicação [a editora Parsifal reeditou três destes títulos em 2013 e 2014).
Neste género de obras, onde mais rapidamente se falha é logo na selecção, mesmo antes de se começar a escrever – e, nesse aspecto, diga-se, Helena Ferro de Gouveia escreve bem e em forma enxuta, pese embora os capítulos sofram, entre eles, de alguma desarmonia narrativa, permanecendo ausente um estilo uniforme, variando aqueles entre a reportagem e a compilação wikipediana . Sobre dedilhar texto não poderia deixar de se esperar outra coisa numa antiga jornalista que até se arvora de ter trabalhado “em mais de cinquenta países em quatro continentes”.
E é, de facto, na selecção das suas heroínas que a autora cometa um erro de palmatória: mostrou que a sua intenção não foi divulgar mulheres automáticas, mas sim compor uma obra panfletária, tão panfletária que a torna ridícula. A si e à obra.
Com efeito, a tarefa de escolher um leque de mulheres que, efetivamente, “merecem” ser destacadas num livro deste gênero nunca seria fácil. E quanto mais se reduz o lote, para duas dezenas (na verdade, em Mulheres na guerra são 19), mais exige ser os critérios para a inclusão das eleitas numa lista final, na lista definitiva, apresentada aos leitores.
E foi aqui – nas suas escolhas – que Helena Ferro de Gouveia se estatelou ao comprido, deu tiros nos pés, mostrando que este livro lhe serviu somente para “piscar o olho” – como faz a militar que empunha a arma na capa do livro – aos leitores, colando-o à Guerra da Ucrânia.
Quem ouve Helena Ferro de Gouveia na CNN Portugal compreende que, aos seus olhos, a invasão da Rússia de Putin (um ditador que, convenhamos, não “nasceu” em Fevereiro de 2022) é a primeira e única barbárie cometida ao cimo da Terra desde que Deus criou Adão e depois Eva.
Mas daí até seleccionar, num livro que destaca apenas 19 mulheres na História da Humanidade – sendo que a primeira é Fu Hao, uma das esposas do imperador Wu Ding, da dinastia Shang, que viveu no século XIII antes de Cristo –, duas jovens mulheres ucranianas (com um papel pouco mais que simbólico) é estar a gozar com a História. E com os leitores.
Não tenhamos dúvidas que são enternecedoras as recentíssimas histórias de coragem de Kateryna Polishchuk – que ficou conhecida por Birdie, durante o cerco de Azovstal – e de Olesia Vorotnyk, a bailarina da Ópera Nacional da Ucrânia que pegou em armas pelo seu país. Provavelmente, darão bons enredos hollywoodescos. Mas, caramba!, há que ter noção: quando se oferece ao prelo um livro sobre “mulheres na guerra”, pegando em toda a História, como se pode colocar estas duas ucranianas, nossas contemporâneas, ao mesmo nível das restantes 17?
Não confundamos, num contexto histórico, a beira da estrada com a Estrada da Beira.
Como podem, na História, estas duas ucranianas “destronar” (porque Helena Ferro de Gouveia as omitiu) mulheres como a rainha celta Boadiceia, Joana d’Arc, Isabel I de Inglaterra, a Rainha Ginga, Anita Garibaldi, Catarina a Grande, Harriet Tubman, Maria Quitéria ou até Dilma Rousseff, se se quiser chegar à contemporaneidade? E isto, hélas, sem aqui incluir a famigerada Brites de Almeida, a portuguesíssima Padeira de Aljubarrota. Ou a injustiçada na História de Portugal, Teresa de Leão, condessa de Portucale e mãe de D. Afonso Henriques.
Na ânsia de promover duas simples ucranianas – sem desprimor da coragem – ao pináculo das heroínas ímpares da secular História da Humanidade no feminino, Helena Ferro de Gouveia aparenta nem sequer se ter aconselhado previamente com o prefaciador da sua obra, Duarte da Costa, porquanto este até elenca muitas figuras femininas de grande proeminência que deveriam, obviamente, por tão evidente, estar incluídas nos seus capítulos.
Por fim, além de tudo isto, se o seu objetivo era escrever sobre mulheres guerreiras ao longo da História, sempre deveria Helena Ferro de Gouveia ousar-se mais nas pesquisas: em vez de usar somente nove obras como referências – as que cita na bibliografia , sendo que a mais antiga é muito recente, de 2003 –, talvez não tivesse sido má ideia procurar no Google. No Google Scholar – entenda-se –, porque aí encontraria infindáveis conceituados estudos sobre o papel das mulheres, e de muitas mulheres em concreto, entre dois períodos de paz.
Talvez até, por essas pesquisas, pudesse então sim, com propósito, incluir uma heroína da Ucrânia no seu livro, assumindo a sua existência: a lendária Marusia Bohuslavka, que consta ter libertado, sozinha, 700 cossacos detidos pelos turcos num episódio mítico em volta do século XVII.