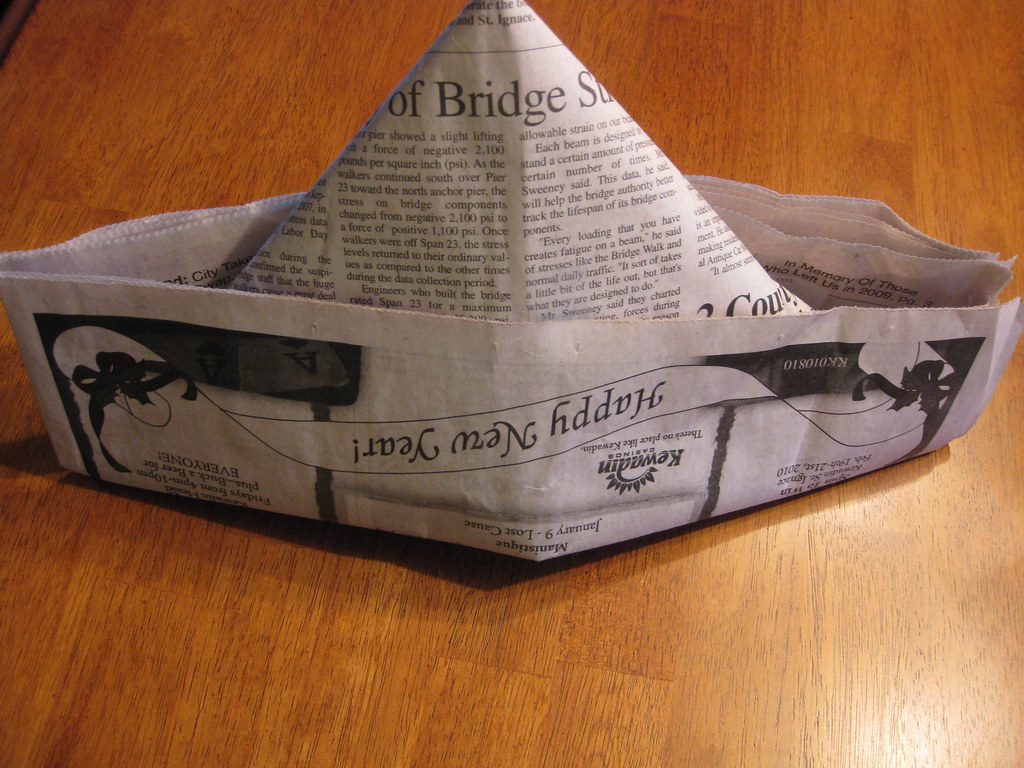Nos últimos três anos – a bem dizer, desde que eclodiu a pandemia da covid-19 –, aquilo que mais me surpreendeu não foi tanto a irracionalidade das massas – ou melhor dizendo, a cedência do pensamento individual, no torpor do pânico, ao seguidismo de uma narrativa imposta pela máquina estatal (nacional e internacional) auxiliada pelos media –, mas sim o conformismo, a covardia e a conivência (perante o poder e os interesses económicos) das elites.
De elites falo aqui dos académicos – ou, melhor dizendo, dos universitários.

Bem sei, todos sabemos, como, tanto a nível nacional como internacional, as universidades tiveram de fazer pela vida quando se lhes impôs (ou elas quiseram) a sua autonomia financeira, deixando de ser apenas centros de excelência na formação e na investigação pura para passarem a ser centros de captação de financiamentos para projectos de investigação e desenvolvimento (I&D), e sobretudo de investigação aplicada.
Por esse motivo, hoje, as universidades integram uma importante componente de marketing, e quem fala de marketing, fala de relações públicas; e quem fala de relações públicas, fala de diplomacia; e quem fala de diplomacia, fala de cortesias; e quem fala de cortesias, fala de fretes; e quem fala de fretes, fala de lambe-botas; e quem fala de lambe-botas, fala de medíocres. No meio disto, vai-se perdendo a ética e vai-se mercadejando a Ciência ao cinzel que melhor paga.
Vejam, hoje, malgrado termos investigadores de primeira água, naquilo que se tem transformado a academia: cérebros que medem as palavras, que refreiam opiniões, que se auto-censuram e censuram, que manipulam e obscurecem factos, que defendem uma verdade indicada por terceiros (Governo, empresas, opinião pública), que seguem padrões de catavento.

Nunca mais me hei-de esquecer da forma como se procedeu ao silenciamento para uma discussão participada durante a pandemia.
Não me esquecerei do unanimismo silencioso das universidades e dos académicos quando o Governo, ignorando comissões independentes que estavam previstas na lei (p. ex., o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde Pública), foi escolhendo a dedo os “peritos” e os “especialistas” que ousavam assumir-se como os arautos de uma Verdade Científica Imaculada e Inquestionável.
Não me esquecerei, por exemplo, do subsequente silêncio de uma das mais prestigiadas cientistas portuguesas, Maria Manuela Mota, directora executiva do Instituto de Medicina Molecular, quando afirmou ao Expresso em Abril de 2020: “Não entrem em pânico. Vírus [SARS-CoV-2] é relativamente bonzinho”. Compreende-se: na altura, alimentava-se o pânico como estratégia, e perante a sua posição isolada (por cobardia dos pares), não se lhe pode censurar o auto-silenciamento posterior quando se dirige um centro de investigação a carpir financiamentos para mais de 700 trabalhadores.

Foi esta dependência – alicerçada na ascensão de pessoas sem perfil ético para compreender o papel das universidades e dos académicos numa sociedade democrática, por mais extraordinariamente inteligentes que sejam – que causou o sequestro da Ciência pela política. Não apenas pela política governamental, mas também pela política empresarial – leia-se, neste caso, também farmacêutica, mas não só.
Foi alicerçado neste tipo de nefasta dependência que, por exemplo, o Instituto Superior Técnico – e particularmente o seu presidente, Rogério Colaço – acabaram compondo uns miseráveis relatórios epidemiológicos alarmistas a partir do Verão de 2021, para gáudio de uma néscia imprensa (que nada questiona), e tão vergonhosos foram esses ditos relatórios que até recusaram facultá-los, vendo-se envolvidos, por mor do PÁGINA UM, num deprimente processo de intimação no Tribunal Administrativo que só pode obrigar que cedam aquilo que voluntariamente tinham o dever ético de mostrar.
Acabada a pandemia – ou cronologicamente, no epílogo da pandemia –, a indecência da academia, como um vírus, pareceu alastrar-se à invasão da Ucrânia. Sem prejuízo de estarmos perante um acto inadmissivelmente hostil da Rússia e de este país não ser propriamente dirigido por um Governo democrático (costumo dizer que Putin não está à frente dos destinos daquele país há meia dúzia de dias), não há inocentes políticos nesta guerra (a começar no chamado Ocidente) nem se deveria, em Estados democráticos, responder à barbárie com censura, hostilização, ostracismo e perseguição apenas por razões de cidadania.
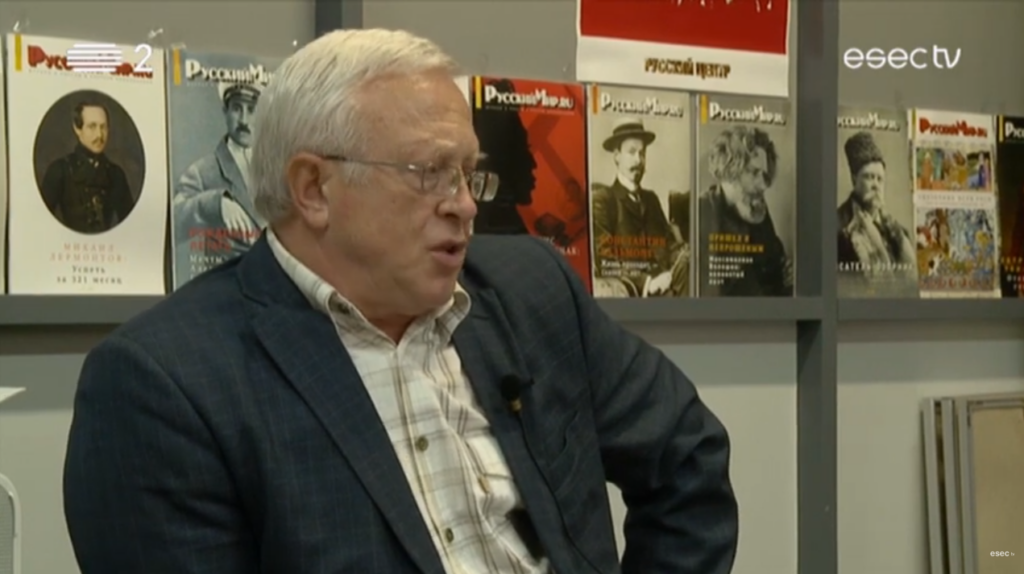
Não ouvi – e pode ter sucedido por distracção – nenhuma universidade com abertura para ser o palco de debates em redor da guerra da Ucrânia, com centro de reflexão para se encontrar uma forma de pacificação, sem colocar premissas nem condicionamentos. Não ouvi – e pode ter sucedido por distracção – nenhuma universidade a criticar a censura a órgãos de comunicação social da Rússia nos países ocidentais, ao mesmo tempo que se alcandora a Ucrânia a um patamar de democracia que nunca teve (e não tem).
Na verdade, as universidades seguiram o mesmo padrão da pandemia: atentas às consequências dos seus actos, seguiram o que o Governo e as instâncias europeias (seus principais financiadores) foram ditando.
Por isso, não surpreende demasiado que, neste cenário, o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão tenha demitido, sem apelo nem agravo, o director do Centro de Estudos Russos da Universidade de Coimbra, Vladimir Pliassov, apenas porque dois alegados activistas ucranianos decidiram acusar aquele cidadão russo de “propaganda russa” nas suas aulas. Amílcar Falcão não ouviu sequer o docente, radicado em Portugal desde 1998 e com nacionalidade portuguesa desde 2002, e que até dava agora aulas (de Literatura) em regime gracioso.
O caso é tão lamentável que causa dó.

Eis que tivemos um Falcão, aspirando aos voos do populismo, tornando medíocre uma universidade, e com os seus actos resgatando das tenebrosas páginas negras da Inquisição o estilo “caça-bruxas” com aplicação de sanções antes sequer de uma inquirição, quanto mais um julgamento justo.
Eis que tivemos a mediocridade mais uma vez no topo de uma universidade, em todo o seu esplendor, com o seu fautor talvez almejando comendas pela prontidão de um acto de justiceiro em prol das “vontades do vento”.
Bem sei que os tempos não andam fáceis para quem, minoritário, rema contra a corrente – no seio de um Jornalismo decrépito e em perda de princípios, sei por experiência própria, os custos da ousadia –, mas há um sinal de esperança quando o vil acto de Amílcar Falcão está finalmente a ser contestado dentro da própria Universidade de Coimbra. Primeiro de uma forma mais discreta (e ainda minoritária), mas nos últimos dias de um modo mais substancial e impossível de se silenciar.

Porém, isto sabe a pouco. Até se poderia chegar à (porventura absurda) conclusão de que Vladimir Pliassov era o mais empedernido putinista, mas um reitor não pode arvorar-se de polícia, de procurador de acusação, de juiz e de executor, e tudo isto feito no reduto dos seus neurónios. Se pensa que poderia fazer tudo isto perante um caso desta delicadeza, não pode continuar a ser reitor. Se sabia que não poderia fazer isso e fez, não pode continuar a ser reitor.
Depois de tudo isto, e independentemente de quem é, na essência, Vladimir Pliassov, temos apenas como certo que Amílcar Falcão não tem estaleca – digamos assim, de sorte a soar mais popular – para ser reitor da Universidade de Coimbra.
Manter-se nesse posto será a vitória da mediocridade – o que tornará medíocres os demais. Mesmo daqueles académicos que, agora, o criticam em abaixo-assinados, porque dos outros que se mantêm, mesmo assim, em silêncio, não rezará a História.