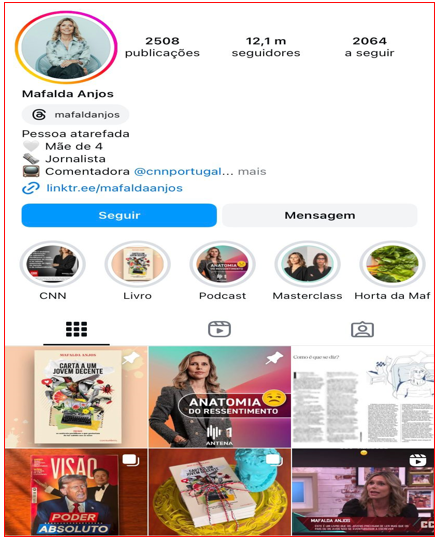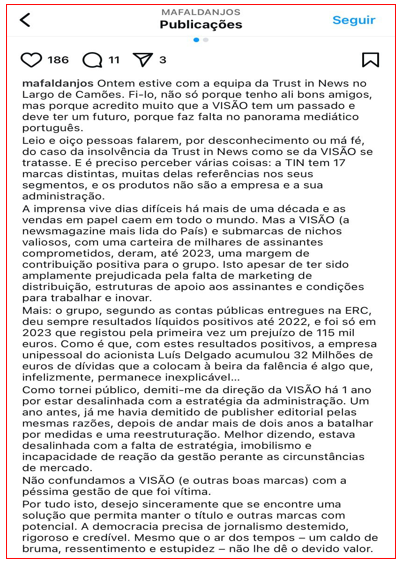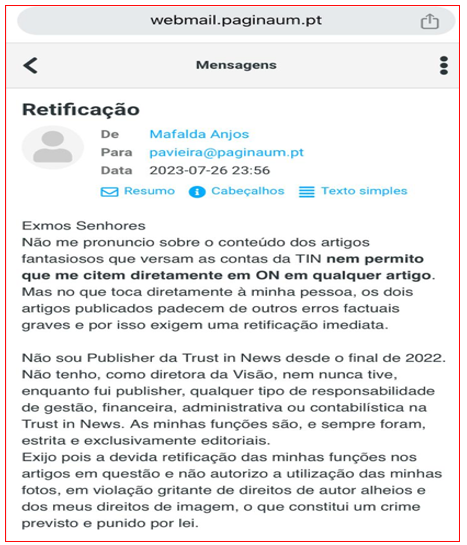Como se pode constar numa das notícias da edição desta semana do PÁGINA UM, portugal parece viver, com trágica naturalidade, imbuído num estranho torpor, uma espiral de decisões políticas que corroem décadas de princípios de ordenamento do território, num processo que não só despreza os fundamentos ambientais como abre portas a um verdadeiro carnaval de especulação e corrupção. A recente flexibilização da lei dos solos, que permite urbanizar terrenos rústicos para habitação “acessível”, é um dos mais perigosos capítulos desta história. Onde está a esquerda que apregoa a sustentabilidade? E onde está a imprensa para denunciar este atentado ao planeamento?
A medida, apresentada como resposta à crise habitacional, é na verdade uma machadada sem precedentes na coerência do ordenamento do território. Em vez de resolver problemas estruturais de habitação, lança uma rede de oportunidades para negociatas municipais, especulação de terrenos e cedências à ganância imobiliária. Quem quiser agora urbanizar, não vai aceder sequer a terrenos urbanizáveis; procura comprar terrenos rústicos, mais baratos, e depois tentará obter autorizações camarárias. Aquilo que antes eram negociatas criminosas antes das aprovações dos planos directores municipais (PDM) será agora ‘legalizado’ em três tempos.
Mais grave, tudo isto sob o beneplácito de partidos políticos que, com a mão no ‘coração ambiental’, têm apregoado uma fé tardia sobre os perigos das alterações climáticas, mas calam perante questões essenciais, passivamente assistindo à destruição dos pilares do planeamento sustentável.
A urbanização de terrenos rústicos não é apenas uma ameaça à biodiversidade ou à proteção de solos agrícolas e florestais – que já são recursos escassos e essenciais num país vulnerável à desertificação. É um ataque frontal à lógica do planeamento urbano. Sem critérios claros, esta medida abre espaço para uma expansão urbana descontrolada, criando periferias desordenadas, dependentes de transporte automóvel, com infraestruturas precárias e uma qualidade de vida degradada.
Além disso, como serão definidos os terrenos rústicos a urbanizar? Que garantias existem de que as áreas críticas para agricultura ou ecossistemas valiosos serão preservados? A resposta parece óbvia: nenhuma. Este diploma cria uma abertura tão ampla que entrega aos autarcas – frequentemente permeáveis à pressão económica e política – o poder de decidir o destino de terrenos cujo valor pode disparar com uma simples canetada.
Os partidos que se dizem preocupados com o ambiente – especialmente os da dita esquerda – deveriam estar na linha da frente a criticar esta medida. Mas não. Permanecem num silêncio cúmplice, reféns de narrativas fáceis que confundem flexibilização com progresso. Mostra-se mais conveniente alinhar com soluções populistas que prometem resolver a crise habitacional do que enfrentar a complexidade do problema e sugerir alternativas sustentáveis.
A imprensa mainstream, por sua vez, mostra uma passividade desoladora. Aliás, onde estão as notícias ou opiniões sobre os riscos de corrupção e especulação associados a esta medida? Onde estão os alertas para os impactes ambientais e sociais de urbanizar à pressa zonas não infra-estruturadas e protegidas da ânsia do betão fácil? A narrativa dominante centra-se na “necessidade de habitação”, sem escrutinar os efeitos desastrosos que esta decisão pode ter no longo prazo.
Há formas eficazes e sustentáveis de responder à crise habitacional sem abrir mão de terrenos rústicos e sem comprometer décadas de planeamento. Algumas das alternativas são óbvias, mas ignoradas em nome de soluções fáceis. Vejamos, rapidamente, algumas, que estão nos compêndios:
1. Requalificação urbana: Portugal está repleto de edifícios abandonados ou subaproveitados em áreas urbanas. Por que não canalizar esforços para a sua recuperação e adaptação para habitação acessível?
2. Revitalização de zonas urbanas degradadas: Melhorar a qualidade de vida em áreas urbanas subaproveitadas poderia evitar a pressão para expandir para terrenos rurais.
3. Densificação inteligente: Embora esta solução tenha de avançar com uma política de mobilidade forte e coerente em zonas urbanas, a construção em altura pode ser uma solução interessante em zonas de urbanização mais recentes. Cidades como Amsterdão ou Copenhaga são exemplos de como a densificação, acompanhada de espaços verdes e uma boa e funcional rede de transportes públicos, pode oferecer soluções habitacionais sem sacrificar terrenos agrícolas ou florestais.
4. Mapas de aptidão do solo: É urgente identificar e proteger áreas críticas para conservação, agricultura e biodiversidade, evitando que a “flexibilização” se transforme numa licença para destruir. A Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional (que está anacrónica por se basear sobretudo na aptidão para cereais) são instrumentos jurídicos que não podem estar sempre a ser sacrificados por simples despacho ministerial ao sabor das conveniências.
Por tudo isto, a flexibilização da Lei dos Solos é, na verdade, um presente envenenado de efeitos futuris inqualificáveis, que somente poderia sair da cabeça de um primeiro-ministro que também ‘flexibilizou’ em seu benefício uma construção nova ‘travestida’ de reabilitação para poupar 100 mil euros. Em vez de resolver a crise habitacional, esta medida do Governo Montenegro, a avançar, exacerba a especulação imobiliária, aumenta a corrupção e compromete recursos fundamentais para as gerações futuras. O silêncio da esquerda ambientalista e a passividade da imprensa, a mante-se, serão cúmplices neste desastre anunciado.
Se queremos verdadeiramente um país sustentável e justo, não podemos permitir que decisões tão graves passem sem escrutínio. Este diploma não é progresso. É um convite à destruição.
PÁGINA UM – O jornalismo independente (só) depende dos leitores.
Nascemos em Dezembro de 2021. Acreditamos que a qualidade e independência são valores reconhecidos pelos leitores. Fazemos jornalismo sem medos nem concessões. Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não temos publicidade. Não temos dívidas. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro. Apoie AQUI, de forma regular ou pontual.
APOIOS PONTUAIS
IBAN: PT50 0018 0003 5564 8737 0201 1
MBWAY: 961696930 ou 935600604
FUNDO JURÍDICO: https://www.mightycause.com/story/90n0ff
BTC (BITCOIN): bc1q63l9vjurzsdng28fz6cpk85fp6mqtd65pumwua
Em caso de dúvida ou para informações, escreva para subscritores@paginaum.pt ou geral@paginaum.pt.
Caso seja uma empresa e pretende conceder um donativo (máximo 500 euros por semestre), contacte subscritores@paginaum.pt, após a leitura do Código de Princípios.