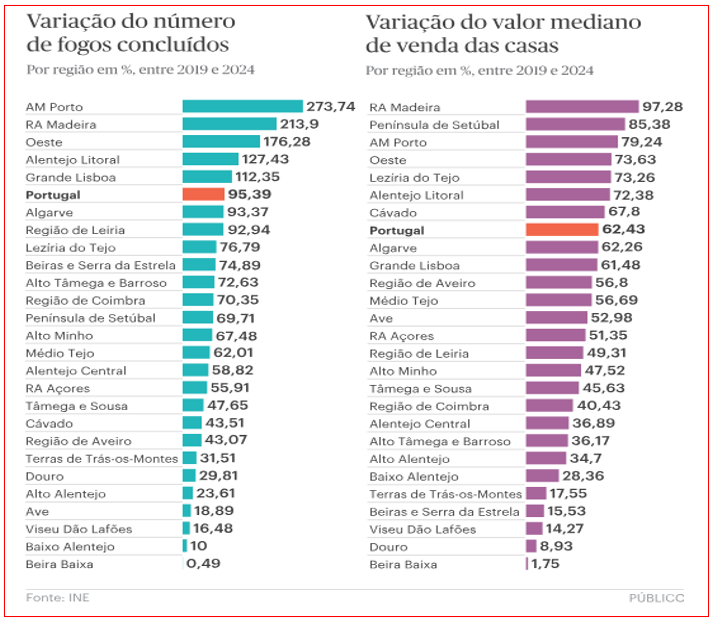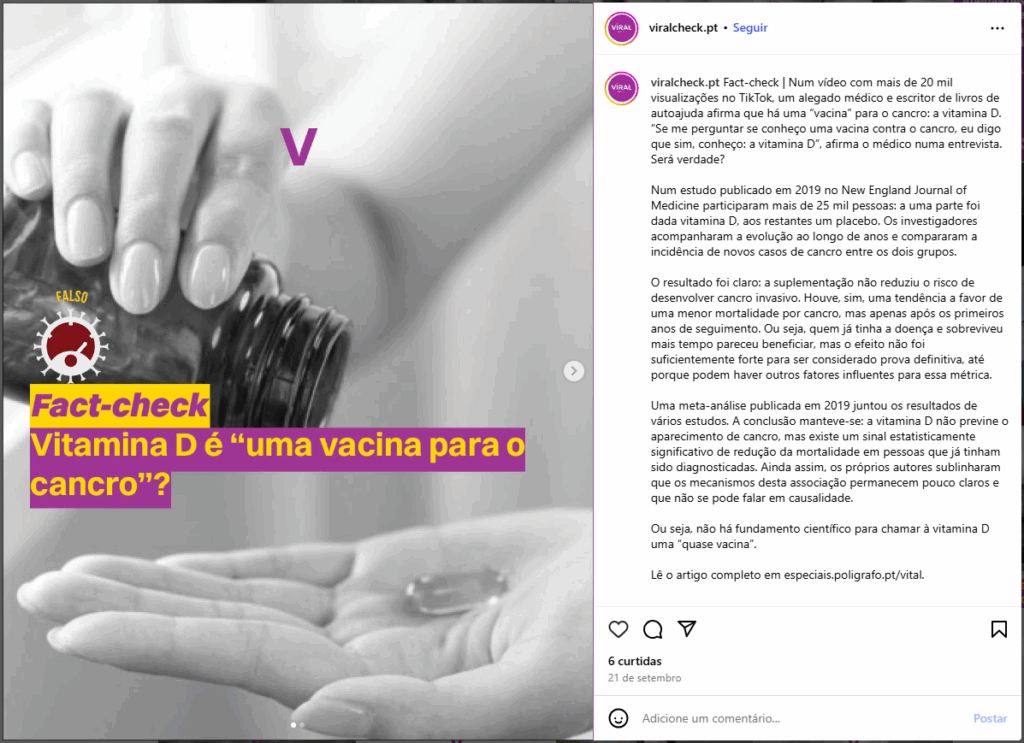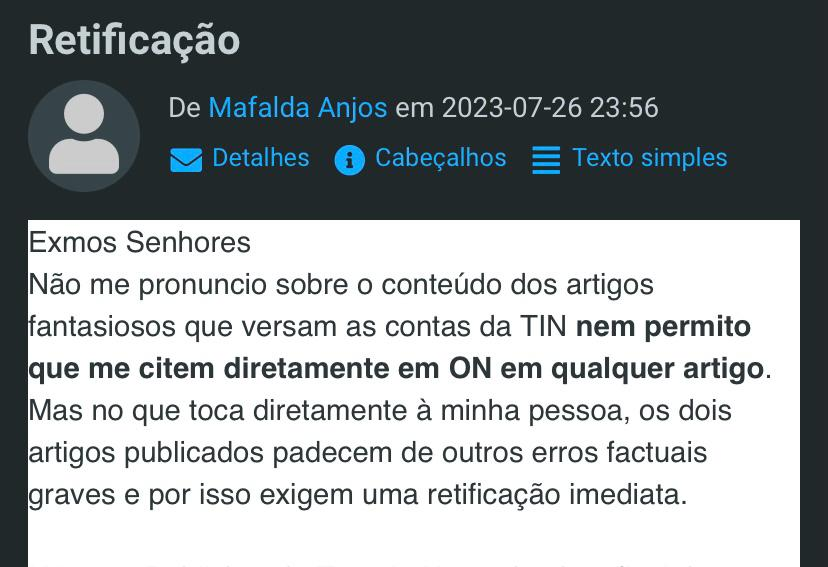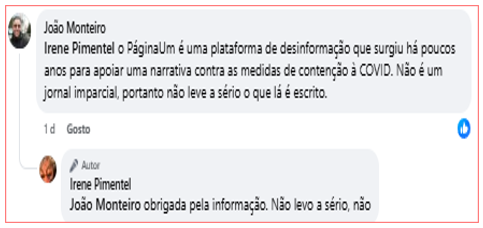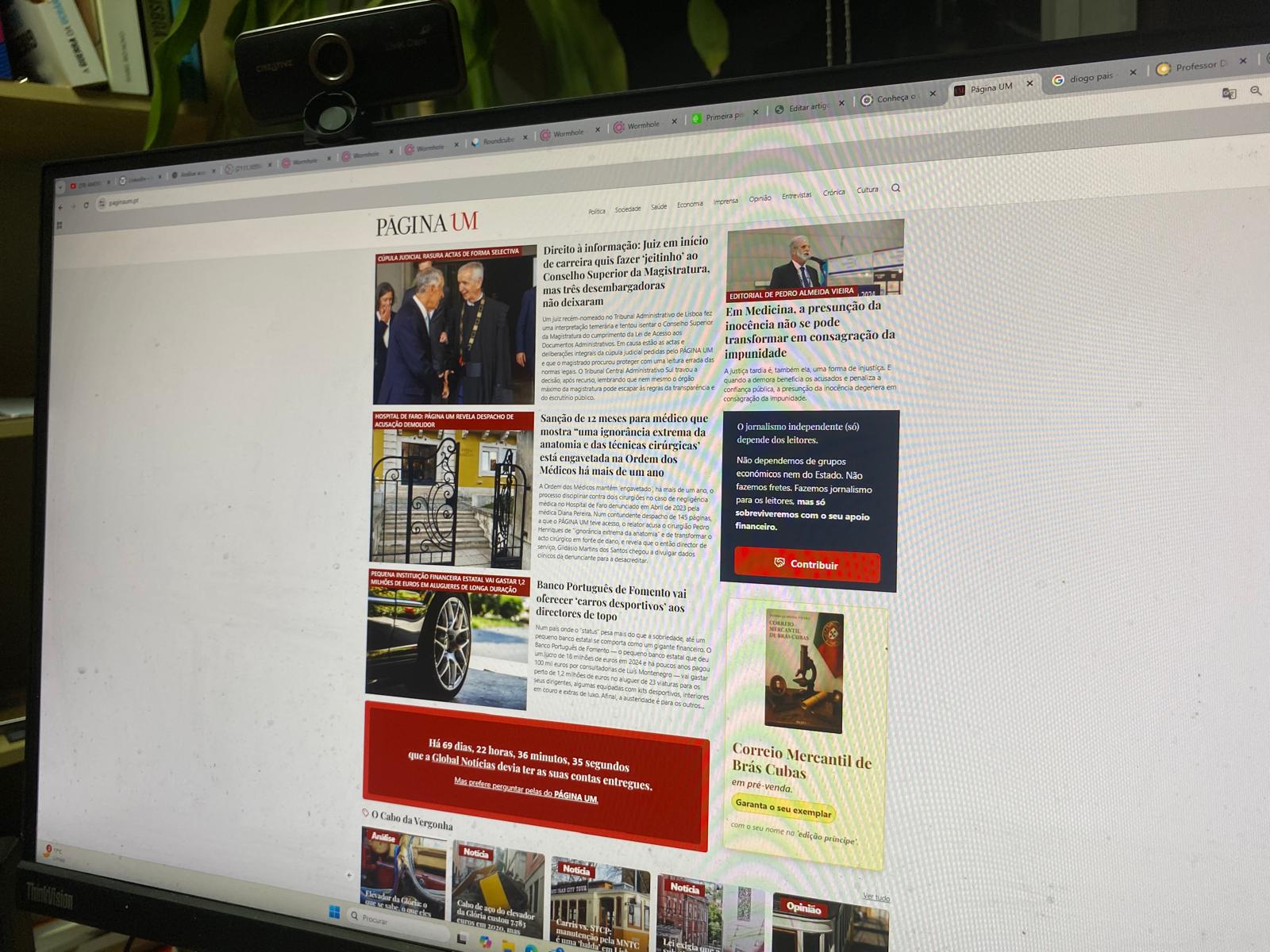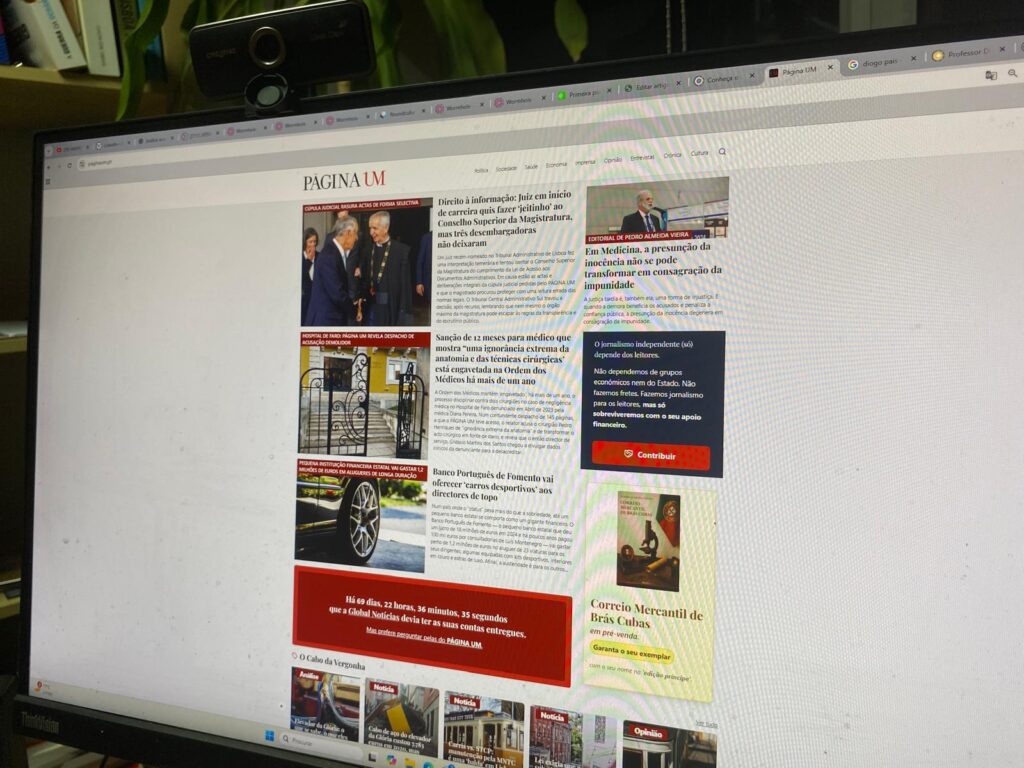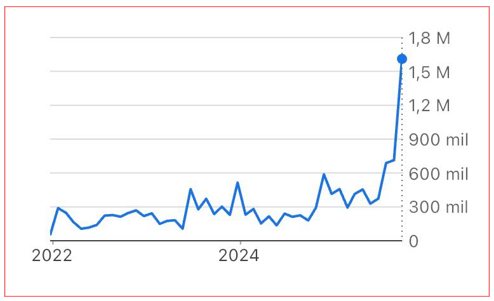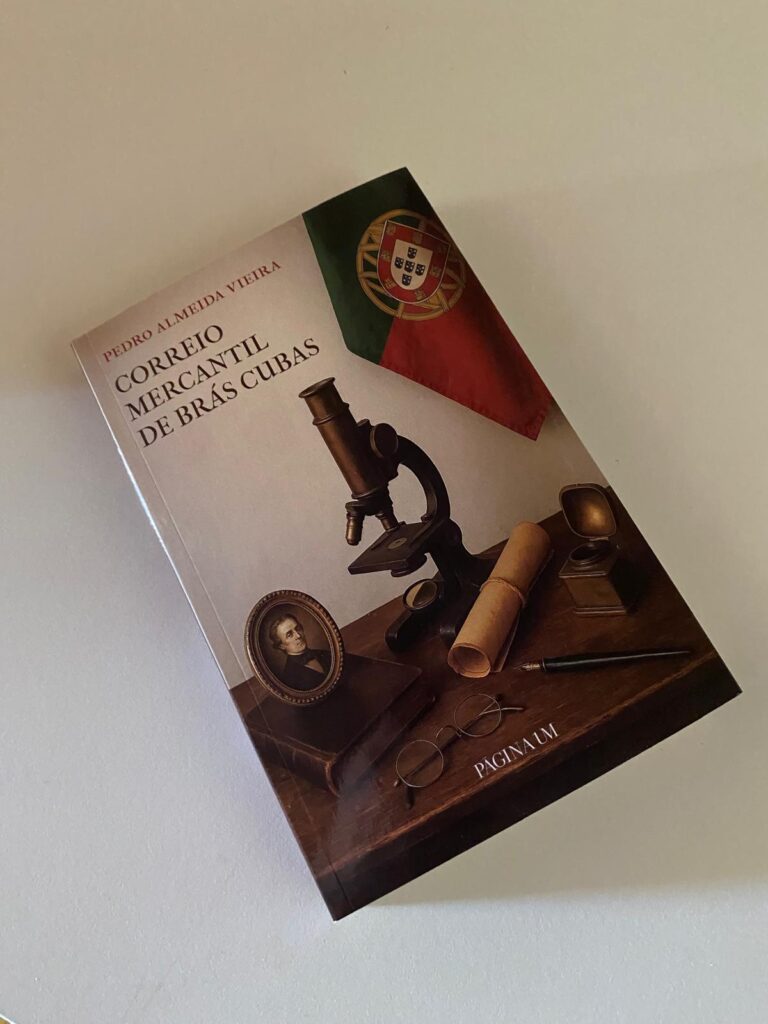Já se passaram 45 anos e continua-se a discutir se Camarate foi atentado ou acidente. O assunto pode vir à tona durante o Natal em família, tanto mais que vamos ter eleições presidenciais, algo que também estava no plano político de 1980. Por isso, aqui ficam algumas dicas sobre como pode ser abordado o assunto de Camarate de modo a evitar estragar a harmonia sempre tão necessária nesta festa da família.

1 – Diga que foi acidente
Ainda há dias, numa entrevista na rádio da rua João Saraiva, o candidato a candidato à Presidência da República, — o “não sou maçon” — Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, disse de forma muito enfática e sem espaço para dúvidas que Camarate foi “acidente”. Como não creio que o ex-militar tenha sido testemunha ocular do acidente, deduzo que estivesse apenas a produzir uma opinião pessoal.
É bem mais seguro dizer que Camarate foi acidente do que atentado. O acidente encerra logo ali o assunto, pelo que podemos seguir em frente na vida, sem mais questões. Esta opinião é até aquela que mais agrada a jornalistas, pois não têm depois de fazer perguntas que podem ser incómodas. Agrada igualmente a juízes, investigadores judiciais e a outros ligados à área, que assim podem dar o assunto por encerrado e não se fala mais nisso. E agrada ainda a certos meios políticos, já que não abre caminhos para se ir mexer em assuntos delicados e que não interessam nada aos seus interesses.
O recém-falecido ex-primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, por exemplo, era adepto do acidente e, no caso dele, sabemos bem que também não podia ter sido testemunha ocular, pois há testemunhas de que estava no Porto, no aeroporto de Pedras Rubras, à espera da chegada de Francisco Sá Carneiro para o comício extra que iria ter lugar no Coliseu da Rua Passos Manuel.

Por isso, se não quiser arranjar problemas na conversa da família, diga que Camarate foi um infeliz acidente, que o avião estava podre, os pilotos andavam cansados e, sobretudo, não havia maneira de saber se Sá Carneiro iria estar ou não naquele avião, mas que, à última da hora, Sá Carneiro mudou para o aparelho podre. Ah! E ainda havia o avião da TAP, para onde ele tinha reservas.
Por isso, acidente. Sem sombra de dúvidas. É bem mais seguro e evita chatices.
2 – Diga que ainda não está bem esclarecido
Se é daqueles que, por uma questão intelectual, não pode ficar calado e não consegue dizer que foi acidente, pois parece que é uma posição simples e de alguém que está mal informado, é então obrigado a dizer que foi atentado. Sabe que o acidente nunca foi verdadeiramente explicado e, um avião, mesmo podre, não cai assim. Que a falha de um motor até pode ser compensada pelos pilotos — por muito cansados que estivessem.
E como seguiu a polémica, leu os livros do Cid, sabe ainda que havia um segundo avião, aquele que Balsemão pediu ao dono da RAR, o empresário João Macedo e Silva, e em melhores condições. Também esteve atento às inúmeras comissões de inquérito, pelo que pode sempre dizer mal do exagerado número de comissões — foram 10, mas metade delas foram a continuação da outra, após terem sido interrompidas pelo fim das legislaturas até serem retomadas na seguinte. Esta é também uma maneira segura de mostrar que até se interessou pelo assunto e procurou informar-se melhor sobre o caso. Que não tem uma opinião ligeira.

Pode sempre demostrar alguma superioridade perante aqueles que dizem ter sido acidente, dando a entender que até sabe mais sobre o assunto. Mas, como não quer ser visto muito deslocado do resto da família e convém não ser desagradável em relação aos que estão sentados na confortável ideia do acidente, o melhor a fazer é dizer que, mesmo sendo atentado, ainda existe muita confusão. Embora pense que o atentado é algo plausível, ainda assim não sabe explicar muito bem como foi e, por isso, seria melhor haver mais uma comissão, mas o problema dessa confusão toda é precisamente por ter havido já muitas comissões, pelo que não faz sentido haver mais outra, mas lá que seria necessário, lá isso seria.
Uma posição informada, segura e que não ofende ou coloca em perigo a convicção daqueles que vivem tranquilamente na segurança do acidente.
3 – Diga que foi atentado, mas o alvo era o Adelino
Este já está um nível mais acima, mas ainda assim dentro daquele conforto que também não cria perigos e não provoca choques sociais. Está apenas ao alcance de um grupo de pessoas muito específicas. Ainda há dias ouvi, por exemplo, o antigo grão-mestre da maçonaria regular, José Manuel Anes, a justificar as acusações da sua filha nas redes sociais — onde ele era acusado de ter feito a bomba de Camarate —, a dizer que as palavras da filha não faziam qualquer sentido, pois ele investigou o caso e concluiu que houve uma bomba. E que até foi ameaçado de vida — por quem? Não disse.

Manuel Anes, que na altura dos factos era funcionário do laboratório científico da PJ desde 1978, é uma daquelas pessoas, que ao contrário do Henrique Melo, não pode dizer que foi acidente. Mas como também não pode parecer ter dúvidas quanto a ter sido um atentado, acrescentou à jornalista Tânia que o atentado foi contra Adelino Amaro da Costa e não contra Francisco Sá Carneiro. E a jornalista nem tugiu nem mugiu.
Esta opinião foi aquela que Conceição Monteiro, a secretária de Sá Carneiro e principal testemunha do que se passou durante aquele dia, começou a propalar quando se viu perante as evidências de um atentado, confirmado depois por Manuel Anes. Disse a senhora que, como não havia tempo para preparar um atentado contra Sá Carneiro, o alvo seria o ministro da Defesa, Amaro da Costa.
Como se a morte de um ministro fosse algo que se pudesse varrer depois para baixo do tapete e não merecesse uma investigação cabal. Mas, como o mais importante é retirar o nome de Sá Carneiro desta equação, para evitar uma investigação mais aprofundada, esta posição é aquela que deve ser usada por aqueles que não têm mesmo hipóteses de negar o atentado e que, tal como Anes, não podem discutir as conclusões oficiais das últimas comissões de inquérito e não podem parecer ter dúvidas.

Dizer que foi para o Adelino é uma boa maneira de dizer que foi atentado, mas depois arrumar o assunto sem ter de dar muitas mais explicações.
4 – Sobretudo, nunca diga estes factos:
Sá Carneiro estava no avião que caiu em Camarate porque era o único táxi-aéreo disponível no País depois de, uma semana antes, a 26 de Novembro, os aviões da campanha presidencial de Soares Carneiro terem sido apreendidos pela Guarda Fiscal no aeródromo de Tires. Essa apreensão, levada a cabo por uma autoridade que dependia do ministro das Finanças, Cavaco Silva, tem de ser considerada como parte do plano e demonstra que, ao contrário do que dizia Conceição Monteiro, houve mesmo tempo para preparar um atentado contra o primeiro-ministro Sá Carneiro.
Sá Carneiro nunca teria tido necessidade de ir ao Porto de avião se não lhe tivessem marcado um comício extra no Coliseu do Porto, facto de que foi informado a 1 de Dezembro, quando estava em Évora. De acordo com a agenda há muito feita, o comício onde ele deveria ter ido era o de Setúbal e não no Porto. O comício do Porto fora no dia anterior.

Havia um segundo avião privado, mas Sá Carneiro nunca foi informado da existência desse aparelho. Esse era o avião privado da RAR que Balsemão garantiu que iria haver e que, depois, a sua prima, a secretária Conceição Monteiro, desmarcou após o encontro de Sá Carneiro e Amaro da Costa à hora do almoço.
Sim, havia reservas no voo comercial da TAP, mas isso era apenas uma medida de último recurso caso o avião privado não fosse autorizado a descolar devido ao mau tempo. Também havia, dentro da mesma linha de pensamento, reservas para o comboio. Aliás, o avião privado foi solicitado para levar Sá Carneiro de volta para Lisboa após o comício e permitir cumprir a agenda de primeiro-ministro na manhã do dia seguinte. E não havia avião da TAP para fazer esse regresso após o comício.
Quem insistiu na ideia do avião da TAP como uma mudança de última hora, ampliando as dúvidas em relação a um acidente e não a um atentado, foi o então director-interino do semanário Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa, actual Presidente da República.

A morte ocorreu numa altura em que Sá Carneiro andava a ameaçar fazer um ajuste de contas com os traidores no seu partido, andava a extremar a luta presidencial contra o general Ramalho Eanes e colocava em perigo a estabilidade democrática de Portugal, recusando um futuro bloco central com o PS de Mário Soares.
No campo internacional também coincidiu com o negócio de tráfico de armas para o Irão e que levara à derrota, um mês antes, do presidente norte-americano, Jimmy Carter, perante Ronald Reagan e George Bush. As ligações à CIA ainda estão por esclarecer, mas estão lá, pois Bush tinha sido chefe da CIA e o chefe da sua campanha presidencial, e principal mentor do negócio de tráfico de armas ilegal para o Irão no sentido de atrasar a libertação dos reféns norte-americanos em Teerão, William Casey, foi depois nomeado chefe da CIA. Na altura da morte de Sá Carneiro, o número dois da CIA era o ex-embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Frank Carlucci, uma pessoa que não tivera boas relações pessoais com o primeiro-ministro durante a sua permanência no nosso País.
De resto, bom jantar em família!