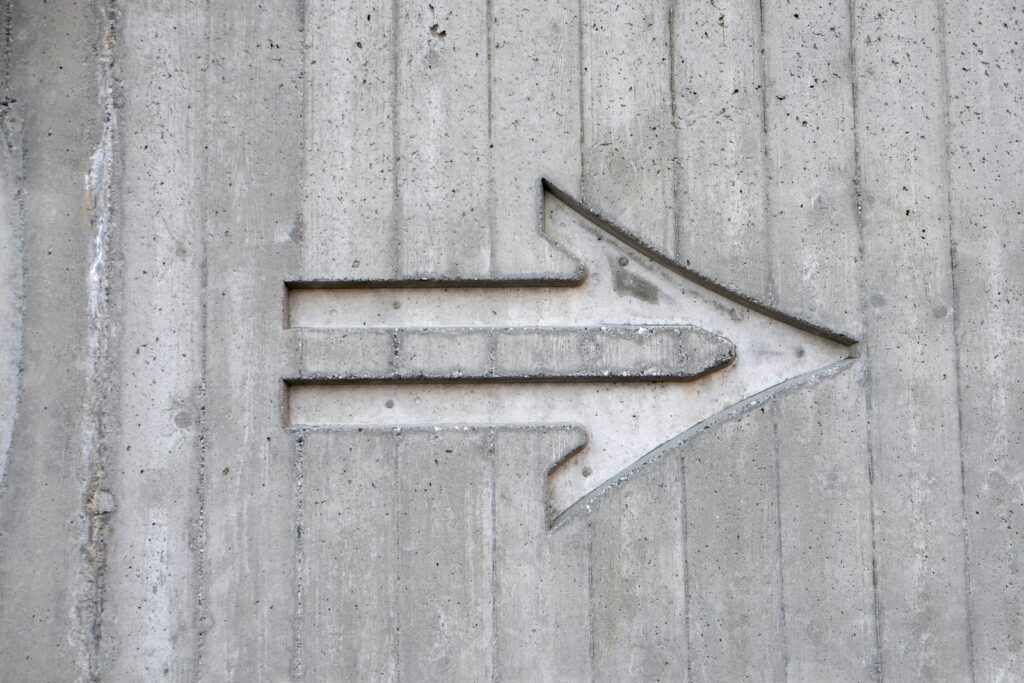Todos nós temos caixas, certo? Alguma espécie de caixa, de algum tipo de forma, com algum tipo de conteúdo, mesmo que seja o vazio. (Meu coração é uma caixa de madeira.)
Numa caixa de madeira, os sulcos acumulam-se, num cheiro de tempo que passou, que se agarra às coisas, agarra-se aos tecidos desde quando ainda lá guardávamos o enxoval, algodão com cheiro de floresta cortada. (E já dizia o poeta que era como um cofre que não se pode fechar de cheio.)

Numa caixa de música, pequenos mecanismos rodam em dentes, suavemente percorrendo uma fita (de tempo), a mordiscar vazios para produzir melodias (pequeninas), muitas notas de música a reverberar desde os primeiros dedos que as marcaram na História do Mundo. (Meu coração é uma caixa cheia de gente.)
Numa caixa de cordas esticadas, uma guitarra nasce, ou nasce um piano (e têm gente dentro), ou mais instrumentos ainda, que sopram cores dentro dos nossos ouvidos, e as moléculas de água sacudindo-se. (E já dizia alguém que nós somos as nossas coisas, e diria eu, ou as pessoas, que trazemos coladas à pele dentro de nós.)
Numa caixa com portas e janelas nasce a casa, e se nos encostamos à madeira sentimos a temperatura que temos no corpo, encolhemos e esticamos com ela, rangemos à medida que o dia nos comprime, e dilata, berramos num estalido, abanamos com o vento, agarramo-nos à terra. (Eu sou as pessoas que me tocam, vocês todos, minhas palavras são vossas e em nada mais me fico sendo, do que uma criança sentada de pernas cruzadas e o livro aberto sobre a cabeça como um telhado que se faz chapéu e também é feito de árvores.)

Madeira e tempo são árvores, são muletas, são cajados, são martelos, são música, são a tua casa e a minha, timidamente a penetrar o céu e sentadas de pernas cruzadas com um livro a fazer de telhado. São mortos vivos de pé, na nossa vida e na seguinte, desejosos de repousar os ossos na terra para sentir as raízes, tanto em cima como em baixo.
O boneco de madeira, de nariz em crescendo, porque conta mentiras, porque o fizeram viver numa fábula. Quantas vezes a criança o viu apertar os olhos e contar muitas patranhas para tocar com a ponta do nariz na ponta mais alta de uma árvore. E que mal tinha isso? Tudo na busca da fada azul.
Quando o carpinteiro, essa espécie em vias de extinção, apadrinhou e esculpiu a mesa e a cadeira (para que nos sentássemos), acarinhou e oleou o armário (para que nos guardássemos), saberia ele, porventura, que o tempo e a arte seriam servidos enlatados (“lavados com champô”)?

Esfreguem pauzinhos para fazer fogo; se o vento estiver de feição, poderemos lamber montes em braseiro desmedido. Ou deixem submersa a madeira, a inchar e a chupar a água que nos deixa verdes. Quando o musgo crescer, saberemos então onde fica o norte. E já não nos perdemos na mata.
Mariana Santos Martins é arquitecta
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.