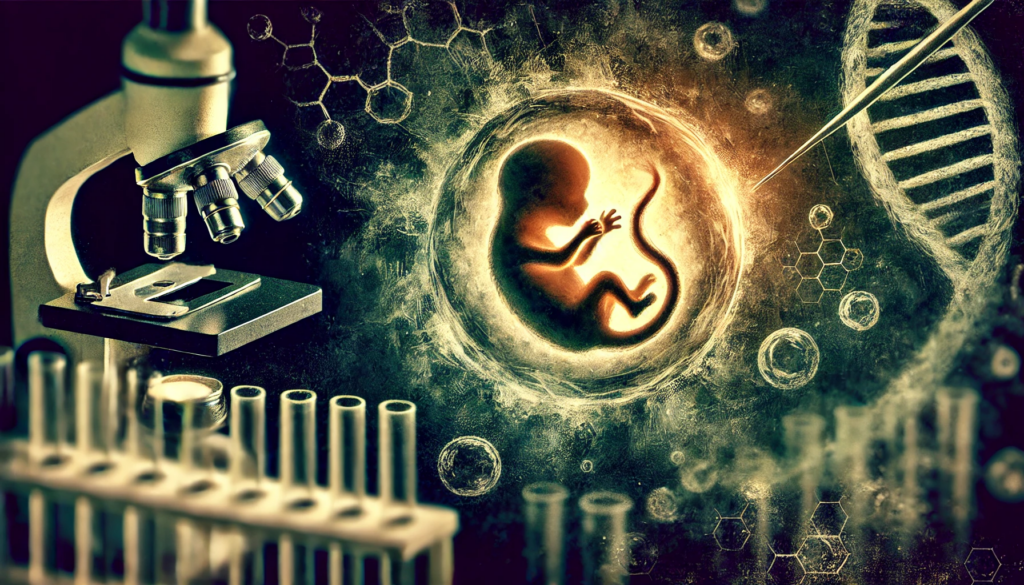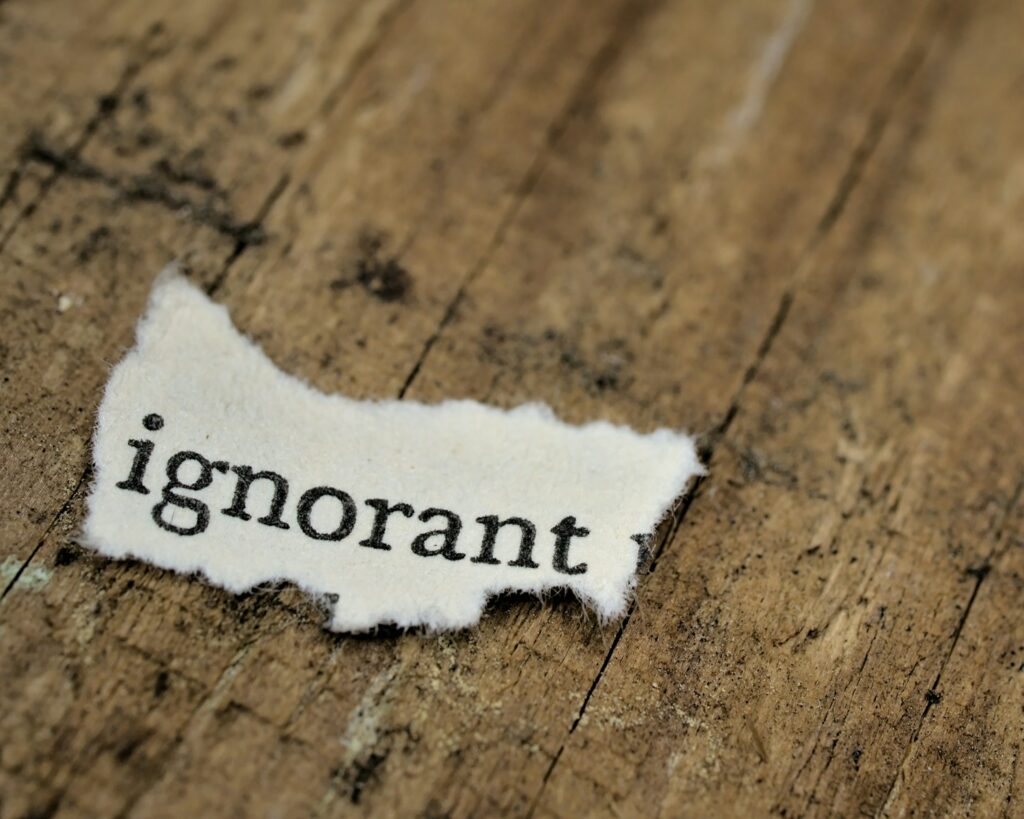Segundo as mais recentes notícias… parece que a cidade se encontra num singular estado de efervescência filosófica.
Edgar Allan Poe
UM HOMEM NA LUA
Se alguém conhece bem as estações de metro de Lisboa, eu conheço. Durante os últimos anos em que lá vivi, nem sequer tinha carro. Agora que vivo em Estremoz e viajo muito pelo País, desculpem, mas – se alguém conhece bem o terminal rodoviário de Sete Rios, eu conheço. Ambos os conhecimentos, quando aplicados a mim, podem ter a certeza de que querem dizer uma coisa muito importante: conheço muito, muito bem as lojas da Mbooks. Tenho a biblioteca cheia de grande, preciosa literatura, novinha em folha, comprada por cinco euros, às vezes mesmo por três. E, sem esses preços de fundo de colecção, nunca teria possuído condições materiais para ir enchendo desta forma as minhas prateleiras. A pessoa pode dizer coisas horríveis sobre a Mbooks, nomeadamente que em muitos pontos de venda oferece péssimas condições de trabalho aos seus funcionários, ou que lhes paga muitíssimo mal sem lhes dar quaisquer condições de segurança. Mas aqui não é isso que está em causa. Está em causa as pessoas poderem aceder presencialmente[1] e financeiramente a livros formidáveis dentro do perímetro dos seus trajectos quotidianos, fora do espartilho pouco convidativo e pouco compreensível dos circuitos destinados à elite. E podem demorar o tempo que quiserem a fazer as suas escolhas. Os trabalhadores de serviço podem não perceber absolutamente nada de literatura[2], mas são sempre extremamente prestáveis e simpáticos. Isto vale ouro. Da maneira como espiralou hoje a ignorância[3], isto é dos melhores serviços que alguém pode prestar aos livros. Enquanto forma de arte, a literatura merece-nos o maior dos respeitos. Não há pior desrespeito do que começar a empurrá-la para fora de cena. Às armas. Alerta.
Há que ver que os meus longos encontros com o Terminal Rodoviário de Sete Rios começaram muito antes da minha mudança para Estremoz. O meu País atribuiu-me o estatuto de pária logo aos cinquenta anos, e a partir daí, desde que os meus filhos deixaram de precisar da minha presença e orientação constante[4], sempre que não estive em Amherst dei muitas voltas ao texto para evitar a agressividade guerreira das pessoas com que costumava cruzar-me em Lisboa. Olha que gaita, não gosto de sofrer. Andei numa grande ciganagem por refúgios longínquos, bonitos e tranquilos, esconderijos benevolentes e terapêuticos onde fosse fácil viver dentro do círculo daquelas amizades simples, descomprometidas e autênticas que ali existem, e esquecer tudo o resto. Era só chegar a Sete-Rios, pedir um lugar à janela como ainda hoje peço, e ficar a ver o País deslizar do outro lado do vidro: várias horas mais tarde, tudo era muito mais leve, e todos os episódios confrangedores se tornavam hilariantes.
Lembro-me de uma vez voltar com a Nídia da praia e de nos sentarmos as duas no muro a contar moedas pretas, para vermos se, entre um e dois cêntimos, conseguíamos ou não totalizar o euro inteiro de que eu precisava para voltar para casa. Conseguimos, mesmo à justa. Ainda me lembro perfeitamente dos olhos furiosos do motorista quando eu lhe despejei na mão aquele cascalho todo, a dizer “está certo, eu e a minha amiga estivemos a contar todas as moedas, dá mesmo um euro”; e a Nídia, do outro lado da porta, parada no passeio: “é verdade, contámos as duas, está absolutamente certo.” Ainda se fosse algum surfista, algum monhé, algum preto de cabelo pintado. Mas não. Francamente. Duas senhoras como nós, já a puxar para o idoso, compostas e bem vestidas e tudo. A pagar em moedinhas de um cêntimo. Está tudo maluco.

A Nídia diz que foi só o autocarro arrancar e desaparecer por trás da curva. Deixou-se cair em cima do muro e riu, riu, riu, riu, em perfeito contraciclo com o dia de Inverno de nuvens escuras encasteladas a toda a sua volta.
Chama-se a isto rir na face da desgraça. É a nossa única forma de sobrevivermos felizes, e de sairmos das nossas provações ainda boas pessoas, talvez pessoas melhores. Continuo a sentir imensas saudades do meu grupinho de amigas e dos homens interessantes com tempo para conversar que fui construindo sem ninguém ver. Tenho saudades do meu ermitério no Penedo, tenho saudades da grande família que me acolheu em Colares quando o mundo veio abaixo. Foi uma troca por troca que me fez muito bem: fiquei na miséria, mas cheia de paz. Consegui escrever livros que andavam há muitos anos para serem escritos.[5] Consegui, finalmente, preparar com pés e cabeça, e com toda a concentração deste mundo, a candidatura à bolsa da Fulbright que acabou por permitir a minha partida para os Estados Unidos para recomeçar a estudar e tornar-me co-autora de mais um livro de investigação. Recomecei, por fim, a gozar-me da liberdade de ficar na cama à noite a ouvir rádio baixinho[6] e a ler madrugada dentro se muito bem me apetecesse. Era só estar um lindo dia de sol em Abril que eu agarrava imediatamente no José de Oliveira Cosme[7] e bazava dali para a praia, para todos os seus efeitos terapêuticos, e para os ocasionais bons amigos e boas conversas que se têm na praia a título extemporâneo[8].
E fartei-me de rir. O tempo todo. O cenário pode ser duro, o caminho ainda mais, mas assiste-nos o direito de nos divertirmos com as nossas próprias desgraças.
Quando cheguei ao Sudoeste, dada a abundância de turistas por ali naquele tempo, e à minha abundância de roupa acumulada noutros tempos, ainda me ri bastante com a Ana nas nossas deslocações às feiras locais sempre que não estava a chover, para regatear furiosamente com as estrangeiras os preços das minhas roupas mais finas. E contava-lhes histórias intermináveis, no fio da navalha entre a verdade e a ficção, sobre a origem e a história de todas aquelas maravilhas exóticas, apelativas, intactas, e subitamente vendidas ao desbarato numa feira de ferro-velho qualquer. A Ana ouvia, ouvia, e pasmava com a minha capacidade de contar as mesmas histórias sempre de forma diferente de cada vez que mudávamos de poiso e vinham de lá outras estrangeiras interessadas. “É que nem sequer são as mesmas gajas” – comentava ela. “Mas eu assim divirto-me muito mais” – explicava eu. E era verdade. Era bastante melhor do que todas as alturas em que fiz psicologia pop para tentar animar as leitoras deprimidas que se aproximavam devagarinho, com os olhos muito abertos, estancavam, abriam e fechavam a boca em silêncio, e finalmente diziam, muito baixinho, de queixo caído, “mas você é a Clara Pinto Correia”, ao que eu respondia com um sorriso, “pois sou, e este filme podia ser muito pior, aqui ao menos tenho amigas[9], e tenho roupa para vender.” Seguiam-se vários lamentos explicativos das grandes depressões delas, por vezes até com prantos demonstrativos. E eu, já que ali estava e aquelas mulheres não tinham vindo até à minha banca para comprar roupa, dava todo o meu melhor para conseguir fazê-las rir[10]. Houve só uma vez em que a Ana sibilou, enquanto estávamos a fazer marcha atrás para virmos embora: “fds que eu não sei como é que tu aguentas isto.[11]” Mas é preciso ver que, nessa feira específica, num dia inverno cheio de humidade, nem eu nem ela tínhamos conseguido vender uma única peça.

Nesta aldeia, como ao fundo de outros destinos da camioneta, a Ana e a Nídia apreciavam particularmente os livros sempre diferentes que eu trazia de Lisboa, e que procurava trazer sempre em português. Era sempre da melhor literatura que há no mundo, adquirida sempre por preços absolutamente compatíveis com o meu estado de desgraça, porque a trazia comigo sempre da mesma maneira: chegava uma hora adiantada ao terminal, e, depois de comprar o bilhete e tomar café, passava-a quase toda dentro do espaço exíguo mas sobrelotado da sua loja da Mbooks. Por acaso é uma daquelas que oferecem péssimas condições, tanto aos funcionários como aos utentes, o que é absolutamente lamentável para um ponto de venta que cobre o País inteiro. Mas tem escondidas lá dentro arcas do tesouro impressionantes. Da primeira vez que lá entrei rumo ao meu esconderijo no Sudoeste encontrei um caixote com restos da famigerada colecção Europa-América a dois euros. Com tanta sorte, entre eles estavam alguns exemplares de um dos meus eternos livros de cabeceira, o GREEN HILLS OF AFRICA do Hemingway. O título estava traduzido para português como AS VERDES COLINAS DE ÁFRICA, já se sabe que o que é bom naquela colecção não são as traduções mas antes o grau de abrangência, e a verdade é que consegui comprar um para cada uma delas, e ainda um romance da Pearl S. Buck[12] para mim – qualquer coisa que, sabe-se lá como, tinha conseguido escapar ao meu momento de devorar compulsivamente tudo o que existisse da laureada americana na Europa-América, durante um mês de férias passado em Sesimbra quando eu tinha doze anos. E ainda fui tomar outro café para saborear as primeiras páginas até chamarem para o embarque no meu expresso.
Nem me lembro de quando é que começou a tradição do terminal de Sete-Rios; mas, nessa altura, já a tinha totalmente incorporada: quando se viaja compra-se um livro. Uso pouco os comboios e os barcos que servem Lisboa; mas, se usasse, também me dava ao mesmo luxo: há uma loja da Mbooks naquele terminal enorme do Cais do Sodré. E, diga-se de passagem, está localizada e organizada de forma substancialmente mais digna do que a loja de Sete-Rios. É um desperdício as pessoas tenderem a passar todas por ali cheias de pressa. Eu, que não vivo em Lisboa, já lá parei algumas vezes nestes últimos anos, e confirma-se: tem uma grande quantidade de grandes obras a preços inacreditáveis. Claro que há sempre diferenças de uma loja para outra: no Cais do Sodré, já quase que tive de mandar um par de berros à jovem demasiado simpática que estava de serviço para que, antes de mais nada, parasse de falar comigo em inglês; e, a seguir, para que parasse de andar atrás de mim, que eu tinha tempo e preferia procurar o que me interessava sozinha. Também se nota que estão para venda muito mais obras em francês e inglês, algumas em espanhol, outras tantas em alemão.
Por mim tudo bem, gosto de ler noutras línguas e não tenho vontade nenhuma de morrer estúpida; mas estes livros tendem a ser mais caros do que as edições portuguesas, e, nesse pormenor, de certeza que afastam os leitores de salário mínimo como eu. E o primeiro-ministro pode dizer o que muito bem lhe apetecer sobre a abundância e a estabilidade portuguesas, que isso não impede que toda a gente saiba que Portugal está cheio de pessoas pagas a salário mínimo. E que se falou nisso o menos possível, mas ficou muita gente desempregada no final de 2024. Portanto é bom que os livros não fiquem mais caros. Pelo menos, para quem tiver essa prioridade e arranjar esse tempo, os livros que se descobrem no meio de todas as tretas que também se vendem na Mbooks são alimento para alma. Às vezes é um alimento tão precioso que ficamos a devorá-lo durante a noite inteira.

Enquanto estive em Lisboa, a melhor loja da Mbooks era, sem dúvida, a do metro da Alameda. Talvez agora alguém me escreva a dizer que ela já não existe e, assim, a dar-me um grande desgosto; mas na altura existia e era a mais digna e limpa de todas. Havia mesmo um balcão grande a separar a funcionária dos potenciais compradores, e do outro lado do balcão havia uma cadeira de escritório. Os conhecimentos literários da funcionária podiam não ser grande coisa, mas ao menos não nos incomodava depois de lhe dizermos que não precisávamos de ajuda: calava-se, ouvia a sua música, e sorria-nos quando vínhamos pôr as nossas escolhas em cima do balcão. Até álbuns de capa dura, daqueles que são muito bonitos para pôr na sala, mas estes com o valor acrescido de serem também extremamente interessantes e rigorosos[13], eu trouxe dessa loja. Enquanto vivi no Bairro dos Actores, usar aquela saída do metro era a bem dizer obrigatório sempre que acabava de ler um livro: tinha de passar por lá logo a seguir para trazer outro para casa. Estava de tal forma viciada que nem conseguia dormir se não estivesse antes pelo menos uma hora a ler, idealmente de janela aberta para a felicidade do Verão em Lisboa, ou então de vidros encostados contra a toada suave da chuva a cair lá fora. Foi o período em que a minha biblioteca pessoal cresceu mais[14], sem ser preciso fazer nela nenhum investimento que doesse na carteira, por pobre como tudo que eu fosse. Empilhar cada vez mais livros dentro do meu quarto dava-me uma sensação de empoderamento que não era brincadeira nenhuma. Cada maluco tem a sua.
A loja de Sete-Rios não é nem digna nem limpa, mas ao menos é costume lá estar um senhor que gosta mesmo de livros. Foi lá que comprei os meus Faulkners e os meus Fitzgeralds, além de um Chandler que eu nem sabia que existia, porque se chama (mal traduzido) O PARQUE DOS VEADOS, e é ainda mais sufocante do que OS DUROS NÃO DANÇAM. Conheço-a bem. E esta pérola de desrespeito, perigosíssima quando entramos numa segunda era Trump que todos sabemos que vai ser ainda mais inculta e mais cheia de armas em casa do que a primeira, acaba de acontecer há cerca de um mês atrás.
Vinha eu estafada, depois de dois dias extremamente cansativos de revisão de provas, a entrar no terminal exactamente uma hora antes do expresso das dezanove, o último que sai para Estremoz todos os dias. Compro o bilhete, não trago bagagem, vou mas é a correr para a loja da Mbooks. E estranho logo a situação, porque as luzes estão baixas, parece mesmo que já fecharam, mas ainda faltam uns bons três quartos de hora para o fecho oficial. Vejo o tal senhor a andar de um lado para o outro feito barata tonta, e pergunto-lhe se a loja já está fechada.
“Não. Estamos só a poupar energia, no caso de não vir ninguém. Mas entre à vontade. Eu subo a luz.”
“Mas o senhor…”
“Ah, não ligue. Eu estou só a carregar mobílias. A loja tem que perder bastante tamanho para a Rodoviária poder instalar os seus bancos novos.”
“Bancos? Quais bancos?”
“Então a senhora passou mesmo por eles e não os viu? Olhe ali.”
Eu até fiquei arrepiada. Era mesmo verdade que passei ao lado do banco para onde ele apontou. Era uma daquelas estruturas em círculo, com cerca de oito lugares a toda a volta, que depois são forradas com espuma para maior conforto, e cobertas com napa ou com qualquer outra imitação de tecido resistente para melhor efeito visual. Se iam instalar ali, num lugar já contaminado pelo grande carrinho das pipocas, vários bancos destes ao mesmo tempo, então a Mbooks tinha de encolher, e encolher bem.

Sempre gostava de saber quem é que lucra com estas jogatanas, porque os passageiros não são de certeza. Em todos estes longos anos de uso do terminal de Sete-Rios, nunca vi todos os bancos cheios. Nem os de dentro nem os de fora do terminal. Nem sequer os da esplanada coberta ao lado da descida para o metro e para os táxis, sem dúvida os mais agradáveis de todos, que podem parecer apinhados num determinado minuto, mas há um código secreto nunca escrito que nos permite sentarmo-nos nas mesas uns dos outros desde que existam lá cadeiras vazias, e além disso estão sempre a vagar mesas de pessoas que se levantam para irem apanhar o seu expresso. Não é o povo português quem vai ganhar mais lugares sentados no terminal de Sete-Rios.
O povo português vai é perder ainda mais a sua simplicidade no acesso aos bons livros, o que é um tremendo insulto à literatura e um desrespeito total pelas pessoas.
Verguenza, como diria o Papa Francisco.
Clara Pinto Correia é bióloga, professora universitária e escritora
[1] NÃO É A MESMA COISA DO QUE COMPRAR LIVROS NA INTERNET, OU NÃO CONSIGO FAZER-ME ENTENDER? Comprar livros segurando neles, folheando, aspirando o cheiro do papel, estudando a capa – é outro tipo de experiência, e basta.
[2] “Onde é que tem as obras de ficção?” – A menina sorri, hesita, vasculha a loja com os olhos – e finalmente aponta com o dedinho rematado numa unha de gelinho perfeito para uma estante de livros com aneis de Saturno, pessoas em Marte, robôs, e assim. Como é evidente, “ficção” é a forma mais rápida de dizer “ficção científica”.
[3] “Para ler? Então, gosto de fantasia.” Por “fantasia” entenda-se aqueles livros enormes com sagas em três volumes à maneira do SENHOR DOS ANEIS, todas iguais e todas igualmente deploráveis. Os putos enchem as mochilas daquilo até mesmo ao cimo.
[4] Bem. Honestamente, é mais que atingiram os dois a maioridade e eu deixei de ter essa obrigação de mãe solteira. Claro que o Dick achava a esse respeito imensas coisas que eu não achava. Mas ele nunca tinha sido pai solteiro.
[5] Deste período, o melhor exemplo é um dos meus romances preferidos, NÃO PODEMOS VER O VENTO.
[6]Nessa altura a rádio pública passava óptimos programas nocturnos. Daquelas plantas raras e delicadas que, depois de cortadas uma vez, já não voltam a crescer. E ninguém parece preocupado com o vazio gelado que deixam atrás de si.
[7] Era o meu cachorrinho da altura, trazido com muito amor e carinho do Canil Municipal de Sintra. Parecia um cão d’água preto e branco em miniatura, e – felicidade! – quem o abandonou já o tinha ensinado a só fazer necessidades na casa de banho.
[8] Levo a Marta à Praia da Aguda, de todas a minha preferida com a sua imensidão de degraus, num fim de semana de sol esplêndido adiantadíssimo no calendário. A Marta anda triste como a noite, e aquele prazer em fins de Março, na perfeita Lua Cheia, faz-lhe bem de certeza. No grande areal do equinócio, em plena Maré Vazia, só estamos nós e um casalinho esquisito – ela é muito jovem, mas aquela boca tão torta só pode ser a marca de um AVC bastante sério, e ele anda com os pés para fora, em movimentos sincopados como os dos patos, orientado por uns olhos completamente tortos. Depois de eu lhes mostrar como é que os camarões aparecem nas poças de água que o mar deixa atrás de si nas rochas, percebemos que a lesão dela é tão grave que mal consegue falar, mas ele conta-nos tudo pelos dois. São ambos antigos heroinómanos que se amavam de paixão, e que, numa noite de Verão, foram para o terraço da casa dos avós dela no Magoito e administraram a si próprios uma overdose de mãos dadas, porque no beco onde se tinham encurralado já não existia qualquer saída. Ambos sobreviveram. Mas ambos estiveram tanto tempo em coma, e ambos perderam tantas faculdades e sentidos, que já nem conseguiam namorar: limitavam-se a dar apoio um ao outro naquela caminhada difícil pela normalidade. Sobreviviam das aguarelas psicadélicas dos acampados em todas as tribos e capelinhas das festas trance, que estavam à época no seu pico de popularidade; e das carteirinhas de filtros já prontos para enrolar e pôr nos charros que a empresa dele produzia em Vila do Conde e fazia circular nas festas por cinco euros. Mostrou-nos uma, eu disse “epá, mas que grande ideia, o filtro é sempre o pior,” e comprei-lhe logo três. A Marta estava a olhar para nós com os pezinhos estendidos para a rebentação e os olhos cheios de lágrimas. “Não é convosco,” acabei por esclarecer eu. “A Marta anda mesmo, mesmo muito triste.” O vesgo deu-lhe um abanão. “O que é isso?”, perguntou-lhe ele com um vago sotaque nortenho. “Gostas de perder o teu tempo? Mas ouve lá, tu não sabes que a vida é muito curta? Vai mas é a umas festas, mulher!” A Marta corou até à raiz dos cabelos, como uma virgenzinha que até aí foi sempre protegida mas de repente está sozinha e tem que entrar em diálogo com o taberneiro mais tinhoso ali do sítio. “Festas?” hesitou ela, com toda a franqueza. “Mas isso é o quê?”. Eu não foi por maldade, foi mesmo por carinho: desatei a rir. “Ó querida Martinha! Com toda a tua experiência da vida não sabes mesmo o que são as festas? Olha, prometo: este Verão, assim que for a primeira festa aqui nas florestas de Sintra, eu agarro no José de Oliveira Cosme, arranjo uma tenda emprestada, vou a Lisboa buscar-te e levo-te lá.” – “Uma tenda?” – “Pois, uma tenda.”
E foi assim que tudo começou.
[9] Gesto dramático de passar o braço pelo ombro da Ana, que odiava essas mariquices.
[10] Apanham-se grandes sustos com estes instintos de escuteirinho. Por exemplo: “Ai, meu Deus. Já não me ria há tantos anos. Clara, desculpe, mas agora tenho imenso medo de voltar a sair de ao pé de si.” E se nesse dia não estivesse lá a Ana, para acabar expeditivamente com o dilema a título de dona do carro? “A menos que queiras ir com a gaja, nós vamos mas é bazar, boa?” – “Pois, muito obrigada, e por mim é já.”
[11] A Ana passou grande parte da vida na Áustria, onde se licenciou em Economia. É casada com um Surfista escandinavo, tem quatro filhos, dá aulas de Português a estrangeiros, e de Maio a Outubro tem uma banca de ornamentos na calçada que contorna a praia. Não fazia a menor ideia de tudo o que eu tinha aguentado antes. E depois. Aguentar “aquilo” era, obviamente, uma pera doce.
[12] Não é uma questão de snobeira. Não me lembro mesmo da tradução portuguesa do título.
[13] Tenho na minha sala, aqui em Estremoz, um desses álbuns A4/capa dura da Mbooks. O título diz, apenas, THOMAS MORE. É uma belíssima biografia, cheia de informação sobre a Renascença e sobre a corte demente de Henrique VIII.
[14] A minha enorme biblioteca pessoal anterior foi cruelmente saqueada e destruída no armazém dos amigos a quem eu tinha pedido que a guardassem até eu conseguir assentar arraiais, e a minha colecção de CDs, tão difícil de construir, levou o mesmo caminho. Salvaram-se todos os meus livros académicos, que felizmente estavam depositados no Instituto Bento da Rocha Cabral; e também toda a minha ficção de cabeceira, que eu guardei sempre comigo para me dar força. Quando me instalei em Estremoz, achei por oferecer as cerca de cem obras da minha colecção de ficção científica à Biblioteca Municipal, uma vez que eu já não preciso dela, mas talvez outras pessoas precisem. Grande parte de tudo o resto veio da Mbooks.