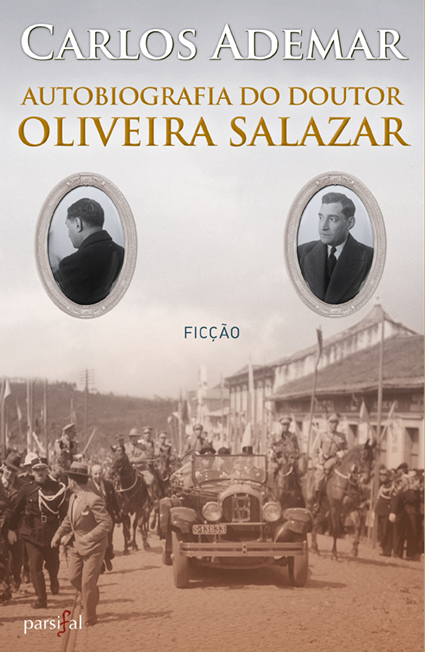O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, fundado em Julho de 2015, está em profunda transformação. Rui Lima, gestor, 38 anos, é presidente do PURP desde Abril de 2023. O número dois do partido é Pedro Girão, médico anestesista. Ambos tiveram um papel na pandemia, tendo sido vozes na defesa da democracia, dos direitos civis e dos direitos humanos e também falando em prol de medidas baseadas apenas na evidência científica – e não na política. O tempo deu-lhes razão. Nesta entrevista, Rui Lima fala dos objectivos do partido, cujo futuro está nas mãos do Tribunal Constitucional, o qual está a analisar os novos estatutos, bem como uma nova denominação – ATUA – e um novo símbolo. Esta é a sétima entrevista da HORA POLÍTICA, a rubrica do PÁGINA UM que deseja concretizar o objectivo de conceder voz (mais do que inquirir criticamente) aos líderes dos 24 partidos existentes em Portugal. As entrevistas são divulgadas na íntegra em áudio, através de podcast, e publicadas com edição no jornal.
OUÇA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA DE RUI LIMA, PRESIDENTE DO PARTIDO UNIDO DOS REFORMADOS E PENSIONISTAS (PURP), CONDUZIDA PELA JORNALISTA ELISABETE TAVARES
O Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, conhecido pela sigla PURP, está em transformação. Este é um partido que foi criado em Julho de 2015, e que teve, em Abril de 2023, a eleição de novos órgãos sociais. Teve também, mais recentemente, em Outubro, num Congresso extraordinário, onde foram aprovadas muitas alterações que estão agora a aguardar aprovação por parte do Tribunal Constitucional. Que transformação é esta? É um partido novo que está a nascer?
Sim, exatamente. O PURP tinha um objeto, que era relativamente aos reformados e aos pensionistas, que é importantíssimo e cada vez mais é importante. Aliás, é a base de um dos problemas que achamos que tem que ser discutido na praça pública e é preciso ação. Porque, daí, nasce realmente um problema e outro conjunto de problemas que achamos que são graves, que se passam, hoje, não só na sociedade portuguesa, infelizmente, mas internacional. Mas vivemos aqui em Portugal, temos de atuar naquilo que é a nossa sociedade como membros ativos da sociedade. São problemas sérios que, infelizmente, de todos os partidos que têm assento parlamentar ou até que não têm assento parlamentar, não abordam, não tocam, porque é tabu, por não quererem entrar nesse tipo de debate, porque são assuntos muito “populistas” ou assuntos em torno dos quais existe já uma narrativa na cabeça das pessoas que é muito difícil de sair, neste momento. Acreditamos que são de elevada prioridade e que é preciso haver um grupo de cidadãos como é este o caso – somos um grupo de cidadãos, não temos qualquer ligação política ou qualquer carreira política no passado –, mas um grupo de cidadãos que quer, realmente, tocar em pontos que achamos que são muito importantes e que, infelizmente, ninguém fala.

Já nos conhecíamos, nomeadamente de debates sobre democracia e direitos individuais, direitos civis, direitos humanos. Há aqui pontos que o vosso partido quer endereçar. Em 15 de Outubro, no vosso congresso extraordinário, aprovaram, na ordem de trabalhos, propostas de alteração dos estatutos. Também a alteração da declaração de princípios e também uma proposta para um novo nome e símbolo, propostas que foram, de resto, aprovadas e submetidas ao Tribunal Constitucional. O que é que é este novo partido, o que vai defender? É de esquerda, de direita, vai defender os pensionistas, vai também defender os jovens?
Pegando no tema da esquerda e da direita, acho que esse é um tema, hoje, já completamente desactualizado. Não somos nem de esquerda nem de direita. Uma coisa também posso garantir: não somos socialistas, nem populistas, nem nacionalistas, portanto, não temos essa posição. Queremos tocar em temas que são prementes, temas que estão ligados ao peso elevado que o Estado detém sobre as nossas… E queremos tornar num partido que, nos vários temas, incluindo, por exemplo, os temas das pensões e daquilo que é o sistema de Segurança Social actual, e outros temas, em que [se] dá autonomia às pessoas e liberdade às pessoas. É um partido centrado na liberdade individual das pessoas. Nos últimos anos – isso tem acontecido cada vez mais – vemos cada vez mais esses direitos, liberdades e garantias serem violados, constantemente.
É um partido que tem aqui um cariz muito vincado em termos de ser composto e ser liderado por cidadãos, ou seja, sem ligação à política. Tem novos órgãos sociais, incluindo tu próprio.
Posso falar de mim e, neste caso, dos outros órgãos… Ninguém teve uma carreira política. Estamos a falar de pessoas como eu, que sou gestor. Estamos a falar de pessoas que são, por exemplo, um médico, ou pessoas comuns, que têm funções normais do dia-a-dia. Como a maioria de nós, portugueses, queremos tocar realmente em pontos e achamos que a sociedade está muito passiva e queremos tentar mudar isso. Queremos que as pessoas comecem a tocar em temas que achamos prementes e queremos mostrar isso através do facto – e acho que é importante – de ter pessoas comuns, pessoas da sociedade que acham que tem que se fazer alguma coisa e que precisamos de tocar em temas que são urgentes.
Mas qual é o português que se mete na política, hoje? É preciso ter algum tipo de coragem ou um misto de loucura, digamos assim, para se meter na política. O que é que leva um Rui Lima… E quem é o Rui Lima?
Sou um cidadão comum. Não sou, nunca tive, nem tenho ambição política, portanto não tenho passado político. Tenho o meu trabalho, tenho o meu negócio, tenho as minhas coisas, dedico um tempo da minha vida à parte social, pelo simples facto de achar que há temas, como estes que vamos abordar, que ninguém aborda. E, hoje, é muito difícil – então na política – ter uma atividade cívica. Porque está tudo tão embrenhado já num poder que está instalado, em que são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos, que as pessoas já desistiram, em parte. E é isso que temos de tentar mudar ao longo do tempo. As pessoas já desistiram de ter uma voz ativa. Já assistimos a entrevistas a pessoas na televisão ou nas redes sociais a dizer que isso já é um problema das gerações futuras. E “que eu não vou conseguir fazer nada”. É a atitude da maior parte das pessoas, hoje. E “eu sou mais um, no meio deste emaranhado de pessoas, e não vou conseguir fazer nada, não vou mudar nada”. E, se todos pensarmos assim, realmente – e essa é que é a realidade actual –, estamos entregues a um conjunto de pessoas. Estamos entregues a uma elite que domina e temos de continuar a cada vez a pagar mais impostos, cada vez mais a ver as nossas liberdades e as nossas garantias a serem violadas constante. E olhamos para o futuro e vemos as gerações futuras, ou a terem de ir lá para fora, porque não veem futuro, não veem oportunidades. Os portugueses estão estagnados a nível de rendimentos e ao nível de crescimento, há décadas. Já estamos a falar de décadas, estamos a falar nos últimos 20 anos, Portugal não cresce, tem um crescimento residual. Estamos a ser ultrapassados por vários países da Europa, mesmo com a Europa a ter um conjunto enorme de problemas. E isto tem sido uma constante ao longo do tempo.

Aliás, numa entrevista ao PÁGINA UM, Nuno Palma, economista e professor na Universidade de Manchester, aconselha os jovens a votarem com os pés, a saírem do país, porque o país não lhes vai dar nada, nenhum futuro decente. Acreditas que estes pequenos partidos de cidadãos, em Portugal, podem ainda fazer a diferença? Podem ainda causar a mudança ou criar aqui uma transformação do país?
Podem, mas temos que sair um bocadinho dentro do habitual, temos que começar a falar de temas que não são populares, mas que precisam de ser mexidos. Um deles, que afeta os jovens, indirectamente, é o sistema da Segurança Social actual, ou seja, há para os reformados. Actualmente, já é mau porque estamos … O nosso sistema de Segurança Social, é um esquema em pirâmide puro, não tem sustentabilidade a longo prazo. E ainda conseguimos viver porque ainda temos uma grande fatia da população que está a contribuir ainda para a Segurança Social. Nos próximos 20 anos vamos ter o grande bolo da população a reformar-se. Vamos ter um problema, vamos ter um problema grave para essas pessoas que contribuíram. O que vão fazer? Não [se] tem outra hipótese: é aumentar impostos, adiar a idade da reforma ou cortar-lhes a reforma. E os jovens vão viver presos para sustentar uma geração e, depois, no futuro, eles próprios não vão usufruir de nada disso. É um exemplo de um dos temas que ninguém quer tocar, mas que é algo que nos vai explodir na cara mais tarde ou mais cedo, aos poucos. Não pode não ser uma explosão logo imediata, mas vai escravizando a sociedade para um problema futuro que, se não for discutido e se não pensarmos noutra saída, este sistema habitual… Temos um problema gravíssimo para as gerações futuras.
Ou seja, não está a ser visto o país numa lógica de médio e longo prazo de planeamento, mas sim, apenas está a tocar-se tudo “pela rama”, naquilo que é o curto prazo e a gerir sempre o país um bocadinho nessa base.
Em todos os temas, seja na Segurança Social, especialmente neste, que tem efeito a longo prazo, só se olha a curto prazo. Ninguém quer olhar, ninguém quer tocar neste tema, neste problema. É um problema que vamos ter. Os reformados actuais vão ter esse problema, mas os futuros reformados e os jovens vão ter um problema gravíssimo pela frente. Vão ser escravos desse sistema. E a saída disto vai ser muito difícil e quanto mais se adiar, quanto mais tempo passar, estamos a avolumar. Já está um lixo enorme debaixo da carpete e vai-se avolumar cada vez mais.
Ou seja, o país tem vivido um bocadinho a “apagar fogos” e tem de deixar de ser esse tipo de país.
O nosso grande problema é esse. Só se olha para jusante. Só se olha para o problema quando estamos ali, quando o rio já está no fim. Quando o problema é muito anterior. Quando não se não se toca nos problemas … Note-se, andamos sempre a apagar fogos. Os outros países da Europa também vão pelo mesmo caminho. Portugal não é único. Uns mais tarde, outros mais cedo, mas nós é que vamos sempre a correr atrás do problema. Vamos ter aqui, obviamente, um problema grave na Saúde, na Segurança Social… Vamos ter, mais tarde ou mais cedo, um problema grave e, se não fizermos nada, vai ser pior para todos.
Voltando aqui ao partido, não estão a concorrer às eleições legislativas. Têm planos para o futuro? Qual o novo nome do partido e qual é o símbolo?
É difícil mostrar por rádio [podcast], obviamente, mas tem a ver com acção. E o nosso objetivo é sensibilizar os portugueses, em geral. Podemos ter uma voz ativa, todos. O insucesso é sempre garantido, portanto, temos de fazer com que tudo seja um pequeno ou grande sucesso. E achamos que é necessária a acção na mão das pessoas e dar autonomia às pessoas para terem uma voz activa, que é isso que nos falta, hoje. Queremos que as pessoas, em todas as áreas, na acção cívica política, seja o que for, que podem ter uma voz activa novamente e não ficarem dependentes daquilo que é o status quo e só um conjunto de pessoas que decide sobre nós e ficamos remetidos… “Olha, eu não consigo fazer nada”. É isso que queremos.

e da sua nova denominação, ATUA.
Mudar, meter a “mão na massa” não é só votar. Haver um envolvimento maior dos portugueses naquilo que é a acção cívica, mas também política.
Exatamente. E haver debate. E esse é o papel dos media e da comunicação social que, infelizmente, passou a ser … Porque é financiado [com apoios, parcerias comerciais e publicidade estatal] pelo próprio Estado. E o Estado mete a mão na naquilo que é a comunicação social, o que é um perigo e é algo que tem de acabar. Mas tem um papel fundamental de pôr em debate e não ser simplesmente uma comunicação social copy-paste uns dos outros. Sou muito crítico [sobre] o atual estado da comunicação social. É uma comunicação social de agência e de copy-paste uns dos outros, neste momento. Há outros perigos que isso traz: há uma narrativa, há um tema, e todos copiam. É tudo igual. E, mesmo que às vezes possa haver ideias que são incómodas, têm de se dar voz a essas ideias e também ao contraditório, para se poder também desmanchar essas ideias. Não é através da censura ou fingir que esses temas não existem.
Até pelos perigos de desinformação. Porque, quando há um órgão de comunicação social a espalhar desinformação ou notícias falsas, e todos os outros passam essas notícias falsas e essa desinformação, passam a ser dadas como verdadeiras e não são. Há também há esse risco. Como jornalista, tenho observado isso. Mas, voltando à questão do partido: quais são os objetivos? Quando é que o ATUA vai concorrer a eleições? Estão à espera de haver uma resposta do Tribunal Constitucional?
Estamos. Acho que, nessa altura, será o ideal. Porque, aí, já podemos publicar tudo, os princípios. Acho que as coisas têm que ser bem feitas, a seu tempo. Infelizmente, não foi a tempo das legislativas, é impossível. É preferível fazer as coisas bem feitas, do que tudo atabalhoado. Mas, assim que houver oportunidade, e assim que estiver aprovado, penso que aí é a altura ideal para se começar a divulgar mais amplamente os objetivos. Até lá, queremos ter as coisas já aprovadas e publicadas para, depois, começar a fazer a nossa comunicação.
Há alguma perspetiva? Qual o ponto de situação relativamente a uma resposta do Tribunal Constitucional?
Como é algo que depende do Tribunal, tudo depende do tempo de resposta do próprio Tribunal, que pode ser amanhã, como pode ser daqui a uns meses. É muito difícil dar datas. Depois disso, então as pessoas e todos ligados ao partido podem ter o plano para comunicar e lançar e concorrer a eleições. Até lá, é sempre mais difícil, obviamente. Primeiro, tem de ter esta parte [concluída], é o primeiro passo. Tem de aprovada, obviamente. Neste momento, ainda está numa fase muito, muito embrionária.

(Foto capturada a partir de vídeo da Plataforma Cívica Cidadania XXI)
Tens defendido, sobretudo desde 2020, os direitos humanos, os direitos civis, a democracia. Porque os países ocidentais, incluindo Portugal, tiveram um retrocesso no nível de democracia. Houve um aumento forte de mecanismos de censura, a aprovação de leis que vêm limitar e condicionar a liberdade de imprensa. Houve violações de leis fundamentais, já comprovadas também por tribunais, e a violação dos direitos dos cidadãos. És uma pessoa tem sido uma voz em defesa da democracia. Entendes que a democracia está em risco?
Está, neste momento. Está paulatinamente a perder liberdade. A censura tem sido sempre um pretexto para “proteger” as pessoas de desinformação ou para “proteger” as pessoas de notícias falsas. Têm, sucessivamente, criado mecanismos de censura, seja nas redes sociais, seja nos órgãos de comunicação social, em Portugal e lá fora. E vemos a tendência daquilo que se passa lá fora e nos Estados Unidos. Tem sido publicado e tem sido debatido. Infelizmente, aqui nem se fala no tema na nossa comunicação social, da censura e da pressão de governos para censurar jornalistas independentes e pessoas comuns, médicos ou outros que tenham uma opinião divergente daquilo que é a política do governo. Isto é extremamente grave. Está-se a verificar também cá, ao longo do tempo. Muitos dos que falavam que eram contra a censura no tempo da ditadura, antes do 25 de Abril. Hoje, vemos isso a acontecer e parece que está tudo a amorfo relativamente a uma sucessiva censura e de pressão, seja nos órgãos de comunicação, seja até nas pessoas comuns, nas redes sociais.
Em Portugal, tem estado na ordem do dia a crise no nos media, com o Grupo Global Media no centro, Mas também a Trust in News, que é a dona da Visão. A própria Impresa, que também não tem as suas contas muito famosas. Mas tem havido também algumas vozes a tentar puxar para que haja um apoio dos contribuintes ao setor dos media, dizendo que a apoiar os grupos grandes grupos de comunicação social, está-se também a defender o jornalismo e a democracia. Tens essa visão, de que os grandes grupos de comunicação social têm estado do lado da defesa da democracia e do jornalismo?
Não, pelo contrário. Opomo-nos totalmente a qualquer tipo de apoio, seja subsídio, seja em geral, a qualquer empresa privada, seja ela qual for, especialmente da comunicação social. A partir do momento que o Estado e que os governos apoiam a comunicação social, estamos a pôr a mão da comunicação social ligada ao poder e ao Estado. É exatamente o oposto. Jamais o Estado deve intervir ou apoiar e financiar qualquer órgão de comunicação social. E nisso opomos totalmente, assim como nos opomos a qualquer outra empresa privada ou pública. Especialmente, nessa situação, é uma situação muito perigosa. É o oposto. Financiar e estar a apoiar os media, numa ideia de estão em dificuldade e que precisam de apoio, estamos a pô-los na mão do poder que está instalado, num determinado momento. Isso é um perigo para a democracia.

Mas eles já não estão, de certa forma, na mão?
Já já estão. E vamos pôr ainda mais, se vamos ainda dar mais apoio. É ainda por mais na mão do poder que está instalado. Isso é um perigo. Opomo-nos linearmente a qualquer tipo de apoio que o Estado possa ter em empresas privadas.
No entanto, num país como Portugal, que sabemos que têm poucos leitores e são poucas as pessoas que pagam para ter acesso a informação, como é que pode sobreviver o jornalismo? Não só em Portugal. As pessoas estão a começar a estar habituadas a ter acesso a conteúdos gratuitos – pensam elas que são gratuitos, porque normalmente isso implica ceder dados. Como é que o jornalismo pode sobreviver?
Tem de se reinventar. Tem de sobreviver no mercado, tal e qual como outro privado. O jornalismo tem de mudar. Há uma tendência crescente de jornalistas independentes que conseguem, através das redes sociais, através do Twitter, através de outros [meios e plataformas] financiar-se. Os órgãos de comunicação vão ter de se reinventar. É a lei do mercado. A partir do momento que há uma mudança do paradigma, vão ter de se reinventar. Não é um Estado “papá” que vai ter de ajudar e vai ter de meter a mão nos media para os manter. São eles que vão ter de mudar a forma de estar. Hoje, apoiados pelo Estado [publicidade estatal, apoio em 2020, parcerias comerciais], são uns media de agência, basicamente em que fazem copy-paste uns dos outros. O resultado é o que temos à vista. Se estão nesta situação, vão reinventar-se.
E, nesta altura que estamos praticamente em campanha eleitoral, vemos que os media têm de facto um papel muito importante naquilo que é a difusão de informação de todos os partidos e na imagem que a opinião pública pode ter determinados líderes. Qual é a tua posição relativamente àquilo que tem sido o trabalho dos mass media em divulgar informação dos pequenos partidos?
É inexistente. Os media preocupam-se com os partidos que têm assento parlamentar basicamente e, nomeadamente, os dois principais – PS e PSD. E, agora, o Chega, que é um bocadinho mais popular e que os media lhe põem toda a atenção em cima. Mas tudo o resto, aos media não lhes interessa. Até porque ainda não existe a cultura cá em Portugal, infelizmente, de política de actuação cívica, de olhar também para as outras propostas e para os outros pequenos partidos. Obviamente, os media não dão cobertura ao aparecimento de novos partidos.
Isso também afecta a democracia e a possibilidade de haver maior diversidade de ideias e o maior debate de ideias.
Afecta, porque as pessoas confiam ainda muito na comunicação social, naquilo que dá na televisão e naquilo que aparece na televisão. E se aumentarmos a idade, as pessoas não conhecem a outra realidade, não conhecem outras propostas, não conhecem quem possa apresentar outras soluções ou até ideias para debate, para o público, que devia acontecer e que não existe. E depois, ainda por cima, como quem financia os media são os partidos que estão no poder [publicidade estatal, parcerias comerciais, apoio em 2020], obviamente a tendência dos media é dar atenção aos partidos que estão no poder e vão jogando entre um lado ou outro e obviamente nunca dão atenção. Portanto, é “uma pescadinha de rabo na boca”. Sei que isto é muito difícil, mas aquilo que é a nossa posição em muitos temas. Apoiar privados e a comunicação social, nem pensar. É um perigo.
Há temas que estão na ordem do dia, como a crise na Habitação, na Saúde. A eterna crise no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Todos os anos, no Inverno, temos um pico e temos um problema no SNS, que está sempre em ruptura. A cada pico de doenças do foro respiratório…
E todos os anos parece uma novidade e todos os anos parece uma novidade.

Mas, começando pela Habitação, têm propostas? Qual é a vossa visão relativamente à situação que se existe em Portugal, em que um português com um salário mínimo ou até com um salário médio dificilmente tem acesso, hoje, a habitação, seja por via da compra, seja pela via do arrendamento, sobretudo quando falamos nos grandes centros urbanos.
Não somos nem socialistas, nem de esquerda, nem direita, nem populistas. Portanto, ações populistas de o Estado mexer nas rendas ou actuar sobre os preços, nem pensar. Lá está, novamente, caímos sempre no mesmo erro. Pois surge-nos o problema e depois “ai ai ai” – é preciso fazer alguma coisa. E, depois, vêm com estes remendos, que é para piorar ainda mais a situação. O grande problema da Habitação é que Portugal está inserido no mercado internacional. Há uma procura por imobiliário, por casas cá em Portugal e isso faz aumentar os preços. Mas o problema não é o aumento dos preços das casas. O grande problema é que os portugueses há décadas – e já estamos a falar de décadas, não é anos – estão estagnados a nível de crescimento. Os portugueses, pouco ou nada têm aumentado os rendimentos nas últimas décadas. O rendimento dos portugueses não acompanhou o aumento do preço das casas. Este é que é o grande problema. O problema está muito antes do que é o preço. Quando falamos do preço das casas, estamos já no fim do problema. Vamos fazer o que é costume. Vamos andar a fazer remendos. O problema está na criação de riqueza e está no facto de que os portugueses não crescem. Infelizmente, é muito devido ao papel que temos do Estado, que é o principal elemento que bloqueia o crescimento em Portugal através de impostos, taxas, burocracia e todo o conjunto de problemas e toda a estrutura que cria ineficiente à volta de todos os portugueses. Isso prende-nos a esta situação e vamos continuar a viver assim, cada vez mais do Estado e de uma situação grave destas que é um português comum não conseguir comprar uma casa. Vai ser muito difícil comprar uma casa devido ao facto de estarmos sempre a fazer estes remendos e não olhar para a raiz dos nossos problemas.
Como é que se pode resolver isso? Ou seja, como é que os portugueses podem ter acesso… O que é que o vosso partido vê que é possível ajudar os portugueses que estão com dificuldades, sobretudo as muitas famílias que não têm acesso à habitação?
Qualquer solução populista, ou qualquer solução de cortes de rendas ou no valor das rendas ou mexer nos contratos de rendas ou créditos bonificados com o apoio do Estado, qualquer situação que se possa criar, não vai resolver o problema. Vai atenuar durante um período curto para piorar ainda mais. Para o futuro, a única solução possível, é cortando naquilo que são os impostos e o peso que as pessoas têm todos os dias. Porque as pessoas não têm noção. A maior parte dos portugueses está metade do ano a trabalhar para o Estado e, só depois a outra metade está a trabalhar para si própria. E enquanto nós não conseguimos mudar isto, enquanto isto não deixar de estar estagnado, não há solução. E, às vezes, é difícil porque isto não é populismo, porque populista era dizer que a solução é cortar nas rendas e resolver o problema das rendas. Ou dizer que vamos aumentar o salário mínimo já para 1.200-1.500 euros, para 2.000 ou 3.000 euros. Todos falam em aumentar o ordenado mínimo como se fosse a solução. Não é solução, não vai resolver o problema das pessoas.
Até porque esse aumento de salários vai implicar também maior carga …
E desemprego diretamente. Portanto, é das tais soluções populistas. Todos falam o óbvio, o que todos nós … Eu gostaria de dizer aos portugueses: vamos todos ganhar 2.000 euros ou 3.000 euros por mês. Era fantástico. Eu adoraria poder dizer isso, mas não é assim, não é por decreto que as pessoas vão ter um aumento, rendimentos. Impossível. É por facilitar-lhes a vida e dar-lhes a liberdade de poder escolher, poder lutar pelos seus objetivos e não terem uma carga fiscal e um Estado burocrático em cima. Só assim é que os portugueses vão conseguir ter, ao menos, rendimentos para o futuro. Não há outra hipótese.
O que defendes é, no fundo, um aumento do rendimento das famílias por via de menor carga fiscal, menores custos com questões burocráticas.
Custos e peso burocrático! Porque o peso burocrático não é só na questão do custo e dos impostos. É todos os bloqueios que cria aos empresários e toda a estrutura que existe, neste momento. Não é um problema só português. Na Europa também é um problema. Mas, em Portugal, também somos óptimos a amplificar os problemas lá de fora. Não é uma solução a curto prazo, não é um resultado imediato. Podíamos ir por populismos e por dizer às pessoas “olha, a solução é esta”. Não há soluções milagrosas, são soluções que levam tempo. Mas aquilo também podemos dizer às pessoas, é que quanto mais tempo demorarmos a fazer uma mudança, pior ainda para o futuro, porque vamos estar a criar sempre remendos e ter um problema ainda maior ainda no futuro.

(Foto capturada a partir de imagem da RTP/2019)
Entendes que essas medidas a serem implementadas iriam poder ser um incentivo para reter jovens e travar a fuga de “cérebros” que tem acontecido?
Não vai ser logo, no imediato. A libertação de carga fiscal e de peso do Estado não é imediata. Porque, obviamente, os jovens precisam de ver, ter objetivos também a curto prazo. Mas sim. Depois, acredito – e acho que é importante que as pessoas saibam – que, com crescimento e com perspectivas de futuro, os jovens deixam de fugir e ter que olhar lá para fora para sobreviver. A realidade é esta. Os jovens cá, infelizmente, – e dada a situação actual –, vivem em casa dos pais até aos 20 e tal, 30 anos, qualquer dia até aos 40 anos, porque a realidade é esta. Eles não têm rendimento sequer para conseguir viver, na grande maioria, com uma casa própria e conseguir auto sustentar-se. Não conseguem. A única solução é olhar lá para fora. Porquê? Porque é muito difícil, hoje, começar uma carreira. Muito difícil. E – lá está –depois, cria-se subsídios e às empresas para contratar jovens, mas isto não é a solução, nunca vai ser a solução.
Tem havido manifestações pelo direito à Habitação em várias cidades. O que parece estar subjacente é de estarem a ser pedidos apoios e subsídios à habitação, o acesso à habitação, através de mecanismos públicos. O vosso partido o que defende é que não é essa via. Deve resolver-se o problema um bocadinho mais…
Muito antes. Num caso extremo, até Hitler prometeu casa e carro para todos os alemães. Quer dizer, todos podem prometer. Todos podem prometer mundos e fundos. A situação da maior parte das pessoas, é uma situação muito difícil. A primeira solução de pedir apoios é sempre a solução mais fácil, só que não vai resolver o problema das pessoas. Vão ficar cada vez mais presas a um problema, sem perspectivas de crescimento e com um problema no futuro ainda maior. Não é por aí e nunca iremos ir por populismos ou ações populistas que sabemos que à partida nunca irão resolver o problema das pessoas. Nunca.
Também se tem falado de aumentar o rendimento das famílias por via de haver uma espécie de rendimento básico universal ou algo do género. Contemplas uma solução dessas, a nível europeu, que possa beneficiar também os portugueses?
Nem pensar. Essa é das tais ideias que nos parece muito bonita e utópica. Ter um rendimento que cai na minha conta todos os meses. Parece uma coisa fantástica. Mas isso é tornar as pessoas ainda mais escravas do sistema actual. O vai acontecer é que, depois, isso gera outros problemas a seguir. Parece resolver um problema à partida. Poderá resolver a questão burocrática do próprio sistema actual de Segurança Social, parte desse problema. Mas não vai resolver problema nenhum. Vai tornar as pessoas cada vez mais escravas ainda do sistema de apoios do Estado.
E debilitar a democracia, eventualmente.
Exatamente. Depois, as pessoas que estão no poder, vão ter sempre os votos garantidos das pessoas que vão estar sempre dependentes deste sistema. Isto é “uma pescadinha de rabo na boca” e nunca vamos sair disto, se continuarmos a apoiar e continuar a falar de ações dessas, que são utópicas e que vão criar uma escravatura da população atual, mas mais ainda nas gerações futuras. Portanto, isso nunca vai resolver o problema.
Tem havido protestos, nomeadamente das forças policiais, mas também houve protestos de professores e auxiliares. Entendes que é preciso uma mudança em diferentes áreas, em Portugal, e que já chega desses remendos? Como é que vês estes protestos?
São legítimos porque a situação dessas pessoas, em geral, é precária. No caso da polícia, da PSP, da GNR, é uma situação difícil para aquilo que a responsabilidade que têm. É uma situação muito precária. Aliás, normalmente estas pessoas têm poder até acho que devem ganhar bem. Mas, ao mesmo tempo tem haver escrutínio. Quem tem cargos de poder e quem tem cargos de autoridade tem de ser altamente escrutinado. Porque não são cidadãos comuns. Há um problema de rendimentos com estas pessoas. Mas têm de ser altamente escrutinados e muito bem selecionados para este tipo de cargos.
No caso da Educação, como o vosso partido vê a questão das problemáticas que têm sido levantadas e os protestos que ocorreram durante vários meses?
O problema da Educação é que está muito dependente do Ministério da Educação e de toda a doutrina que está criada. Depois vivemos um tabu. Pensamos que a educação tem que ser a imagem actual pública normal do Estado e não podemos olhar para outros meios ou outras formas. E há outras formas. É tema tabu, em Portugal. Porque não temos um sistema privado que até pode sair mais barato ao Estado pagar a educação, e que as pessoas possam escolher. Isso é que é importante, dar autonomia às pessoas para escolher as escolas. Para onde vão os seus filhos. E o Estado pagar essa escola, pode ser mais barato do que ter a estrutura toda, o “monstro” que tem, desde o Ministério da Educação à própria educação atual.

(Foto capturada de reportagem da RTP)
Mas sentes que esse é um tema tabu?
É um tema tabu. Não se pode mudar neste tema porquê? Porque, obviamente, depois existe um conjunto de interesses. Porque os professores, infelizmente, estão na mão, dentro do Ministério da Educação …
Iriam perder votos se avançassem com esse tema…
Iriam perder votos, obviamente. Óbvio. Porque é uma alteração muito grande e que deixam também aos professores incertezas. É normal. Porque é uma mudança, causa incerteza e desconforto. Mas, se vamos continuar tal e qual como está… E achamos que é só um bocadinho de aumento de salário aqui, uma atualização ou uma regalia ali, que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. E, enquanto não discutirmos a fundo reformar, seja a Saúde, seja a Segurança Social, seja o sistema de educação, nunca mais vamos…
Sair disto… O que é certo a elite, incluindo política, os líderes políticos, têm os seus filhos a estudar em colégios privados e no ensino privado.
Claro, claro. Aliás, vemos isso, seja na Educação, seja na Saúde. Assim que uma família ou uma pessoa individual, seja quem for, tem a possibilidade de poder pagar – mesmo continuando a pagar os impostos, que paga ter a possibilidade de pagar saúde ou educação privada – vai para o privado. É logo a primeira opção que faz. Portanto, reparem nisto. Estamos a pagar uma estrutura brutal. À primeira oportunidade que um português tenha de poder pagar o ensino privado ou uma educação privada, foge logo. Foge do ensino ou da saúde pública. Criámos um monstro e não queremos reformar.
Não se assumindo, acaba por ser quase uma sociedade de castas, em que uma casta tem acesso a determinados serviços de uma qualidade superior porque têm meios financeiros e, depois, tens toda uma outra casta inferior, que não tem meios financeiros e, portanto, não tem acesso à habitação, não tem acesso a saúde com qualidade ou ensino com qualidade. O SNS também tem profissionais com enorme qualidade, que depois não tem …
São os serviços. Os serviços não funcionam. Mas, a partir do momento que temos o SNS como temos, e o sistema de educação como temos, atualmente… O que tem de se tentar é dar a possibilidade às pessoas de poder escolher.
Escolher o serviço.
Quando digo privado, estamos a falar de possibilidade e de algo que deve ir a discussão pública. Mas, mesmo que seja privado, não estamos a falar aqui de contratos com privados, com a escola. Não. As pessoas têm de escolher e têm e podem escolher entre as escolas, não é com contratos de parcerias público-privadas, em que estou a dar garantias a um privado. É as pessoas poderem escolher e o Estado, em vez de ter a estrutura… Sai mais barato e já se fez essas contas e sabemos que sai mais barato.
Portanto, o vosso partido ATUA defende é que haja esse debate, ou seja, que haja esse debate em torno de haver uma mudança profunda naquilo que tem sido a forma de termos o sistema de ensino e do Orçamento de Estado, que é aplicado a várias áreas, incluindo não só na Educação, mas também a Saúde.
Sim.
Na Saúde, como é que o vosso partido vê estas crises constantes no SNS? É típico, já é sazonal. Chegamos ao Inverno, no pico das doenças do foro respiratório, e há sempre as notícias com os hospitais a abarrotar, as filas de espera, pessoas a falecer nas urgências. Há uma solução?
Continuamos sempre a olhar para o para o problema e depois temos o problema nas nossas mãos. Os hospitais estão cheios de pessoas e temos problemas com as camas e há falta de camas. E o problema repete-se durante anos, durante décadas. Sempre foi assim todos os anos, e todos os anos parece que é sempre uma novidade. De facto, aqui a solução não é fácil, mas só é dando a possibilidade … Reparem numa coisa: isto bate no outro problema, que é outro dos grandes problemas, porque cada vez temos mais … Cada vez há mais gastos e a estrutura, seja da saúde, seja da Segurança Social, seja de educação, é enorme. Existe aqui um outro problema, que é, para onde é que vai esse dinheiro, o dinheiro público, daquilo que é para os hospitais públicos. Sabemos de situações sobre os ajustes directos e concursos públicos. Por essa gestão ser pública, e por acreditarmos que ser uma gestão feita por privados é mais eficiente do que por públicos… Grande parte dos recursos que são gastos, através dos hospitais e do Estado, são logo gastos. O dinheiro é gasto de forma ineficiente e leva a que o Estado e os hospitais a terem muito menos recursos do que aquilo que têm, atualmente.

Há muito desperdício e desorganização?
Há imenso, imenso. Seria bom fazer uma auditoria global àquilo que são as contas da saúde, aquilo que é gasto. Porque, o que estamos a falar é de um conjunto de pessoas, muitas delas infelizmente ligadas a governos, opções governamentais, que estão ligadas ao Estado e que é gerido desta forma, e que não é a mesma coisa que gerir com o seu próprio bolso. É totalmente diferente. A partir daí, as ineficiências acumulam-se. Temos um gasto brutal em saúde, continuamos a gastar na saúde, imenso, e continuamos a ter cada vez pior serviço.
Não se investe tanto nos meios humanos, se calhar.
Gastamos cada vez mais em saúde e estão a abrir cada vez mais privados e as pessoas a fugir o mais possível do público. E os privados estão cheios. Isto vai-se agudizando ainda mais. Temos um SNS cada vez mais gigante, com um gasto brutal, cheio de problemas e um privado a crescer cada vez mais. E nós, a pagar, como cidadãos, logo dos dois lados. Estamos a pagar um serviço SNS nem uso ou nem usamos, porque depois que vamos ao privado porque não queremos estar à espera e não queremos ter um serviço que temos no SNS. Isto é dramático.
Estamos a pagar os dois lados, portanto o que defendem é que haja também um olhar para esta ineficiência.
Fundamental. E não algo populista de falar contra a corrupção, porque todos falam contra a corrupção há décadas, mas a corrupção é um problema claro e evidente que temos, pelo facto de o Estado ter o poder e estar metido em tudo. Logo, isso dá azo a que haja pessoas que se aproveitam dessa situação para benefício próprio. Mas a corrupção é um problema, a falta de escrutínio, a falta de avaliação. Ainda por cima, com os media cada vez mais dependentes do Estado e que se demitiram daquilo que faziam antigamente, que era o jornalismo de investigação, que morreu em Portugal, deixou de haver. Estamos a falar de um conjunto de problemas … Se formos ver todos os outros partidos, ninguém aborda estes problemas, mesmo que não seja popular, haja solução, mas nenhum aborda.
Um relatório recente apontou que Portugal desperdiçou dinheiro em testes durante a pandemia. Mas há também o caso da compra de milhões de euros de um medicamento, o Remdesivir – e poderíamos mencionar outros, patrocinados por médicos, os quais têm ligações à indústria farmacêutica. São medicamentos, que depois vão para o lixo, ou pior, que acabaram por prejudicar portugueses, nomeadamente com resultados fatais, quando deveria ser o contrário.
E a comunicação social a chamar essas pessoas [médicos pagos por farmacêuticas]. Não fazem a devida [verificação]. As pessoas podem dar opinião que quiserem, mas os media – ou as próprias pessoas que lá vão e que dão a sua opinião acerca de medicamentos onde gastamos milhões… Qual foi a utilidade da quantidade de testes que fizemos? Mas aquilo que se gastou dava para abrir vários hospitais. A própria comunicação social nem a advertência faz de que aquela pessoa que pode dar a sua opinião, mas que recebe, seja pela sua consultoria, seja pelo que for, recebe dinheiro dessas farmacêuticas, e está a dar uma opinião favorável desse medicamento.
Portanto, em alguns especialistas, não houve a devida declaração de interesses que trabalhavam também para farmacêuticas.
Claro que não. Se publicarem um estudo científico, por obrigação têm de pôr no estudo uma declaração de conflitos de interesse. E devem pôr, tal e qual, nos media. Não sendo um estudo, deviam dizer: “atenção, esta pessoa recebe”. É impossível ter uma opinião isenta, não é?
Entendes que os portugueses iriam ver certos “especialistas” com outros olhos se os media divulgassem para que farmacêuticas é que eles também trabalham?
Criava desconfiança e não era o que queriam que se criasse. Porque também se viveu um ambiente de narrativa única e de discurso único durante esse período de tempo [pandemia].
Mas depois, isso levou também estas ineficiências e estes gastos que …
Brutais. E muita coisa que aconteceu nesse período – na saúde ou fora da saúde – que se deixou de ver. O gasto foi enorme, mas na saúde, então nem se fala. Estamos a falar de testes e de outras coisas que se fez sem qualquer avaliação. Não houve qualquer avaliação sobre o que se passou e, no entanto, sabemos…

Temos que haver essa investigação aprofundada, até para se tirar ilações e lições para o futuro do que aconteceu em Portugal, como está a acontecer até noutros países? Deveria haver essa investigação mais detalhada sobre o que é que aconteceu em Portugal, para onde é que foi o dinheiro, quem ganhou, quem lucrou? Até porque temos um problema que é o elevadíssimo excesso de mortalidade, que mostra que a gestão da pandemia em Portugal, ao contrário do que se tem vendido, foi um redondo falhanço.
Foi e continua. Temos tido excesso de mortalidade, ao contrário do que os próprios media… No início, diabolizaram, e depois deixaram de falar, do país que teve menos excesso de mortalidade, que foi a Suécia, que, [em geral], não fez confinamentos, não obrigou a uso de máscaras, nem nada disso.
Mas os portugueses nem souberam disso…
Para eles, sabem o que ouviam dizer, no início, que morreram muitas pessoas na Suécia. Morreram naquilo que os suecos imitaram, aquilo que nós também fizemos e que não há, até hoje, nenhuma investigação sobre isso – ouviu-se falar de Reguengos –, que foi o que aconteceu nos lares. Muitas pessoas morreram nos lares. A grande parte da mortalidade foi nos lares, na Suécia, tal e qual como em Portugal, foi nos lares, só no início, de pessoas que morreram – como ouvimos no caso de Reguengos – com desidratação, com escaras. Foram isoladas nas camas e não tinham pessoas suficientes para tratar das pessoas, por causa das baixas que tinham com testes positivos, na altura. Nunca houve investigação sobre isto. Nunca houve sobre nada. Morreram imensas pessoas, morreram imensos idosos em situações que nós nem imaginamos. Se estivermos a falar dos muitos lares ilegais que existem em Portugal, sem terem pessoas para tratar deles, completamente abandonados… Mas claro, o rótulo de morte covid deu muito jeito para escamotear também muitas situações gravíssimas que aconteceram nos lares. Claro que isso não é tema, é tabu. Ninguém quer abordar esse tema porque correu muito mal e há muitos responsáveis por essa situação.
Portugal está com enorme excesso de mortalidade e não está a ver a devida investigação. O Ministério da Saúde anunciou, já há um tempo, que iria fazer uma investigação sobre as causas deste excesso de mortalidade. Mas, o que é certo, é que não vemos nada e, nos media, o que vai saindo, também acaba por não ser muito elucidativo. Era importante perceber o que é que aconteceu, até porque muitos portugueses deixaram de ter acesso a poder fazer diagnósticos a determinadas doenças, portugueses fugiram dos hospitais. A própria Direção-Geral da Saúde aconselhou a isso mesmo. Era importante perceber o que está a acontecer e ajudar os portugueses a perceber para travar o que continua a causar este excesso de mortalidade?
Era importantíssimo. Mas isso vai levantar… Ninguém quer pegar nesse tema. Vai levantar imensas responsabilidades. Muitos agentes que estiveram envolvidos, desde a comunicação social, pelo papel que teve nalgumas situações, muito negativo, relativamente a esses temas e relativamente ao Estado e às autoridades, durante esse período de tempo. Porquê? Porque houve muitas pessoas que deixaram de ter acesso a saúde, ao contrário do que muita gente diz, durante o período da pandemia, ou em termos de afluência às urgências. Esteve muito abaixo do normal. As pessoas deixaram de ir ao hospital por medo, por “n” razões.
Então que dizer que não se quer saber, não se quer investigar agora por uma questão política. Ou seja, está-se a fazer uma gestão política para tentar esconder um bocadinho…
Está. Ninguém quer falar. Se calhar, é preferível – e já tem acontecido – pôr a responsabilidade do excesso de mortalidade nas alterações climáticas. É muito fácil, pronto. É um argumento. É um argumento vazio, completamente vazio. É mais fácil de fazer do que pôr a mão na massa e perceber exactamente o que se passou. Porque o que se passou, especialmente naquilo que aconteceu nos lares…
Em vez de identificar responsáveis por…
… Que foi investigado lá fora e que sabe que se passaram coisas muito graves nos lares. Aqui ouvimos a tal história Reguengos, porque houve uma médica que teve a coragem de dizer e de contar o que se tinha passado. Eu imagino os casos e a multiplicação de casos que levou à morte de milhares. Estamos a falar de milhares de idosos.
E, em Portugal, também têm estado a ser escondidas bases de dados que poderiam facilmente… Era possível saber, com pormenor. do que é que estão a morrer os portugueses. Como é que vês isso? Como sabes, o PÁGINA UM tem ações em tribunal para forçar o Governo, o Ministério da Saúde, a permitir o acesso a essas bases de dados. Elas deveriam ser facilmente acessíveis, visto que os dados são anonimizados. Como é que vês essa manipulação, que está a haver de se esconder informação que deveria estar acessível?
É gravíssimo. Vai tocar naquele ponto que falámos da falta de escrutínio que existe e que isso nem devia ser discussão.
Mas é uma gestão política…
Essa informação devia ser automática e pública. É anonimizada. Não tem dados pessoais das pessoas, devia ser uma informação pública, seja para investigação jornalística, seja para investigação científica, seja o que for ou até um cidadão comum. Vão dar sempre a desculpa, que é só para determinadas pessoas deverão ter acesso, a tal questão do especialista que deve aceder àquilo. Estamos a pôr nas mãos só pessoas que interessa ter acesso a essa informação para não haver o escrutínio. O escrutínio do Estado deve ser uma coisa automática, livre, e nem sequer deve ser discutida. Aquilo que vocês têm feito, e bem, não deviam sequer ter de estar a fazer. O trabalho devia ser uma coisa automática. Qualquer jornalista devia ter acesso aos dados públicos anonimizados na mortalidade. Isso tem de ser sistemático, porque, ao não darem, é crime. Isso para mim é um crime, porque o Estado está a abusar do poder que tem.

És dos poucos líderes partidários a quem podemos fazer esta pergunta, sabendo que estás perfeitamente a par do que é que tem estado a acontecer. A pandemia foi aproveitada como uma oportunidade para haver mais restrições e mais censura. Uma das medidas que tem estado a ser discutida e que tem sido bastante controversa é a das alterações ao Regulamento Sanitário Internacional, junto com a criação do chamado Tratado Pandémico. Poucos portugueses conhecem o que está a ser discutido. Teme-se que esteja a ser criada uma estrutura dando poderes à Organização Mundial de Saúde para que nenhum país possa fazer o que a Suécia fez, que foi aplicar as suas próprias medidas independentes das decisões ou de estruturas internacionais ou de políticos. Como é que vês estas alterações que estão a ser discutidas e o facto de em Portugal não estar a haver debate? Portugal está a alinhar completamente com essas alterações.
Sempre o que era de esperar. Estamos a falar de organismos e de políticas de pessoas não eleitas. Logo aí, à partida, é uma violação total daquilo que é o princípio democrático e o princípio de uma sociedade livre, de facto.
E há uma ressalva. Porque o líder da OMS tem vindo a tentar “pôr água na fervura” e dizer que não está em causa a soberania, mas fala na questão do Tratado Pandémico, o que nós estamos a falar é das alterações ao Regulamento Sanitário Internacional que, em conjunto com o Tratado Pandémico, aí é que está o risco, e daí haver essa polémica e controvérsia.
Claro. É poder aplicar aquilo que tentaram fazer durante este período [pandemia de covid-19] de uma forma ainda mais eficiente, com todos os conflitos de interesse.
Mais eficiente, mas não para a saúde..
Dentro daquilo que é a perspetiva deles – que é absurdo – de uma doença futura que nem sequer sabe qual é, como vai se comportar. Nada. Zero. Como também não sabiam desta, não sabiam minimamente. Com um conjunto de medidas que todas elas tiram liberdades, garantias às pessoas.
E terão alguma proteção na saúde ou não o irão fazer com que países, como, por exemplo, a Suécia, que deixem de poder fazer…
O objetivo é poderem controlar. Lá está, ainda por cima, seja líder da OMS, seja outro, por pessoas não eleitas, pessoas com os seus devidos conflitos de interesse. Porque não são anjos, nem são puros. Há muitos interesses, obviamente. Mas é preciso que as pessoas saibam isto: a Organização Mundial de Saúde é financiada por privados. Não é totalmente isenta.
Os portugueses têm noção do que é a Organização Mundial de Saúde, como é financiada?
Não têm. Infelizmente, não têm. Infelizmente não é falado. Há de vir o órgão de comunicação social que tenha falado nos últimos três anos daquilo que tem sido o financiamento da…
Porque é que achas que existe de facto esta indisponibilidade para falar sobre estes temas de forma aberta?
Se a própria comunicação social é financiada, no caso da pandemia, para ter um determinado discurso e para ter uma determinada posição, é óbvio que nunca vai abordar esses temas. Vai continuar a fazer o mesmo trabalho de sempre. É aquilo que é financiado, é aquilo que é apoiado e vamos falar sobre este tema. “Vamos apoiar uma determinada narrativa e vamos abafar tudo o que seja o resto, porque não nos dá jeito” – infelizmente, esta é a realidade da comunicação social, hoje.
Havendo uma aprovação daquilo que tem estado a ser debatido na OMS, porque ainda não está fechado, das alterações ao Regulamento Sanitário Internacional junto com o novo Tratado pandémico, estamos ou não perante uma grave crise, uma grande ameaça às democracias ocidentais?
Estamos. É mais uma. Mais um grave problema que temos e uma ameaça à democracia por aquilo que implica, em termos de autonomia e liberdade das pessoas, pela violação total daquilo que são os princípios dos direitos humanos, inclusive.
E a capacidade dos países de gerir crises sanitárias de acordo com aquilo que é…
Autonomamente. Acho que é a ideia é que todos juntos fazemos melhor, quando vimos, perfeitamente, no que isso deu, muitas vezes.
Mas faz sentido haver uma coordenação ou colaboração. Agora, é diferente de haver uma imposição.
Claro e, neste caso, o objetivo é ter uma imposição e por um órgão não eleito. Não elegemos. Estamos a falar de organismos não eleitos.
O vosso partido está disponível também para defender e trabalhar nestas áreas da defesa dos direitos civis, da democracia, neste âmbito Internacional?
É a base fundamental deste partido. Aliás, opomo-nos a tudo o que seja ideias de federalismo europeu. Apoiamos aquilo que é a União Europeia, aquilo que foi a sua base, que era a livre circulação de bens e pessoas, de serviços, o Tribunal Europeu, naquilo que era a base e não o monstro burocrático em que se tem tornado a União Europeia e que perigosamente estamos a caminhar a mesma coisa com organismos internacionais. Não apoiamos entidades supranacionais com poder sobre as pessoas. Queremos defender a autonomia do indivíduo e a liberdade do indivíduo. E essas entidades são uma ameaça à liberdade de cada um de nós.
Pode consultar AQUI a página do PURP, a qual está em reconstrução.