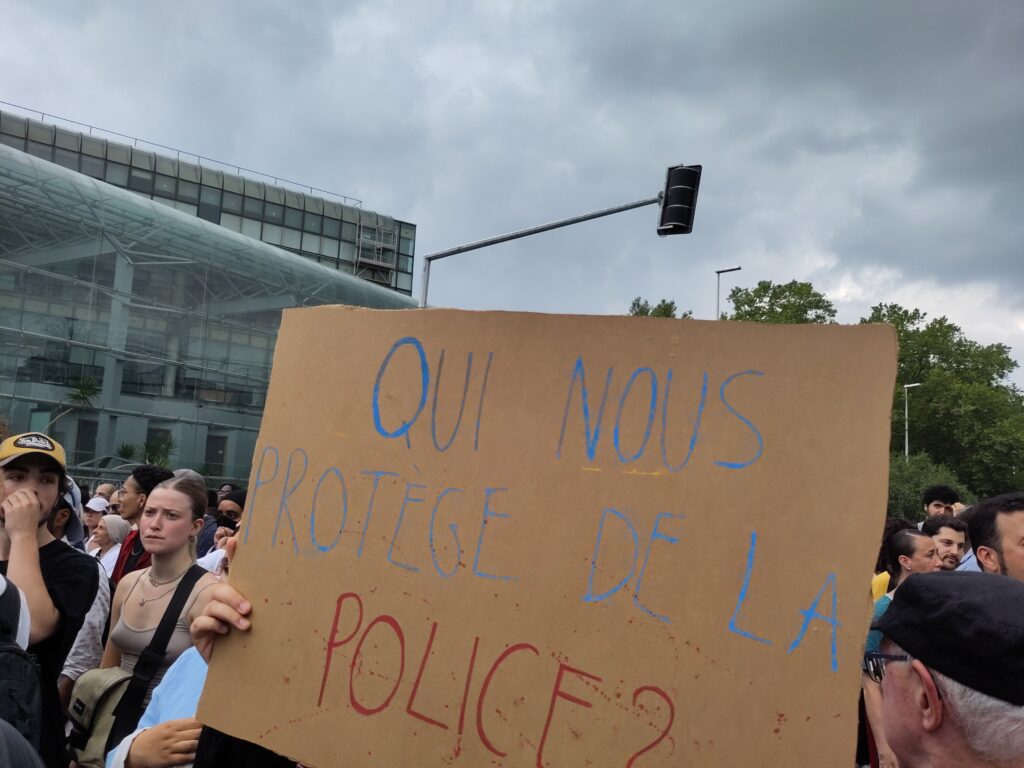Ontem tinha alinhado com os meus botões outro tema para a crónica de hoje, mas a actualidade estragou-me os planos.
Li que os Estados Unidos tinham disponibilizado mais 1.000 milhões de dólares para a guerra na Ucrânia e comecei a fazer contas à vida. Tenho alguma dificuldade em perceber esta cascata de dinheiro despejado na guerra – e aqui confesso que pode ser um problema herdado da minha profissão.
Pagam-me para arranjar soluções. Não importa agora para quê. Dão-me problemas e pedem-me soluções. Lógicas, e que nos façam chegar a um produto final que, por sua vez, será vendido a quem o quiser comprar. É na perspectiva desta lógica que olho para o apoio à guerra da Ucrânia. Já passou a fase da emoção, da moralidade, do certo ou errado. Olho para ali e penso: “como é que se resolve isto?”

Para vos ser sincero, a fase da emoção não durou muito. Durante 20 anos andou a União Europeia a branquear o regime russo a troco de gás, e mal meteram os pés no Donbass passaram a ser uma ditadura. Quando cortaram o mapa ali pelos lados da Ossétia, Chechénia ou até Crimeia, ainda eram apenas os nossos fornecedores de energia.
Lembro-me sempre da frase de Macron, numa reunião de líderes – em 2022, e a memória não me falha –, afirmando que era preciso pedir aos sauditas que aumentassem a produção de petróleo para compensar o boicote à Rússia. Pelo meio, ainda vimos Ursula Von der Leyen a fazer “parcerias estratégicas” com o Azerbaijão para conseguir mais umas botijas de gás.
Portanto, esta coisa de escolher “democracias amigas” à la carte, e consoante os interesses do momento, é prática que nunca me seduziu.
A moralidade ainda foi mais constrangedora porque, de repente, a fazer fé na comunicação social portuguesa, o Planeta Terra vivia em paz e todos tínhamos de apoiar a resistência ucraniana: com dinheiro, com soldados, com armas, com as nossas casas. Com o que calhasse.

Lembro-me de ter falado nisso ainda o primeiro drone não tinha sido usado e ouvir o novo cognome de “whataboutista”. Ou seja, quem pergunta os porquês de tamanha dedicação à causa ucraniana, em contraponto com a História dos últimos 70 anos, passou a ser uma “whataboutista” – e mais tarde um “putinista”.
Mas, afinal, o que separa ucranianos de arménios, palestinianos, iemenitas, sérvios, afegãos, curdos, sírios, tibetanos, taiwaneses, georgianos, cubanos, paquistaneses, indianos e tantos outros povos a braços com guerras e ou disputas territoriais? Eu respondo: o interesse, momentâneo, de outros impérios em desgastarem o império invasor. Apenas isso. Algo que muito pouco terá a ver com a defesa territorial ucraniana, e ainda menos com a hipócrita tentativa de salvar vidas.
É muito difícil, ao fim de ano e meio, continuarmos a discutir a invasão da Ucrânia à luz do certo ou errado. Se assim fosse, teríamos de o fazer para uma enormidade de povos que por isso passam há décadas. E não, não é “whataboutismo”, é apenas não ser idiota e perceber que o Mundo não se divide entre impérios bons e impérios maus. Divide-se entre impérios e seus seguidores. Se é império, não é bom – é tão simples quanto isso.

Resta-me, pois, a visão prática que, como expliquei ali em cima, me chega por defeito profissional. Vão os 1.000 milhões de dólares mudar o curso da guerra? Não, não vão.
Podem os Estados Unidos (e a União Europeia) continuar a despejar dinheiro e a pedir aos ucranianos, àqueles que não vão morrendo, que, em princípio, o resultado final não se altera. Há algum analista, algum militar, algum comentador, tirando o Zelenski e os seus comandantes mais próximos, que tenha dito que com mais armas e dinheiro a Ucrânia consegue vencer esta guerra? Julgo que não, pelo menos não me lembro de ninguém. Espera…talvez o Isidro da CNN que diz, todas as semanas, que o [inserir aqui nome da arma] vai ser um game changer no curso da operação.
Mais dinheiro até agora resultou nas mesmíssimas zonas ocupadas pelos russos, em milhares de mortos de parte a parte, na divisão das diplomacias em dois blocos – onde o ucraniano começa a ser minoritário, ao contrário do que a União Europeia nos vai vendendo – e num empobrecimento geral das democracias que são forçadas a enviar dinheiro. Sim, forçadas. Ninguém perguntou aos contribuintes europeus se querem aumentar o investimento na defesa, mas os impostos são canalizados para lá na mesma. Ninguém nos perguntou se concordamos com o ataque cerrado do Banco Central Europeu (BCE) para corrigir o efeito da inflação, mas, a reboque da guerra, tivemos de aceder à duplicação dos custos para a habitação.

Se despejar dinheiro não resolve o conflito, qual o motivo de o continuarmos a fazer? Estão a ver o sentido prático da coisa? Se mais uns milhões de pessoas ficarem sem casas, perderem empregos, não aguentarem o custo de vida e rebentarem em dívidas, enquanto enviamos uma ou duas cascatas de dinheiro para a Ucrânia, embrulhadas em tanques e F16… conseguimos, nós, os do império bom, expulsar os russos? Se sim, vamos lá empobrecer um bocado. Se não aparecer um daqueles generais velhotes a dizer que é possível, então se calhar parávamos com isto e tentávamos chegar a um acordo numa mesa qualquer.
Aquela conversa de apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário é muito bonita, mas como devem compreender, não é real. Não há apoio eterno a ninguém. Quer dizer, a ninguém que não seja israelita. Ou que não tenha muitos poços de petróleo. Assim é que é.
Há quase dois anos que andamos a tentar uma só solução que, invariavelmente, produz os mesmos resultados. Não sei como funcionam as reuniões entre Bruxelas e Washington, mas se eu apresentasse estatísticas destas, no meu trabalho, já me tinham despedido.
Há uma e uma só hipótese que qualquer pessoa de bom senso consegue perceber: negociar. Sem “mas” ou discussões de ética e moralidade. Há um problema real que afecta toda a gente e que não tem solução no campo de batalha. Despejar dinheiro não salva ucranianos e só adia a decisão final. Chegaremos sempre ao mesmo ponto – e com um número de mortos maior.

Isto, claro, partindo do princípio de que a alucinação que faz os sonhos molhados de alguns (a NATO entrar directamente no conflito de forma oficial – pela outra já lá está) continua a ser colocada de parte, como parece ser o caso. Os Estados Unidos aparentemente estão contentes com o negócio e não parecem dispostos a trocar sangue. Desta vez, ficam-se pela promoção do evento, troca comercial, venda de pipocas no espectáculo e, no fim, tomam o lugar do concorrente mais cotado quando ele estiver cansado.
Ninguém, na verdade, parece estar muito preocupado com os ucranianos hoje ou o que sobrará da Ucrânia amanhã.
Enfim, há dias, um leitor deste nosso jornal colocou-me a seguinte pergunta: “não tem a Ucrânia o direito de se defender e não deve ser apoiada nesse esforço?”. Eu disse-lhe que a resposta era tão longa e complexa que daria um texto. E deu.
Tiago Franco é engenheiro de desenvolvimento na EcarX (Suécia)
N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.