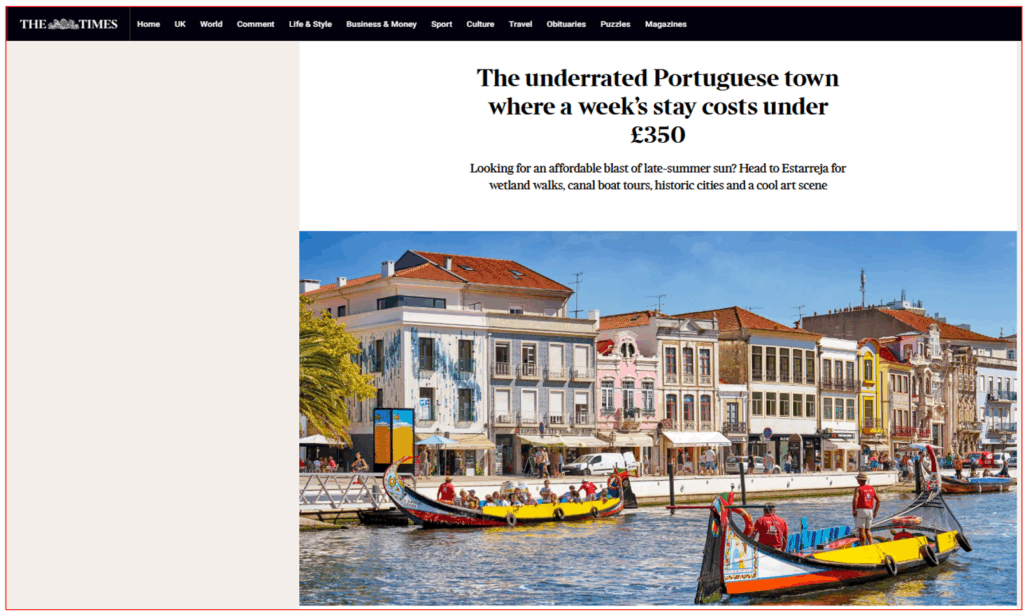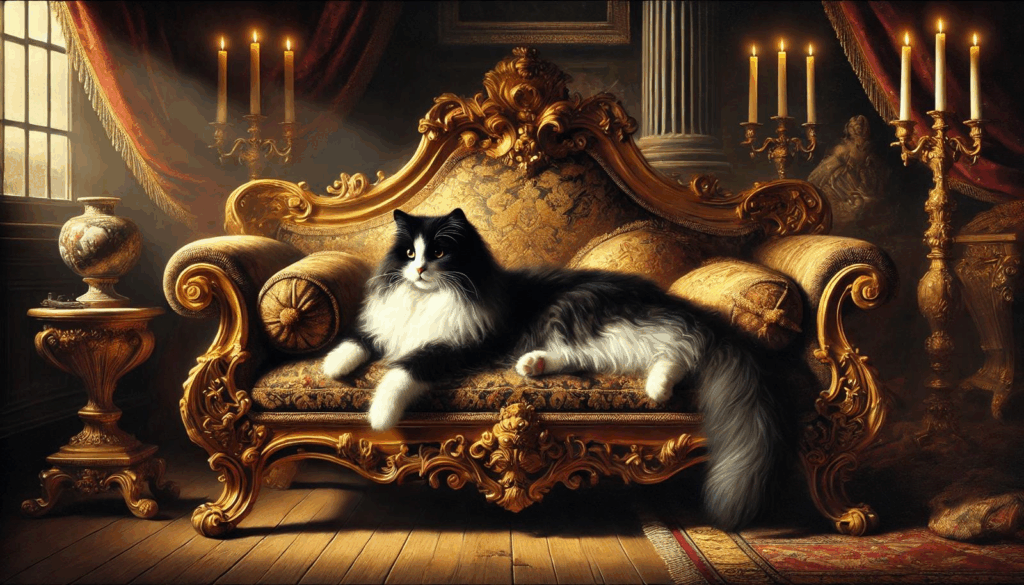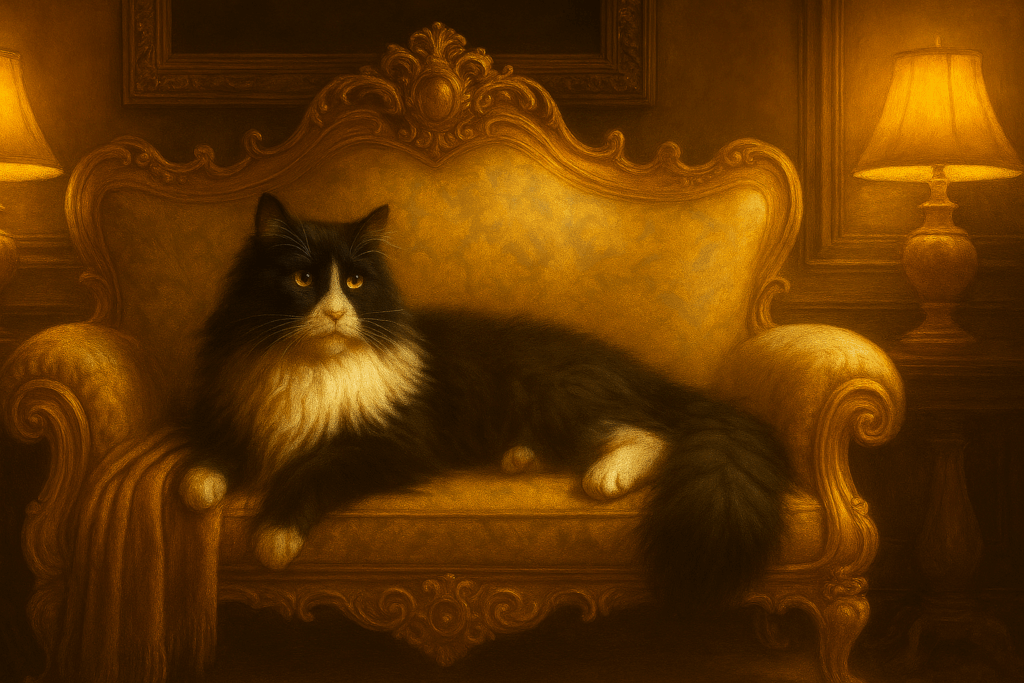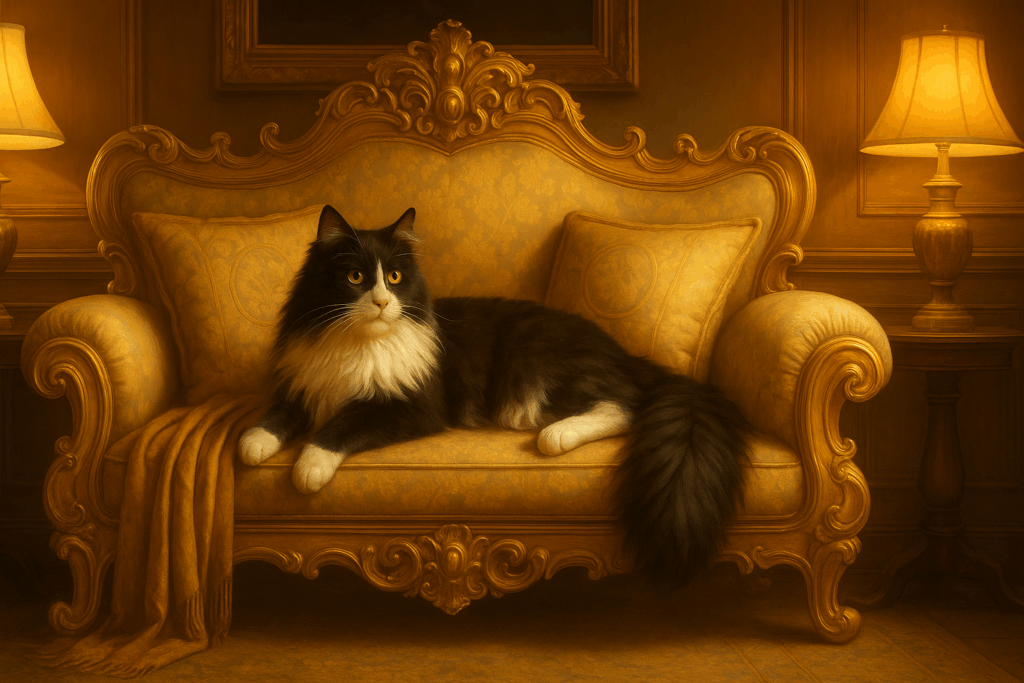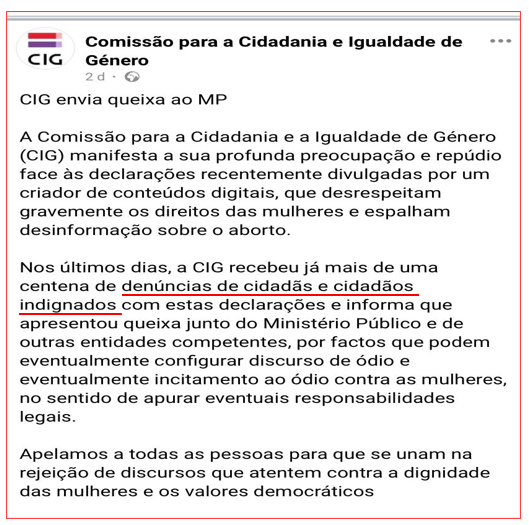Agora que já carrego a dignidade de um ancião, atrevo-me a levantar a tampa de um segredo pouco digno, que esteve escondido debaixo do tapete da sala: tenho pavor à rua. Esse território de cheiros estranhos, ruídos ensurdecedores e perigos invisíveis é, para mim, um mundo desconhecido, tão infernal quanto um aspirador em fúria.
Vivo melhor no meu palácio doméstico, mirando o mundo de cima, entre tapetes macios e pratos que surgem, por milagre doméstico, sempre cheios. Mas houve um dia em que o meu dono, não sei se tomado por um ímpeto pedagógico ou por mera travessura humana, decidiu levar-me ao limiar do desconhecido: a porta da rua.

Ainda hoje recordo o instante em que as dobradiças rangem, o ar frio e impuro invade-me os bigodes, e a luz excessiva me cega. Em vez de entrar porta dentro — como seria sensato e digno de um príncipe felino —, entrei em pânico e corri porta fora, desnorteado, numa correria que faria inveja a qualquer velocista. Nesse momento, caro leitor, não era apenas Serafim, o aristocrata da casa: era uma espécie de Isaac Nader em versão felina, a desatar a ultrapassar quenianos e ingleses imaginários, a roçar uma medalha de ouro em 1500 metros de puro pânico.
Veio-me este trágico sucesso à mente, porque quando me acalmei daquela fuga para o desconhecido, fiquei estendido à espera de que me viessem buscar, tal como o épico Nader numa fotografia central da capa de hoje do Público — só me faltou a bandeira de Portugal. A fotografia, convenhamos, é forte, símbolo perfeito de um Portugal inteiro e cosmopolita, a lembrar que a identidade é sempre mestiça e que a pátria não cabe num bilhete de identidade. Belo símbolo, admito.
Porém, não posso deixar de pensar: aquela imagem de vitória poderia igualmente ilustrar o desespero do Jornalismo, se este fosse pessoa de carne e osso. Porque logo acima dessa fotografia resplandece, em letras gordas, uma manchete de favor: “Governo vende antiga sede do Conselho de Ministros para investir em habitação.”

Oh, caros humanos, como sois crédulos. Até eu, que não pago IRS, percebo a aldrabice. Toda a gente, gatos incluídos, sabe que impostos, taxas e mais receita que escorram para os cofres do Estado entram num buraco negro, um cofre sem fundo e sem etiqueta. Ninguém pode garantir para onde vai o dinheiro. Nem o ministro, nem o secretário de Estado, nem a fonte oficial, nem muito menos um jornal.
O próprio jornalista, David Santiago, reconhece na notícia a evidência, escrevendo: “apesar de não ser possível consignar receita” — cá está, preto no branco. Mas depois surge a fonte oficial do executivo, que coitada não tem nome, a garantir que haverá “um compromisso com esse objectivo”. Um fado embalado para os ouvidos do ingénuo, que serve apenas para justificar que a direcção do Público, qual criada solícita, estenda ao Governo uma almofada perfumada: assegura ao leitor, com uma fé canina, que o dinheiro da venda dos imóveis do Estado vai direitinho para a habitação.
Direitinho? Ora essa. Só se for direitinho para tapar o rombo de 900 milhões nas receitas fiscais, que o próprio lead da notícia salienta, ou para alimentar as gorduras invisíveis da máquina estatal. Mas enfim, o jornal da Sonae faz de conta que acredita, e pede ao leitor para acreditar também, como quem abana um chocalho na frente de um bebé. Mas não estamos em creche, estamos num país onde o Jornalismo deveria servir de vigia, não de mordomo.

Vejamos: o Estado vende património. Não é novo, nem inédito. Alienar edifícios, terrenos, pedaços de memória arquitectónica — tudo já se vende quando as contas não batem certo. Mas aquilo que é grave não é vender; é fingir que essa venda tem destino consagrado, como se a contabilidade pública fosse uma tigela de ração onde o croquete da direita nunca se mistura com o da esquerda. Mentira piedosa. Receita é receita, vai para o bolo geral.
No dia seguinte, pode servir para pagar salários da Função Pública, juros da dívida, indemnizações a concessionárias, a decoração de gabinetes ministeriais ou até os buracos sem fundo das falidas empresas de media, desacreditadas pelo mesmo jornalismo de favor que agora as vai matando.
Serafim é o Mascot do PÁGINA UM, conveniente e legalmente identificado na Ficha Técnica e na parte da Direcção Editorial, possível pela douta interpretação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Qualquer semelhança entre os assuntos relatados e a realidade é pura factualidade.