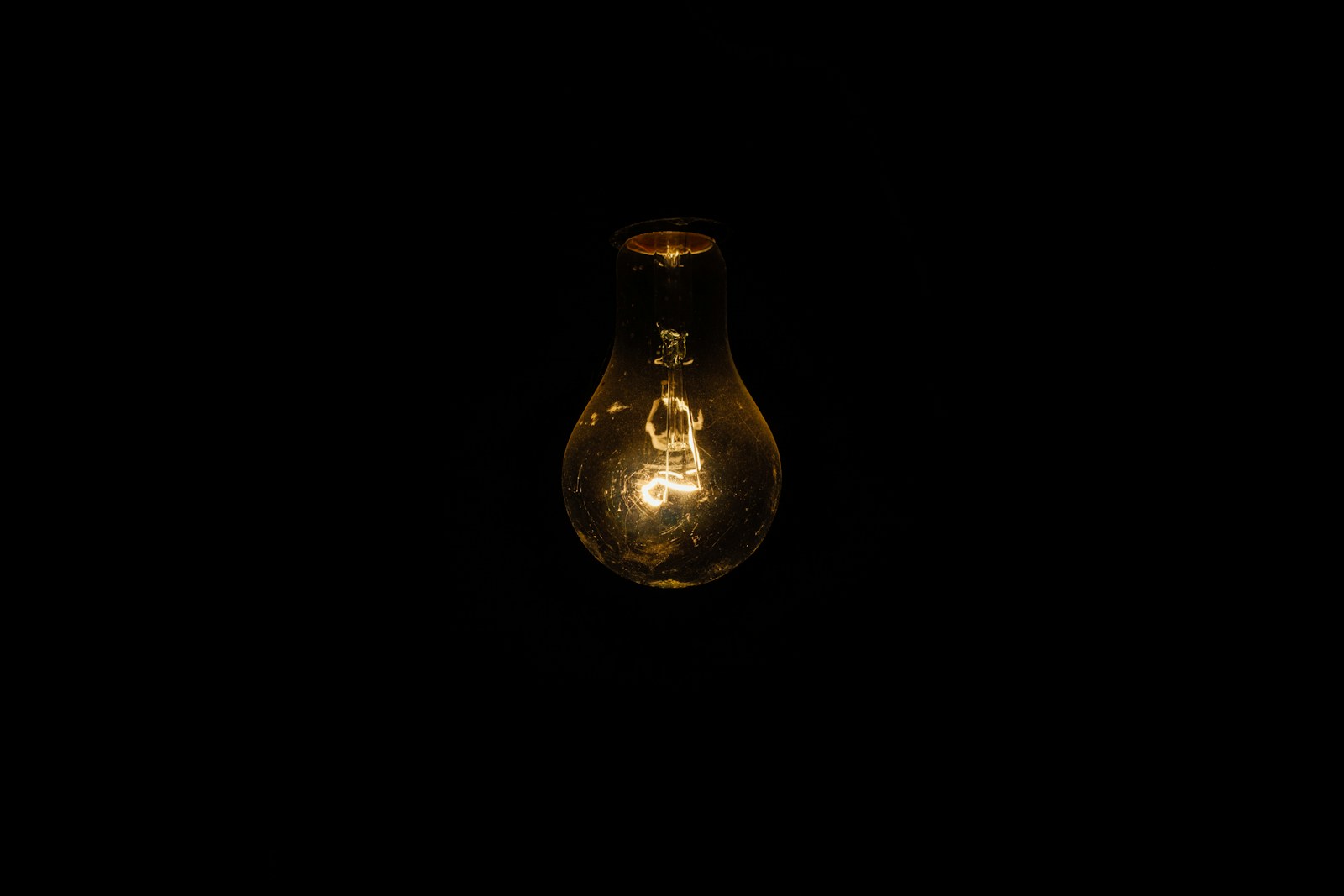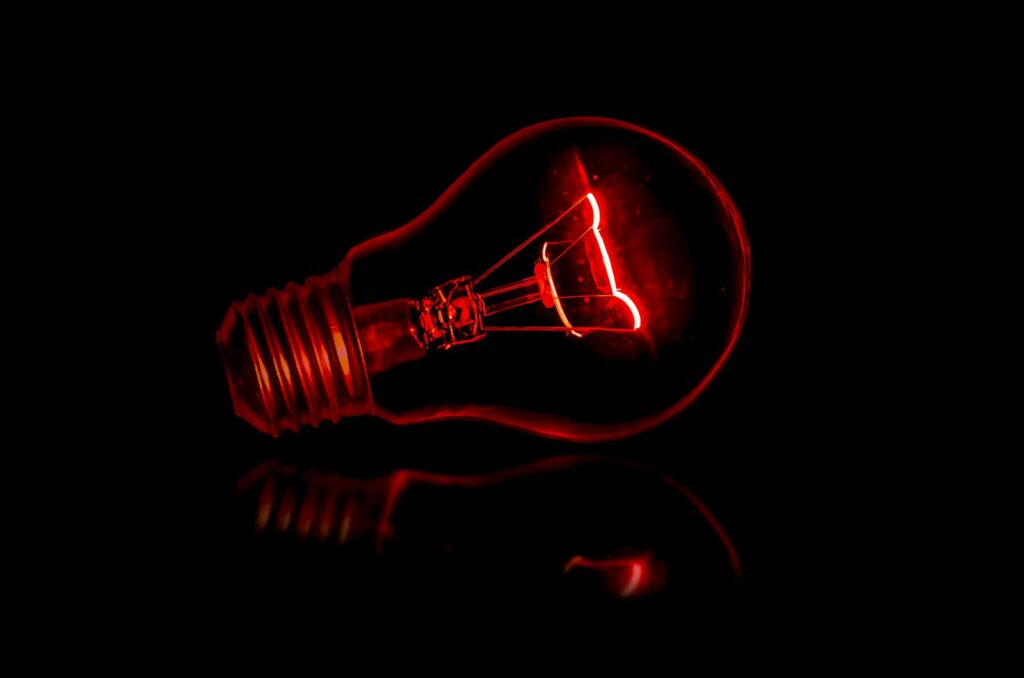Perante a aproximação das eleições do próximo domingo, o PÁGINA UM decidiu avançar com uma análise — ou, para sermos mais precisos, uma prospectiva — que permitirá compreender a real eficácia da representação parlamentar no sistema eleitoral português, com base nos resultados das legislativas de Março de 2024. O estudo assenta numa metodologia rigorosa que visa escrutinar a proporcionalidade do método de Hondt nos diversos círculos eleitorais, avaliando se os votos dos cidadãos têm, de facto, o mesmo peso em todo o território nacional.

Este trabalho incide assim sobre oito parâmetros fundamentais:
- Quociente Limiar: corresponde ao número de votos que, na prática, foi necessário para eleger o último deputado num círculo. A fórmula usada é simples — divide-se o total de votos válidos pelo número de mandatos mais um —, mas o seu valor revela muito sobre o grau de exigência eleitoral em cada distrito.
- Votos em falta para partidos sem representação: calcula-se a diferença entre os seus votos e o quociente limiar. Este indicador revela quão próximo (ou quão distante) um partido esteve de eleger, o que permite afinar estratégias políticas.
- Votos desperdiçados: somam-se todos os votos dados a partidos que não elegeram nenhum deputado, revelando a ineficácia prática desses votos no actual modelo. A percentagem destes votos face ao total permite aferir a frustração potencial do eleitorado.
- Limiar real de entrada: é a percentagem mínima de votos que permitiu, efectivamente, eleger um deputado em cada círculo. Em alguns distritos, bastam pouco mais de 3%; noutros, exige-se o dobro.
- Análise da distorção da representação: através do cálculo do Índice de Gallagher, mede-se o desvio entre a percentagem de votos e a percentagem de mandatos obtida por cada partido. Quanto mais elevado este índice, maior a distorção democrática.
- Comparação de círculos para partidos pequenos: identifica-se onde estiveram mais próximos de eleger, e onde os votos tiveram menor eficácia. Esta análise interessa, sobretudo, a formações políticas emergentes ou com implantação territorial desigual.
- Estimativa de votos necessários para eleger: calcula-se, por partido, o número adicional de votos que teriam sido necessários para garantir representação em cada círculo, aferindo cenários realistas de crescimento.
- Simulações de métodos alternativos: são realizadas simulações com o método Sainte-Laguë, mais favorável à proporcionalidade, para permitir comparações com o actual sistema de Hondt.

O objectivo desta iniciativa é clarificar, com base em dados concretos e fórmulas matemáticas simples, a arquitectura real da representação política em Portugal, questionando se o sistema eleitoral serve, de facto, os princípios da proporcionalidade e da igualdade do voto. Esta análise será publicada em várias partes até ao dia das eleições, acompanhando os círculos eleitorais com especial destaque para os chamados votos “desperdiçados” e as barreiras invisíveis à entrada de novos partidos na Assembleia da República.
Começar por Lisboa e Porto é, mais do que uma escolha editorial, uma imposição da aritmética eleitoral. Estes dois círculos reúnem quase um terço dos mandatos da Assembleia da República (88 em 230), sendo determinantes tanto para a formação de maiorias como para a diversidade política do Parlamento.
Com base nos resultados das eleições legislativas de Março de 2024 e aplicando a Metodologia Eleições, é possível traçar um retrato nítido das oportunidades, barreiras e distorções presentes no sistema eleitoral português. E, como sempre, é nos números que a democracia revela as suas virtudes e as suas imperfeições.

O distrito de Lisboa, com 1.289.608 votos válidos nas legislativas de 2024 e 48 mandatos atribuídos, apresentou um quociente limiar de 26.319 votos, com o último deputado eleito pelo PAN, que reuniu 32.829 votos (2,55%). O desperdício de votos foi reduzido (2,8%), sinal de um voto eficaz, concentrado em partidos viáveis.
O distrito do Porto, com 1.089.429 votos válidos no ano passado e 40 mandatos, teve um quociente limiar semelhante (26.571 votos), com o último eleito a ser o PCP-PEV, com 26.343 votos (2,42%). No entanto, o desperdício foi ligeiramente superior: 5,67% dos votos válidos foram atribuídos a partidos sem qualquer representação.
Olhando para os partidos sem representação parlamentar, constata-se que, tanto em Lisboa como no Porto, há forças políticas muito próximas de entrar. O PAN no Porto ficou a apenas 3.156 votos do limiar, e o ADN, quer em Lisboa (7.245 votos de distância) quer no Porto (6.986), mostra viabilidade aritmética.

Esta informação, invisível para o eleitor comum, pode ser decisiva na estratégia de campanha, sobretudo para partidos que tentam consolidar ou alcançar representação parlamentar. Todos os outros partidos não eleitos — como R.I.R, Volt, PCTP/MRPP, JPP, MPT.A, entre outros — estão em situação díficil, com mais de 20 mil votos de distância face ao limiar.
Quanto aos partidos com representação, a análise do PÁGINA UM permite identificar quem está em risco e quem pode crescer com reforços marginais. No caso de Lisboa, o PS poderá perder um deputado com uma quebra de apenas 2.600 votos, enquanto o Livre pode conquistar um terceiro com mais 6.800 votos, e a IL um quarto com cerca de 18.400 votos adicionais. No Porto, a IL precisaria de 13.000 votos para um terceiro mandato, e o Livre, com um deputado, está muito longe de um segundo (mais de 26 mil votos em falta).
Esta análise demonstra que a matemática da eleição não se esgota na contagem directa de votos, mas joga-se também nos restos, nos limiares e nas sobras de distribuição. É aí que o método de Hondt se revela: proporcional, sim, mas com inclinação clara para favorecer os partidos grandes.

Para aferir o grau de distorção deste favorecimento, o PÁGINA UM recorreu também ao Índice de Gallagher, um indicador reconhecido internacionalmente que mede a diferença entre a percentagem de votos e a percentagem de mandatos obtida por cada partido. O resultado foi relativamente baixo — 2,23 em Lisboa e 1,97 no Porto — o que atesta uma proporcionalidade aceitável nestes grandes círculos.
Mas quando se simula a distribuição de mandatos pelo método Sainte-Laguë, mais justo para forças médias, as mudanças são reveladoras. Em Lisboa, o Livre elegeria três deputados em vez de dois, enquanto o PS perderia um mandato. No Porto, o IL conquistaria um terceiro deputado à custa de um mandato retirado ao PSD/CDS. Estas simulações mostram que o sistema português, mesmo em círculos grandes, penaliza os partidos médios mais do que seria desejável num modelo de democracia proporcional.
A conjugação destes indicadores permite traçar um mapa das oportunidades e fragilidades de cada força política. Partidos como o PAN e o ADN têm hipóteses reais de representação se ultrapassarem o limiar dos 27 mil votos em Lisboa e Porto. Partidos já eleitos, como o Livre ou o IL, têm margens curtas e podem crescer (ou cair) com variações mínimas na votação. O PS e o PSD/CDS continuam a beneficiar da estrutura do sistema, mas mesmo eles enfrentam zonas de risco em mandatos marginais.

Em suma, os dados de Lisboa e do Porto mostram que a representação em Portugal é proporcional, mas não equitativa, e que as sobras do método de Hondt não são neutras. A democracia parlamentar portuguesa continua dependente de quocientes, restos e limiares — e é por isso que uma análise técnica é indispensável para interpretar correctamente os resultados.
O PÁGINA UM continuará, até à véspera das eleições, a publicar relatórios detalhados de todos os círculos do continente e das regiões autónomas. Porque só compreendendo a mecânica do sistema é possível avaliar se este representa, de facto, a vontade plural dos cidadãos — ou apenas a sua tradução estatística.
📘 Relatório técnico – Círculo Eleitoral de Lisboa
🔎 Dados gerais
- Votos totais válidos: 1.289.608
- Mandatos totais no círculo: 48
- Quociente limiar (QL): 26.319 votos
- Votos do último eleito: 32.829 (PAN)
- Limiar real de entrada (LRE): 2,55 %
- Votos desperdiçados (VD): 36.073
- Percentagem de votos desperdiçados: 2,8 %
📈 Observações analíticas
O círculo de Lisboa é, a par do Porto, o mais inclusivo do sistema proporcional português, com 48 mandatos atribuídos. Este volume permite uma distribuição alargada e representativa. Elegeram deputados sete partidos: PS, PPD/PSD.CDS-PP.PPM (AD), CH, IL, Livre, BE, PCP-PEV e PAN.
O limiar real de entrada situa-se nos 2,55%, permitindo a eleição de forças políticas com menos de 33 mil votos, como foi o caso do PAN. Ainda assim, partidos com votações entre os 15 e os 25 mil votos, como o ADN, ficaram de fora, o que mostra que Lisboa, embora generoso, continua a exigir concentração de voto e ultrapassagem da barreira prática do quociente.
📉 Votos em falta para partidos sem representação e viabilidade de eleição

O ADN é o único partido com alguma competitividade, mas ainda está a mais de 7 mil votos do limiar — um valor considerável mesmo em Lisboa. Todos os outros estão numa zona politicamente irrelevante em termos aritméticos.
🧮 Eficiência de representação

A eficiência por mandato oscilou entre 24.389 (PS) e 36.051 (Livre). PS, PSD, CH e PCP-PEV apresentam alta eficiência proporcional. IL, Livre, BE e PAN têm custos mais elevados por deputado, mas dentro dos limites da proporcionalidade do círculo.
🌊 Desperdício eleitoral
Com apenas 2,8% dos votos desperdiçados, o círculo de Lisboa garante uma representatividade quase plena. A esmagadora maioria dos eleitores votou em listas que elegeram deputados, o que revela forte eficácia do voto útil e uma oferta política bem estruturada.
⚖️ Conclusões técnicas
- Lisboa mantém-se como um círculo de entrada possível para partidos médios, mas já não acolhe partidos com menos de 25 mil votos.
- O limiar de entrada real (2,55%) está dentro da média histórica do distrito.
- Apesar da grande dimensão, Lisboa não é um círculo “fácil” para forças pequenas ou de recente fundação — é necessária estrutura, voto urbano e mobilização digital.
- A dispersão à esquerda permitiu manter IL, BE, Livre, PCP-PEV e PAN em representação, mas com custos elevados de entrada.
📎 Recomendações estratégicas
- O ADN é o único partido que pode aspirar à entrada se reforçar a sua base urbana em Lisboa, com pelo menos mais 7.500 votos.
- Coligações entre partidos ambientalistas, liberais e moderados (PAN, ADN, R.I.R, Volt, etc.) seriam necessárias para alcançar representação.
- Campanhas com voto concentrado e mobilização dirigida a jovens urbanos poderão fazer diferença nos limiares abaixo dos 30 mil votos.
- Partidos com menos de 10 mil votos devem reavaliar a sua presença em Lisboa enquanto estratégia isolada.
📘 Relatório técnico – Círculo Eleitoral do Porto
🔎 Dados gerais
- Votos totais válidos: 1.089.429
- Mandatos totais no círculo: 40
- Quociente limiar (QL): 26.571 votos
- Votos do último eleito: 26.343 (PCP-PEV)
- Limiar real de entrada (LRE): 2,42 %
- Votos desperdiçados (VD): 61.718
- Percentagem de votos desperdiçados: 5,67 %
📈 Observações analíticas
O círculo do Porto, com 40 mandatos, garante uma elevada proporcionalidade e abre espaço à entrada de sete partidos com representação parlamentar: PPD/PSD.CDS-PP.PPM, PS, CH, IL, BE, Livre e PCP-PEV. No entanto, partidos com votação próxima dos 20 mil votos, como PAN e ADN, não conseguiram ultrapassar o limiar, ficando a poucos milhares de votos da representação.
O limiar real de entrada ficou nos 2,42%, valor que continua abaixo da média nacional e que confirma o Porto como um círculo viável para forças médias, mas que não perdoa dispersão ou falta de concentração eleitoral.
📉 Votos em falta para partidos sem representação e viabilidade de eleição

O PAN foi o mais próximo de eleger, a apenas 3.156 votos do QL. O ADN ainda se manteve dentro da zona da competitividade. Todos os restantes estão fora de alcance num cenário normal de evolução eleitoral.
🧮 Eficiência de representação

A IL teve o custo mais elevado por deputado (mais de 32 mil votos), enquanto PSD/CDS e CH mostraram maior eficiência proporcional, elegendo com menos de 25 mil votos por mandato.
🌊 Desperdício eleitoral
O Porto apresenta um nível de desperdício relativamente baixo (5,67%), sobretudo tendo em conta a quantidade de partidos concorrentes. Isto indica que quase todos os votos se concentraram em forças elegíveis, revelando voto útil bem mobilizado.
⚖️ Conclusões técnicas
- Limiar real de entrada abaixo de 2,5%, o que favorece a diversidade democrática.
- PAN e ADN estiveram muito perto de entrar, mas não o conseguiram.
- O Porto mantém-se como um dos círculos mais abertos do país, mas a barreira de 26.571 votos para o QL impõe-se com clareza.
- A eficiência dos partidos grandes e médios foi elevada, com distribuição equilibrada dos mandatos.
📎 Recomendações estratégicas
- O PAN deve manter investimento forte neste círculo, com alta viabilidade de eleição em 2025.
- ADN encontra-se no limiar de entrada e poderá entrar com ligeiro reforço.
- O Porto deve ser estratégico para partidos médios, desde que concentrem o voto e evitem dispersão ideológica.
- Coligações entre pequenos partidos ambientalistas ou populistas poderão tornar-se competitivas neste círculo.