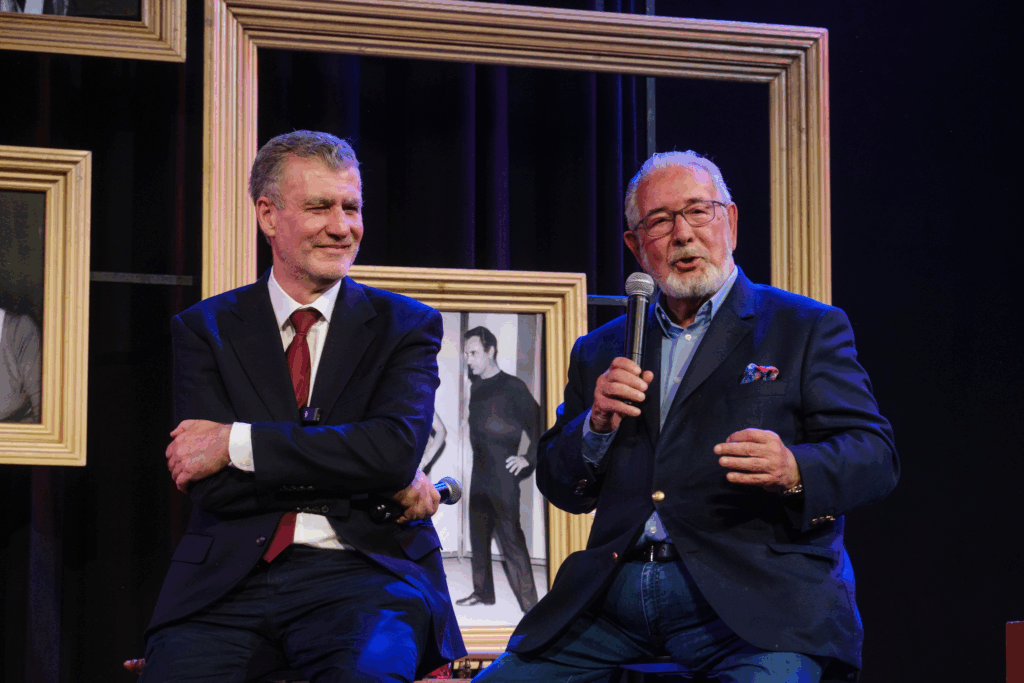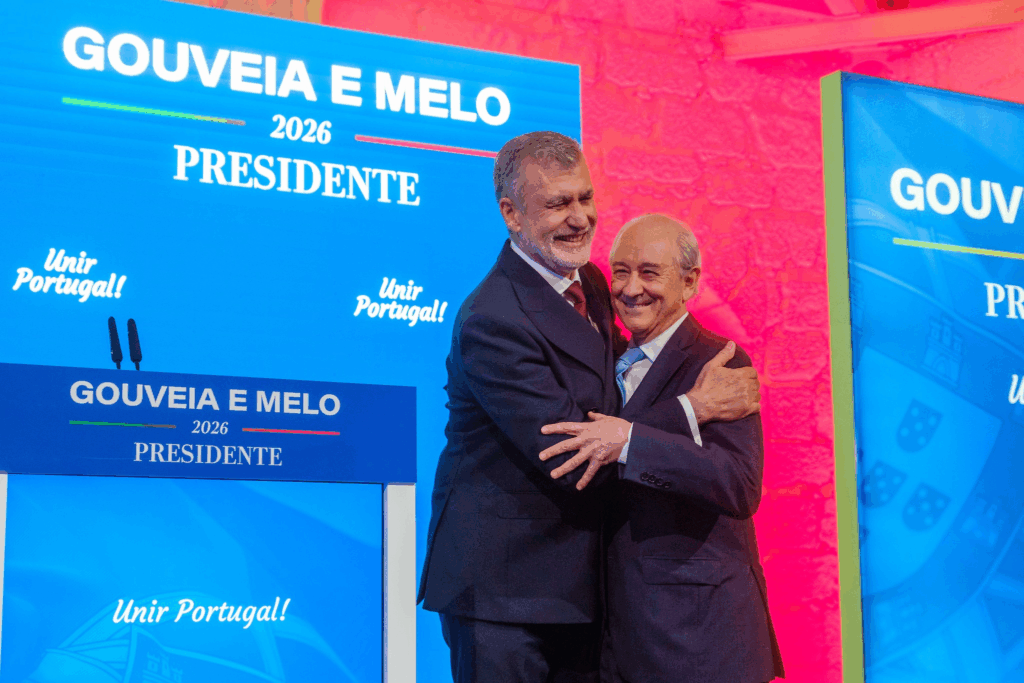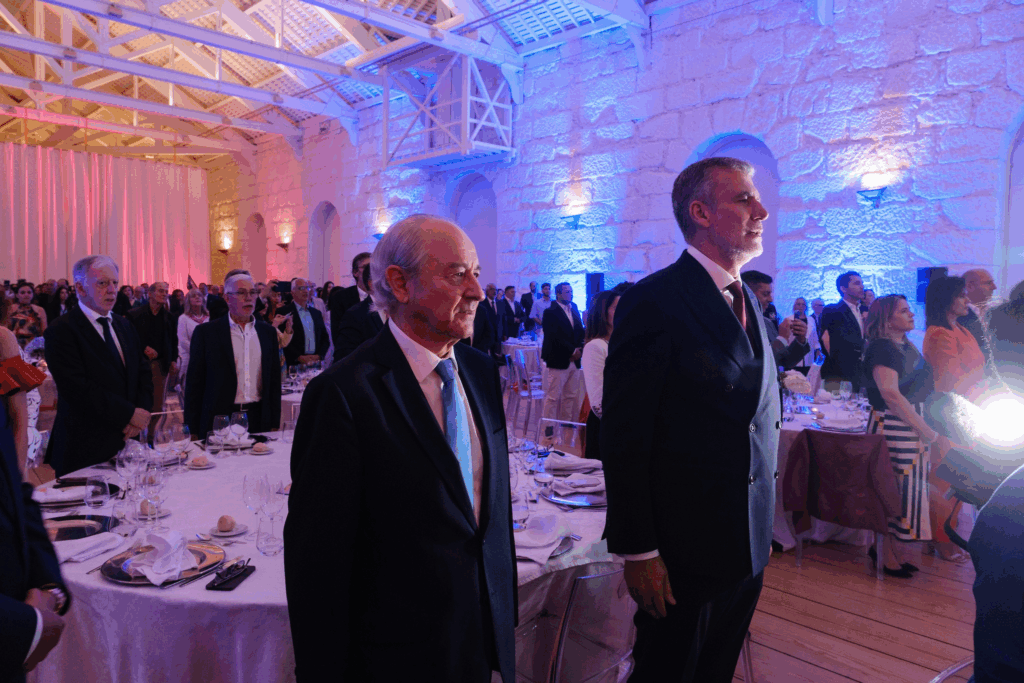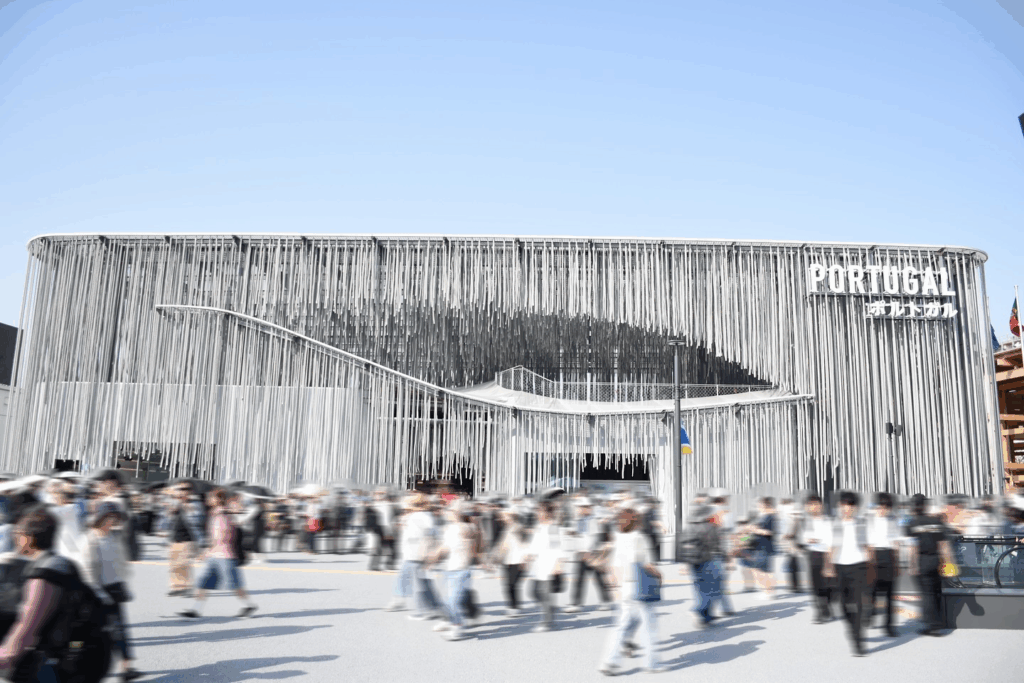“Estimados, Terei todo o gosto e interesse em esclarecer o vosso site pois acompanho á [sic] alguns anos e sempre apreciei a forma isenta como escrevem e por achar (e provo) que tem muitas incorreções achei de [sic] devia enviar este comunicado e também colocar-me ao dispor.”
Foi através de correio electrónico que Ricardo Leitão Marques reagiu à notícia do PÁGINA UM, que revelava que a Gesticopter Operation, uma subsidiária da Gestifly, apenas tinha sido adquirida pela Helifinance Asset Management, detida pelo empresário casado com a irmã do ministro Leitão Amaro, em Março deste ano, ou seja, antes do contrato de 20,1 milhões celebrado apenas no mês passado, no dia 7.

Na sua missiva ao PÁGINA UM, Ricardo Leitão Marques envia igualmente o comunicado divulgado no passado sábado pela generalidade da imprensa, no qual refere que já detinha a maioria do capital da empresa Gestifly desde Junho de 2023, o que significa que a transmissão da Gesticopter constituiu uma mera operação formal de reestruturação societária, sem efeitos substanciais de alteração no controlo efectivo. De facto, a Gestifly é agora detida, de acordo com o Registo de Beneficiário Efectivo, por Ricardo Leitão Marques através da Demeter, uma empresa com sede no mesmo local da Helifinance Asset.
Porém, apesar dos posteriores pedidos de esclarecimento do PÁGINA UM, Ricardo Leitão Marques acabou por não responder às questões mais essenciais nem esclarecer algumas das syas ‘garantias’.
Com efeito, no comunicado deste sábado, Ricardo Leitão Marques diz que a sua entrada na Gestifly em 22 de Junho de 2023 ocorreu quando a empresa “enfrentava sérias dificuldades financeiras e tinha acabado de ser seleccionada para três contratos públicos de aquisição de serviços de disponibilização e locação de meios aéreos para o dispositivo aéreo do DECIR de 2023”.

Efectivamente, apesar de constar no Portal Base que a Gestifly teve divulgados quatro contratos em 2024, três destes foram assinados ainda em 2023 para o fornecimento de 10 helicópteros, alguns dos quais para dois anos. O incompreensível atraso na divulgação dos contratos no Portal Base por parte da Força Aérea foi, aliás, detectado em primeira mão pelo PÁGINA UM em finais de Janeiro de 2024. O Estado-Maior da Força Aérea(EMFA) justificou então o atraso como “falha técnica”. Mas, na verdade, tratava-se de uma intencional ocultação de contratos durante meses, pois este era um problema crónico.
Nessa altura, o PÁGINA UM analisara os 500 contratos mais recentes publicados pelo EMFA – que apanham um período desde 27 de Fevereiro de 2023 e 30 de Janeiro de 2024 – identificaram-se quatro contratos em que se demorou mais de 1.000 dias a inserir-se a informação no Portal Base, um dos quais a aquisição de um boroscópio de medição no valor de quase 31 mil euros à Olympus, adquirido em Agosto de 2020 e que só deu entrado no Portal Base em Agosto de 2023.
Mas isto são só os casos extremos. Se se considerar os atrasos superiores a um ano, ou seja, 365 dias, encontravam-se 64 contratos, e aí o montante subia para os 69,2 milhões de euros. Com atraso superior a meio ano eram já 212 contratos, envolvendo um montante total superior a 100 milhões de euros. Contudo, considerando que os prazos de divulgação genericamente previstos no Código dos Contratos Públicos são de 20 dias úteis, o EMFA estava num cumprimento inferior a 20% dos contratos.

Considerando os 15 contratos acima de um milhão de euros, de entre os 500 mais recentemente divulgados pelo EMFA, apenas em seis se cumpriram os prazos, sendo que nos restantes nove encontram-se três em que a demora foi superior a dois longos anos. Neste caso, destaca-se o contrato de fornecimento de combustíveis por cerca de três anos à Petrogal no valor de 57,3 milhões de euros. A celebração foi a 30 de Setembro de 2021, mas a informação só viu a luz no Portal Base no passado dia 16 de Janeiro. Portanto, uma demora de 838 dias.
Mas regressando aos contratos com a Gestifly, após a afirmação de Ricardo Leitão Marques ter dito que a empresa enfrentava “sérias dificuldades financeiras” em 2023, o PÁGINA UM foi analisar as contas da empresa. Apesar de ter sido criada em 2021, nos dois primeiros anos a Gestifly não teve qualquer actividade e, por isso, os pequenos prejuízos foram irrelevantes.
Em 2021, o prejuízo foi de apenas 4.060 euros e no ano seguinte de 7.122 euros — nada de dramático para um capital social de 50 mil euros, e para uma empresa que estava à procura dos primeiros negócios. Mas no final do ano de 2022 — ou seja, antes da data que Ricardo Leitão Marques diz ter tomado o domínio da Gestifly —, a empresa até ficou com uma elevada liquidez, porque conseguira um financiamento bancário de 1,6 milhões de euros, conforme se detecta no balanço das demonstrações financeiras desse ano consultadas pelo PÁGINA UM.

Esse financiamento de 2022 terá permitido que a Gestifly se lançasse para finalmente começar a concorrer a concursos públicos de prestação de serviços de meios aéreos de combate aos incêndios rurais. E em 2023 — o tal ano que o cunhado de Leitão Amaro diz que esta empresa estava em “sérias dificuldades financeiras” —, a Gestifly conseguiu ganhar três concursos e acabar o ano com uma facturação de 6,4 milhões de euros. Uma grande parte das receitas (mais de 5,9 milhões de euros) serviram para pagar a subcontratação de serviços. Mesmo assim, sobraram 401.255 euros de lucro nesse ano, conforme as contas de 2023 consultadas pelo PÁGINA UM, que desmentem a alegada má situação financeira nesse ano.
Na verdade, os resultados podem mesmo considerar-se excelentes, se atendermos que a Gestifly tinha em 2023… um único empregado. E nem se diga que era um, mas um que era um génio que valia por cem, porque o accionista principal, Ricardo Leitão Marques, apenas lhe pagou um salário bruto de 13.458 euros — ou seja, cerca de 960 euros por mês, o que é compatível com o salário de um contabilista mal pago.
Em suma, e também considerando que o activo tangível da empresa em 2023 rondava apenas 1,4 milhões de euros —a Força Aérea comprou há três anos seis helicópteros de combate aos incêndios por 8,8 milhões de euros (com IVA) por unidade —, o negócio da Gestifly aparenta ser um simples intermediário: subcontrata os 10 helicópteros a outras empresas, subcontrata pilotos e manutenção, e fica com uma ‘comissão líquida’ de 6,4%. Assim, com um único empregado, a quem pouco mais pagou que o salário mínimo nacional, Ricardo Leitão Machado conseguiu uma produtividade de 400 mil euros por trabalhador, cerca de 20 vezes o valor médio nacional.

Em 2024, a empresa terá facturado valores sensivelmente idênticos, mas apesar das insistências do PÁGINA UM , Ricardo Leitão Marques nas quis revelar esses dados financeiros.
Em todo o caso, para justificar a relevância da sua entrada em 2023 na Gestifly — por alegadas “serias dificuldades financeiras” da empresa —, Ricardo Leitão Machado disse ao PÁGINA UM que, quando a adquiriu, esta “não tinha meios para cumprir os contratos que tinha ganh[ad]o, visto não ter tesouraria para as
Garantias Bancárias a prestar e para o investimento para montar uma operação deste calibre”.
Esta justificação não deixa de ser surpreendente sob duas perspectivas. Primeiro, pelo lado da Força Aérea, que atribuiu três vitórias a uma empresa sem histórico relevante e que, aparentemente, não deu garantias, na fase de concurso, de possuir capacidades operacionais e financeiras para cumprir contratos desta natureza.
Por outro lado, no caso das garantias bancárias — exigidas como caução obrigatória em determinados contratos públicos (equivalente a 5% do valor adjudicado) —, a Gestifly já as tinha constituído antes da entrada formal do empresário, uma vez que esta ocorreu a 22 de Junho de 2023 e os contratos com a Força Aérea foram celebrados a 1 e a 16 desse mês. Além disso, convém referir que os custos das garantias bancárias, concedidas por instituições de crédito, rondam, por norma, 0,25% do montante em causa. Mesmo que essa percentagem fosse de 1%, os encargos nunca seriam verdadeiramente insustentáveis, tratando-se de três cauções que totalizavam 648 mil euros — o que corresponderia, nessa hipótese, a um custo real de pouco apenas 6.480 euros.

Saliente-se também que Ricardo Leitão Machado não esclareceu quantos meios aéreos próprios a Gestifly possui ou possuía nem qual o valor da transacção de um negócio que logo no primeiro ano, em poucos meses, lhe concedeu um lucro de 400 mil euros. Numa primeira fase, o empresário disse ao PÁGINA UM que “a empresa é proprietária de parte dos helicópteros que utiliza no
dispositivo”, acrescentando que “os pilotos são todos prestadores de serviços, quer diretamente, quer através da empresa subcontratada”. Mas confrontado com o facto de o activo tangível da Gestifly ser pouco superior a um milhão de euros — o que, no máximo, daria para um helicóptero pesado em segunda-mão —, o empresário esquivou-se a dar uma resposta.
E diz mesmo estar a sentir-se prejudicado nos concursos públicos mais recentes. Já com outra empresa, a Gesticopter, Ricardo Leitão Machado somente ganhou em 2025 um concurso público (um contrato de três anos no valor de 20,1 milhões de euros, com IVA), perdendo todos os outros os outros, mais de uma dezena, incluindo um para fornecimento de meios aéreos ao INEM. O empresário recusa também qualquer benefício familiar, porque os contratos da Gestifly em 2023 ocorreram ainda durante o Governo Costa.