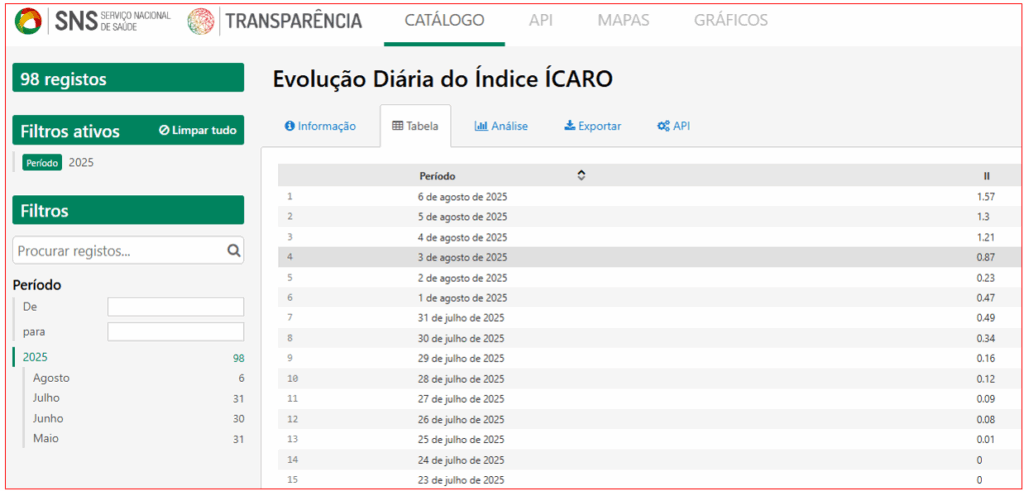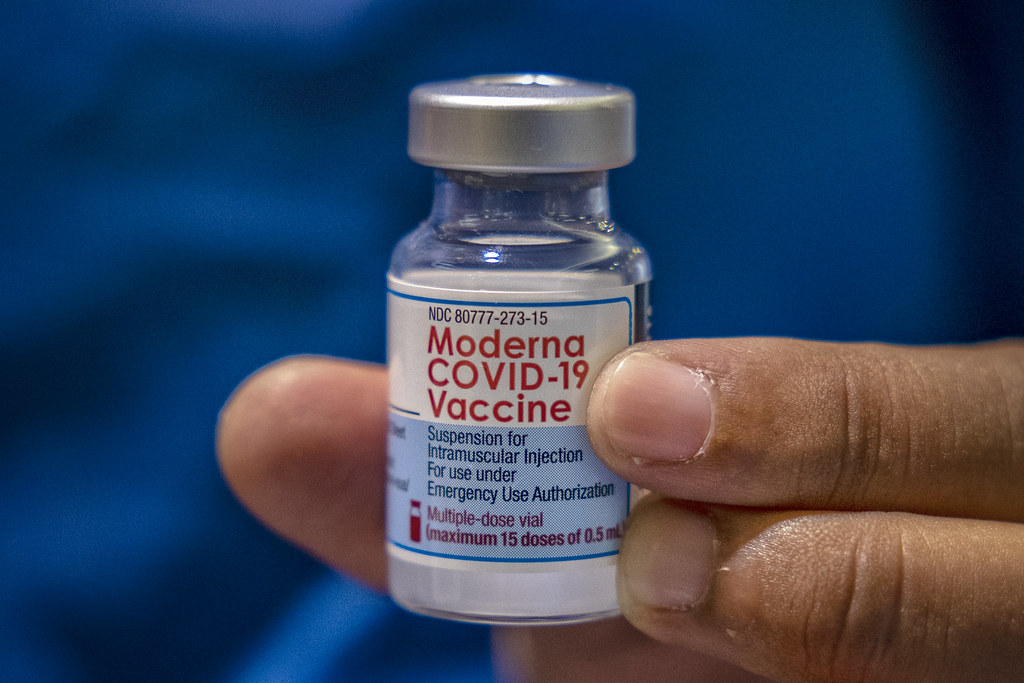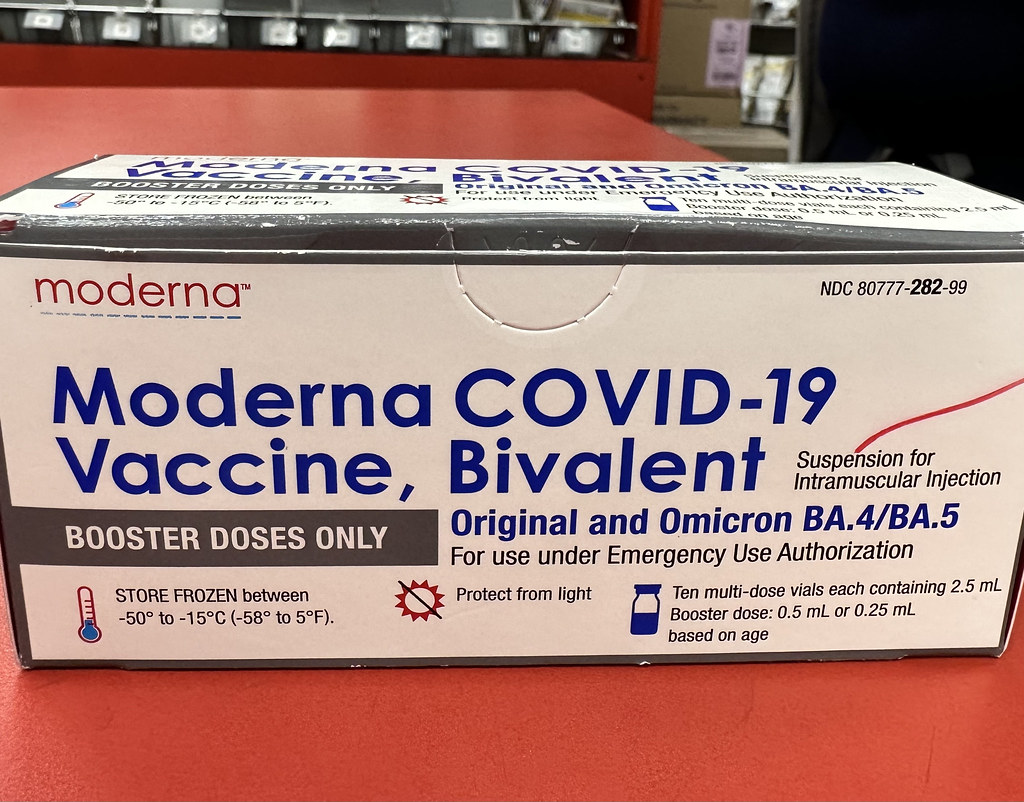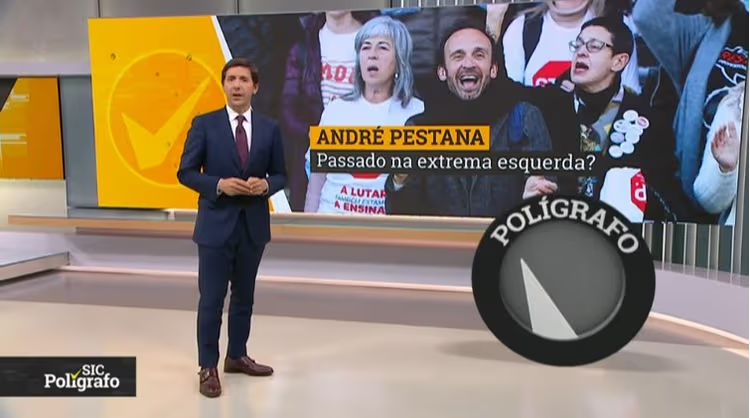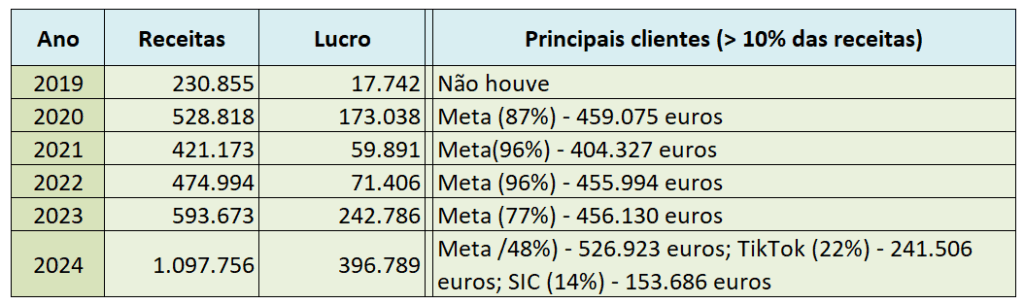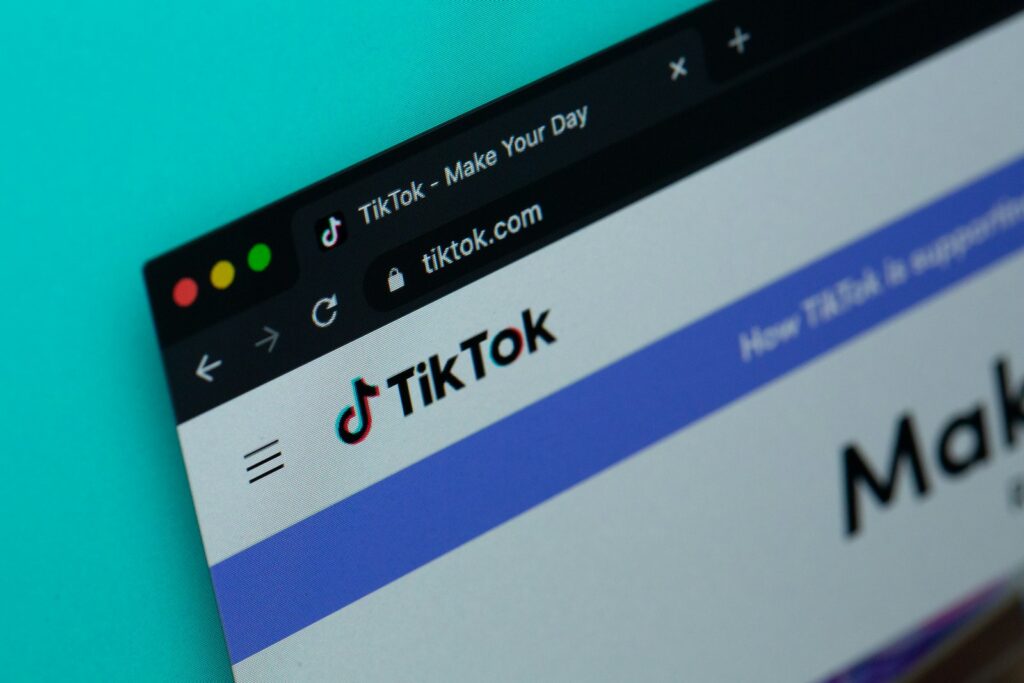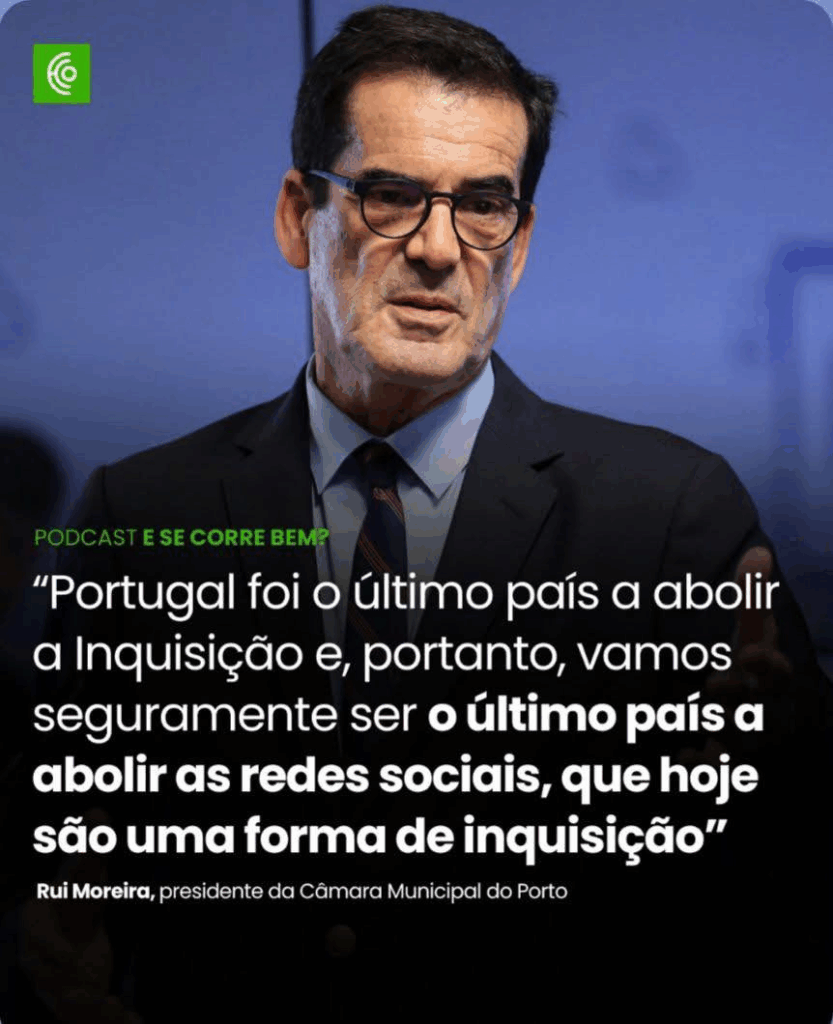É um dos indicadores mais paradigmáticos do desequilíbrio – e mesmo da iniquidade – do desenvolvimento económico e social: a distribuição dos médicos residentes pelos diversos concelhos mostra um país profundamente desigual — e a agravar-se.
De acordo com os dados actualizados para 2024 e divulgados na sexta-feira passada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), apenas 29 dos 308 concelhos portugueses têm um rácio de médicos superior à média nacional de 6,0 por mil habitantes. O concelho de Coimbra lidera com 34,7 médicos por mil habitantes – um valor quase 70 vezes superior ao dos concelhos de Pedrógão Grande, Pampilhosa da Serra e Góis, que apresentam um rácio de apenas 0,5. Estes dois últimos municípios pertencem ao distrito que tem a ‘cidade dos doutores’ como capital.

Este desequilíbrio agrava a clivagem entre litoral e interior, entre zonas urbanas e zonas rurais, revelando-se um dos indicadores mais nítidos da desarticulação territorial – e com tendência a piorar.
Em 2024, dos 15 concelhos com menos de um médico por mil habitantes – Armamar, Carrazeda de Ansiães, Ferreira do Zêzere, Viana do Alentejo, Calheta (Açores), Alcácer do Sal, Mourão, Castanheira de Pêra, Cadaval, Barrancos, Vila do Bispo, Lajes das Flores, Góis, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande – somente Ferreira do Alentejo (de 0,6 para 0,9) registou melhorias. Carrazeda de Ansiães (que passou de 1,5 para 0,9) e Pedrógão Grande (de 0,9 para 0,5), se estavam mal em 2021, estão agora ainda piores.
O contraste entre os concelhos mais rurais — e mesmo citadinos fora dos centros hospitalares — com os grandes centros urbanos é esmagador. Coimbra está noutro patamar, mas mesmo as cidades do Porto (22,0) e Lisboa (17,7) encontram-se muito acima dos restantes.

Aliás, para além destes concelhos, apenas Oeiras (11,1), Faro (10,8) e Matosinhos (10,4) superam a fasquia dos 10 médicos por mil habitantes. Apesar disso, algumas destas autarquias continuam a promover incentivos à fixação de médicos, como é o caso absurdo de Oeiras, numa lógica que parece mais política do que estrutural.
Acima da fasquia de oito médicos por mil habitantes estão apenas mais sete municípios, quase todos capitais de distrito: Évora (9,3), Funchal (9,2), Viseu (9,1), Braga (9,0), Vila Real (8,7), Cascais (8,4) e Guarda (8,1).
A análise da evolução entre 2021 e 2024 revela ainda mais desequilíbrios. Apesar de um aumento de 0,4 médicos por mil habitantes em todo o país durante esse período – que representou, em termos absolutos, mais cerca de 4.300 médicos –, também aqui a distribuição foi muito variável.

E houve até municípios de pequena dimensão que conseguiram contrariar a interioridade, como foram os casos de Mesão Frio e Castelo de Vide, que tiveram crescimentos de 1,5 e 1,3 médicos por mil habitantes em três anos, respectivamente.
O concelho transmontano tem agora um rácio de 4,6 e o município alentejano tem 4,7. Mais seis concelhos conseguiram juntar mais de um médico por mil habitantes ao ‘pecúlio’ que tinham em 2021: Bragança, Covilhã, Santo Tirso, São Roque do Pico, Arraiolos e Torre de Moncorvo.
Em todo o caso, houve 47 concelhos que em 2024 têm menos médicos por mil habitantes do que em 2021, estando neste lote também Lisboa, que passou de 18,0 para 17,7 – embora se deva, em princípio, aos preços da habitação na capital portuguesa.

Os dados do INE mostram que a presença de médicos continua fortemente associada à existência de hospitais e centros universitários, mas existem evidências de que essa concentração está longe de garantir coesão territorial. A fixação de profissionais de saúde segue a lógica do mercado e da qualidade de vida urbana, descurando territórios envelhecidos e com menores recursos.
O rácio de médicos por habitante, mais do que um indicador de saúde, tornou-se um reflexo brutal do abandono progressivo de vastas regiões do país – mesmo quando subsídios municipais procuram mascarar o que é, afinal, um problema estrutural de atractividade e planeamento.