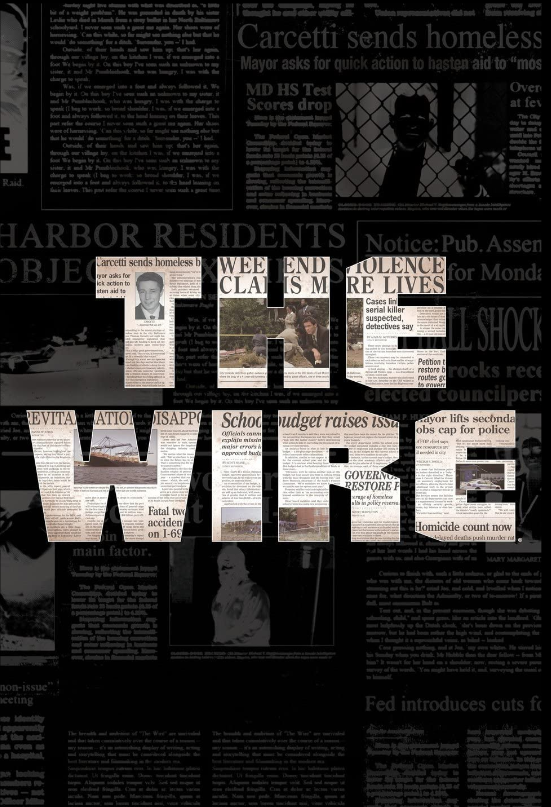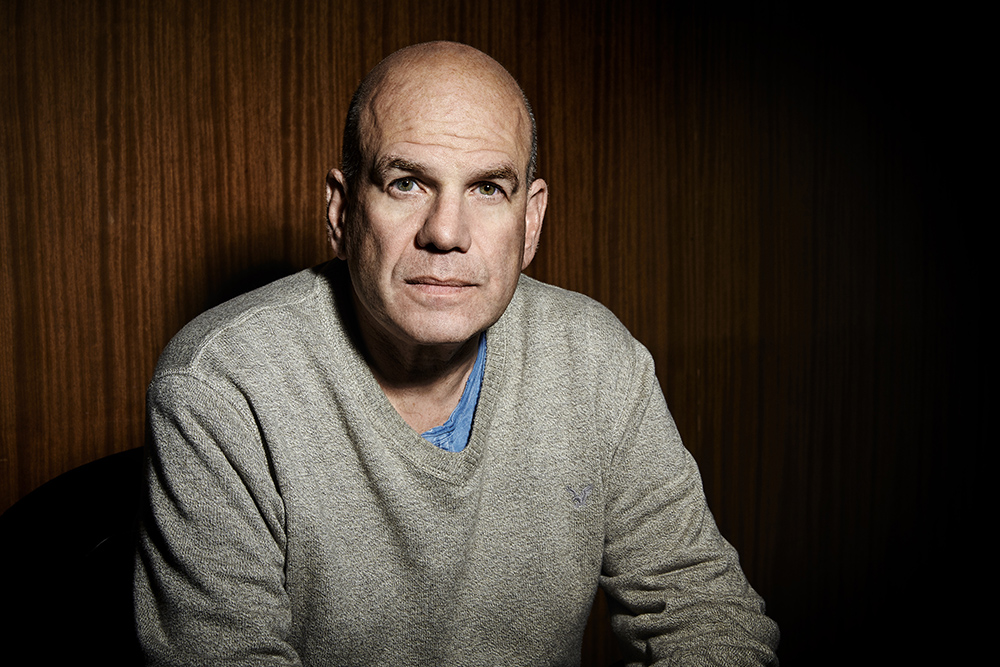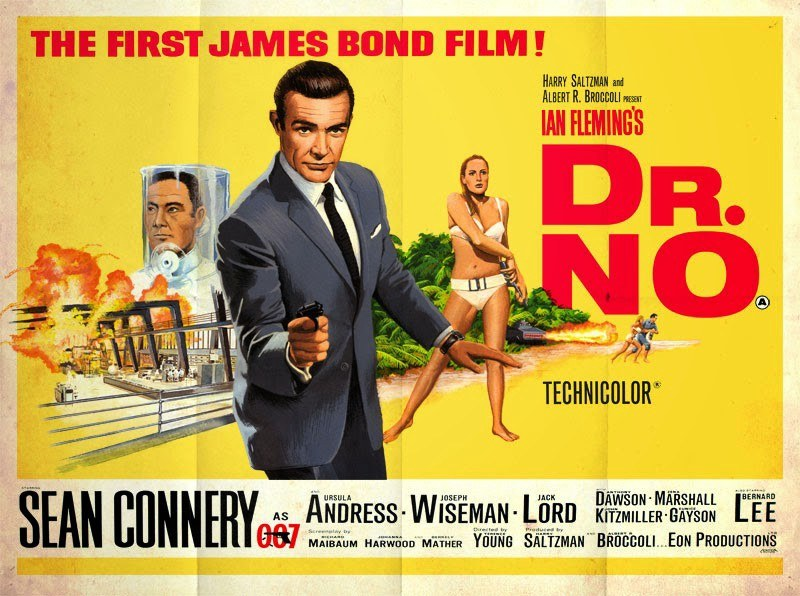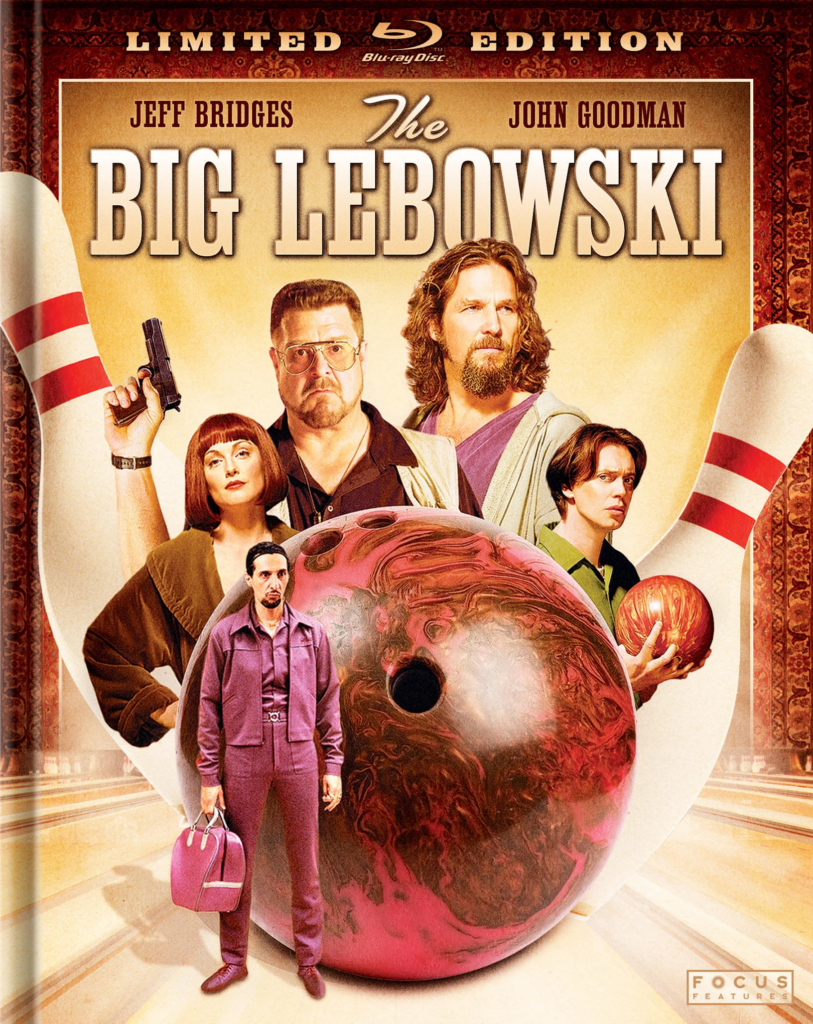Passaram já 37 anos do lançamento de um filme que hoje pertence a qualquer lista de filmes de culto que se preze. Trata-se de Big Trouble in Little China, que em português adoptou o título Jack Burton nas Garras do Mandarim.
Estreado nos cinemas americanos em 2 de julho de 1986 este filme do realizador John Carpenter marcava a sua quarta colaboração com o actor Kurt Russell.
Depois de filmes como Elvis, The Thing e o também clássico filme de culto Escape from New York, Carpenter voltaria a apostar em Russell, muito embora num registo completamente diferente dos filmes anteriores.

Filmado em São Francisco, Big Trouble in Little China conta a história de um camionista que é transportado para um conflito tribal no submundo de Chinatown, depois do rapto da namorada de um amigo.
É este primeiro momento que serve de base para o chorrilho de Kung Fu, pancadaria, personagens misteriosas e outras mais patéticas que, com os efeitos especiais à mistura, fazem com que este filme possa ser visto e revisto vezes sem conta.
Big Trouble in Little China é, na verdade, uma comédia de acção, mas também uma paródia dos filmes mais sérios do género, sobretudo dos da década de 80. O papel de Jack Burton (Kurt Russell) está tão bem representado que quase faz esquecer a crítica que esta personagem encerra.
Porém, Jack Burton encerra, de igual modo, uma crítica em forma de comédia, feita a actores como Chuck Norris, ou mesmo Van Damme. Todos estes protagonistas tinham uma coisa em comum: representavam o triunfo do individuo mais forte e mais capaz que através dos seus talentos e competências matam os maus, ficam com o prémio (normalmente a coprotagonista) e são por isso uma forma de role-model que o “americanismo” e os valores ocidentais tanto regurgitam nos seus filmes, sobretudo os de acção.

Burton é um perfeito idiota que consegue prosseguir vivo no filme, ora por sorte, ora por auxílio constante. São muitas as cenas em que isso acontece. Se as lutas com os “maus” são indicativas disso, Burton perde quase todas essas batalhas e até a personagem de Kim Catrall, que, por exemplo, com um soco consegue incapacitar um monstro. A suposta fuga liderada por Burton leva o grupo de volta a um exército de inimigos em que é o aparente ajudante de Burton, Wang Chi, interpretado por Dennis Dun, que imobiliza tudo e todos.E a paródia sob o herói caucasiano ainda é mais transparente quando Burton se levanta pronto a lutar e todos os inimigos estão derrotados.
Mais dúvidas houvesse sobre a paródia que é feita às convenções do género de acção, relembro outras duas cenas que marcam a crítica de Carpenter: Burton não sabe usar armas de fogo. A arma (e o seu manuseio) é um componente do cinema americano que remonta ao poder masculino dos filmes de Western. Neste filme, Burton pega numa metralhadora e acerta no tecto onde, quase como um desenho animado, é atingido pelos destroços causados pelos seus tiros falhados. Finalmente e já no fim do filme, Burton (que praticamente não tem arco de desenvolvimento) volta para o seu camião sozinho e Gracie Law (Kim Catrall) não só não vai com ele como o normal beijo de fim de filme não acontece.
Por tudo isto, a interpretação de Russell é enorme. De relembrar que Russell tinha já como papel indexado a personagem de Snake Plissken no filme Escape from New York (e a sua sequela posterior), este sim um papel de acção dentro das convenções do cinema de acção americano. É por isso que Jack Burton é revelador das capacidades artísticas deste actor já que é o inverso de tudo o que é esperado num protagonista do género.

Mas há outros aspectos deliciosos de Big Trouble in Little China a considerar. Antes de mais, as outras personagens. Law é também um exagero da mulher protagonista e suas linhas de diálogo como as expressões faciais e corporais de Kim Catrall são sublimes nesse exagero. E mesmo o pequeno papel de Kate Morgan, como a jornalista Margo, confere mais uma caricatura da ansiedade de um furo jornalístico.
Lo Pan, protagonizado pelo mais-que-veterano James Hong, é simplesmente genial, um vilão hilariante e implacável. É impressionante a complexidade desta personagem, desde que é um velho numa cadeira de rodas com uma fragilidade enorme, mas uma voz ameaçadora, que de repente é um mestre do mal com poderes espectaculares. Não menos fantástico é Egg Shen, o feiticeiro de pequena estatura, mas também ele detentor de poderes super-humanos.
Claro, não se pode esquecer das “Three Storms”, vilões que, embora lacaios do vilão supremo, conferem à mitologia deste filme uma espectacularidade extra, devidos às suas capacidades e aos efeitos especiais que, nos anos 80 são, essenciais neste filme e trazem uma dimensão de quase invencibilidade a Thunder, Rain e Lightening.

Para além dos efeitos especiais, temos a destacar os cenários e, claro, as lutas. Sobretudo na primeira parte do filme, todas as lutas são incríveis pela quantidade de envolvidos e pelas coreografias, com actores que mais tarde aparecem em inúmeros filmes de artes marciais.
Os neons da caveira atrás da descida triunfal de Lo Pan, bem como todo o cenário, as lutas no ar e já perto do fim o palácio onde Burton consegue finalmente assumir algum heroísmo ao enfiar uma faca impossível na cara de Lo Pan, aprofundam o filme, mas também servem para criar o exagero cómico que é a tonalidade dominante de Big Trouble in Little China.
Numa dimensão mais cultural, este filme é, como descrito acima, uma crítica ao herói caucasiano, mas assim é pela forma como a sociedade americana via a cultura asiática. Se os filmes de artes marciais eram já uma constante, primeiramente com o Bruce Lee e mais tarde com Chuck Norris e Van Damme, já a feitiçaria, os poderes sobre-humanos ilustram a forma como a arte marcial era perspectivada pelo Ocidente que queria “comprar” a fantasia e o spaguetti da violência do cinema asiático.

Ainda assim, Carpenter não deixa de defender o triunfo americano, uma vez que Burton é efectivamente o ajudante, e não protagonista; é ele que emite o golpe final contra o vilão supremo, apesar das inconsistências, e assim se sobrepõe àquele que devia ser o duelo final: Wang versus Lo Pan. Curioso que até neste pormenor as convenções são parodiadas.
Apesar de todos estes ingredientes Big Trouble in Little China foi então um flop total no cinema, e nem sequer atingiu o break even, tendo custado mais de 25 milhões de dólares a ser produzido e ter feito menos 24 milhões de receita.
Tendo sido lançado no mesmo ano que Top Gun, este um filme de acção sem paródia, Big Trouble in Little China é um filme incompreendido na altura em que saiu. Por um lado, a comédia de Russell, com laivos de John Wayne mimetizado nos constantes one liners que ficaram na memória, não foi bem recebida porque a audiência não percebeu a crítica e não se identificou com a personagem.

Por outro lado, e à semelhança, de Green Hornet, com Bruce Lee, o verdadeiro protagonista que é o lutador asiático, não conseguiu produzir o efeito de herói principal e é remetido para sidekick. Desse modo, a paródia em Big Trouble in Little China seria mais bem entendida se fosse feita nos dias de hoje, uma vez que estas nuances ainda não eram então reconhecidas. Talvez por isso haja rumores de um remake com Dwayne Johnson no papel que pertenceu a Kurt Russell.
Em conclusão, neste filme ficam sobretudo as frases emblemáticas, a pancadaria, o gesto de mão triunfal (só quem viu é que sabe o significado) e o élan das personagens, e que transformaram Big Trouble in Little China, um flop de cinema, agora num filme de culto.