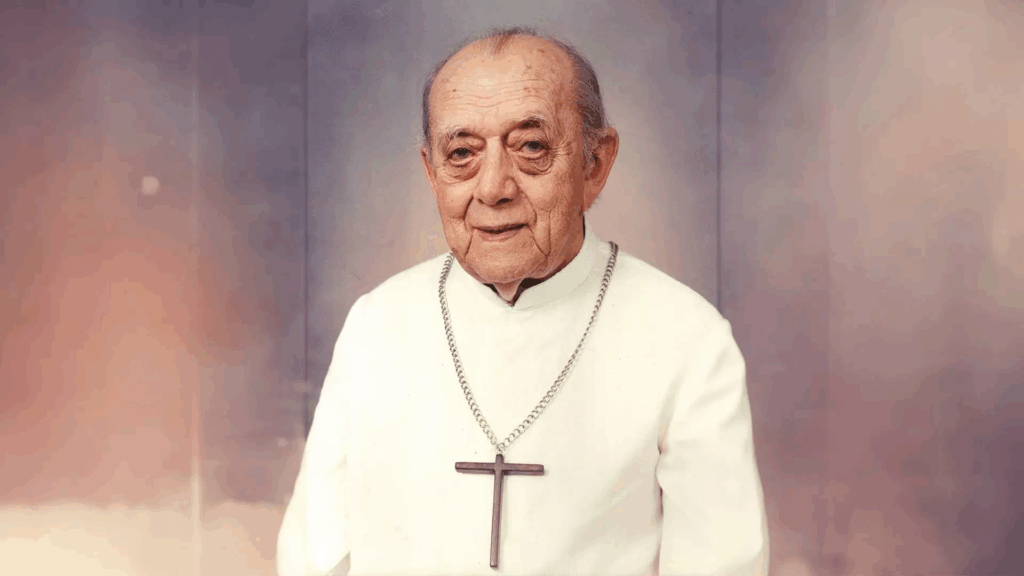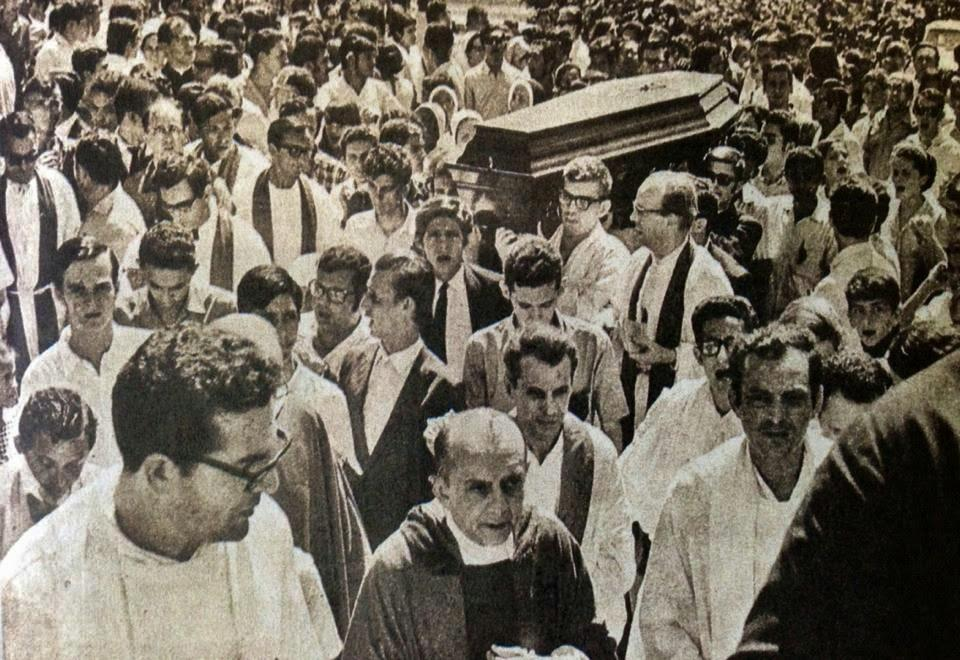A redemocratização
O ano é 1985.
Consumada a débâcle da ditadura militar, expressa principalmente com a moratória da dívida externa em 1984, o Colégio Eleitoral elegera de maneira indireta o primeiro presidente civil desde a vitória de Jânio Quadros, em 1960. Um dia antes de tomar posse, Tancredo Neves foi internado no Hospital de Base, em Brasília. Em seu lugar, assumiria o cargo máximo da Nação José Ribamar Ferreira Araújo da Costa (mais conhecido pela alcunha “José Sarney”).
A posse do vice no lugar do cabeça da chapa era completamente inconstitucional, pois o substituto só adquiriria essa condição depois de o próprio presidente prestar o juramento de posse, coisa que Tancredo, por imperativo médico, estava impossibilitado de fazer. Após uma longa agonia de quarenta dias, Tancredo faleceria no dia 21 de Abril, feriado nacional em homenagem a Tiradentes, o mártir da Independência do Brasil.

Lugar-tenente da ditadura que saíra pela porta dos fundos do Palácio do Planalto junto com seu último general-ditador, João Figueiredo, Sarney pelo menos cumpriu o guião desenhado por Tancredo. Completou a transição democrática ao nomear o ministério indicado pelo falecido presidente, tentou promover a estabilização económica através de dois planos malogrados (Cruzado I e Cruzado II) e, o que é mais importante, convocou para o ano seguinte uma Assembleia Nacional Constituinte, destinada a entregar ao país uma carta democrática, em oposição ao entulho autoritário herdado dos militares.
***
A Constituinte
Assim como a Assembleia de 1945, a Constituinte de 1987/1988 não seria exclusiva. Ela funcionaria simultaneamente ao Congresso regular, com Câmara e Senado. Deputados e senadores deixariam seus afazeres ordinários de lado para, de acordo com o trabalho paralelo, escreverem uma nova Constituição para o país.
Instalada a 1 de Fevereiro de 1987, a Assembleia Constituinte teria como presidente o então presidente da Câmara dos Deputados: o “Sr. Diretas” – em alusão à sua liderança na campanha pelas Diretas, já! – Ulysses Guimarães. No discurso de instalação da Assembleia, Ulysses decretou: “A Nação quer mudar, a Nação deve mudar, a Nação vai mudar”.
Um ano e meio depois, estavam finalizados os trabalhos da nova Carta. Restava, contudo, a promulgação do documento. Marcou-se, então, a data para o dia era 5 de Outubro de 1988. Em um discurso que entraria para a História, o Sr. Diretas lamentaria os ainda “30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população”. A nova Constituição não era perfeita, afirmava Ulysses, ao lembrar que “ela própria o confessa, ao admitir a reforma”. Se era possível divergir dela, “descumprir, jamais”. Numa sentença lapidar, ele decretou: “traidor da Constituição é traidor da Pátria!”. E terminava uma frase que resumia o sentimento do país diante de seu passado autoritário: “Temos ódio à ditadura; ódio e nojo!”

O dia seguinte
No dia seguinte, nada mudara. Para além dos “afrontosos 25% da população” ainda analfabetos, o Brasil convivia com uma inflação pornográfica – herança do descalabro económico legado pelos militares. Naquele mês, o índice de preços ao consumidor subira 25,62% e terminaria aquele ano em inacreditáveis 933%. Na capital de França, os membros do chamado “Clube de Paris” e bancos comerciais tratavam com negociadores brasileiros a renegociação da dívida externa do país, em moratória desde 1984. Sem acordo, o Brasil continuou sem acesso ao mercado internacional de crédito.
Como desgraça pouca é bobagem, o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas e a falta de investimentos em distribuição de energia generalizaram os “apagões” pelo país. No campo, trabalhadores rurais foram assassinados em um conflito fundiário no Pará. Na Saúde, uma (nova) epidemia de dengue assolava as capitais. E, last but not least, uma greve de petroleiros ameaçava desabastecimento e causava longas filas de automóveis nos postos de combustível. Para onde quer que se olhasse, não havia uma só razão para otimismo.
Nas rádios, entretanto, uma nova canção tocava. Tratava-se de mais um hit de Lulu Santos. Nos versos de A Cura, o cantor carioca dizia:
Existirá
Em todo porto tremulará
A velha bandeira da vida
Acenderá
Todo farol iluminará
Uma ponta de esperança…
O julgamento de Bolsonaro
Fast forward. O ano, agora, é 2025.

Derrotado nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro tornou-se exemplar único da espécie. De todos os presidentes eleitos no Brasil desde que o instituto da reeleição foi implementado, apenas ele deixou de conseguir novo sucesso nas urnas. Mesmo a impopular Dilma Rousseff, deposta por impeachment em 2016, alcançara a reeleição em 2014.
Trancado em seus rancores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro não deixou de conspirar sequer por um segundo. Como se veio a descobrir depois, o planejamento do golpe em caso de derrota vinha desde Setembro de 2021, quando, numa Avenida Paulista apinhada de gente, Bolsonaro xingou Alexandre de Moraes de “canalha” e ameaçou não cumprir mais suas decisões. Depois de consumada a derrota, a conspiração golpista apenas se acelerou.
Após o fatídico 8 de Janeiro, a destruição das sedes dos três poderes em Brasília extinguiu qualquer margem para uma composição política. Contrariando a tradição brasileira de apaziguamento – no pior sentido chamberlainiano do termo –, a Polícia Federal investigou e o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve a coragem de fazer o que seu passivo e inoperante antecessor Augusto Aras foi incapaz em quatro anos de mandato: denunciar Jair Bolsonaro.

As provas da tentativa de golpe
A certeza dos golpistas na vitória era tamanha que eles aparentemente não se preocuparam sequer em esconder as provas dos seus ilícitos. Poucas vezes um processo judicial revelou-se tão repleto de evidências das atividades criminosas. Como o ministro Flávio Dino fez questão de citar ironicamente durante o julgamento da trama golpista, só faltou aos bandidos registar atas das reuniões da conspiração. Todo o resto já estava nos autos.
Vejamos, apenas a título de exemplo, as principais provas a demonstrar a existência de uma organização criminosa que visava a instalar uma nova ditadura no país:
1 – Reunião de julho de 2022:
Numa reunião presidencial ocorrida em 5 de Julho de 2022, Bolsonaro e seus ministros já falavam abertamente em como atuar em caso de derrota nas urnas. Com as pesquisas a indicar vantagem do seu oponente, Lula da Silva, o ex-presidente perguntou a seus ministros o que seria possível fazer. Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e general da reserva, falou abertamente que, “se tiver que virar a mesa, tem que ser antes das eleições”. Para bom entendedor…

2 – Minuta do golpe:
Há um ditado popular no país segundo o qual “papel aguenta tudo”. Tal é a conclusão a que se chega para quem perpassa os olhos pela famosa “minuta do golpe”. Elaborada por supostos juristas a serviço da conspirata, essa minuta previa a decretação de Estado de Defesa, a anulação das eleições, a deposição dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e sua substituição por uma “Comissão de Regularidade Eleitoral”. Não por acaso, essa comissão seria inteiramente escolhida pelo Presidente.
Embora travestido de roupagem jurídica, nada havia de legal ou constitucional nesse ato. Não só não havia as condições materiais para a decretação do Estado de Defesa – aplicável somente a casos de calamidade ou instabilidade institucional –, como também, ainda que decretada, tal medida jamais autorizaria anular as eleições, cassar as prerrogativas do TSE e substituí-lo por uma comissão ad hoc, composta em sua maioria por militares escolhidos a dedo.
Essa minuta foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e no escritório de Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal. Ao lado dela, havia o “discurso do golpe”, preparado para ser utilizado como um daqueles típicos pronunciamientos latinoamericanos após a consumação do golpe de Estado. Tratava-se, portanto, de uma tragédia com começo, meio e fim.
3 – O plano “Punhal Verde-Amarelo”:
Os bolsonaristas passaram quatro anos a vociferar contra as inexpugnáveis urnas electrónicas do país. Seu pedido era por voto “impresso e auditável”. Curiosamente, o episódio mais grotesco do planejamento do golpe foi impresso e era perfeitamente auditável: o plano “Punhal Verde-Amarelo”.
Concebido pelo general Mário Fernandes, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, o plano previa a prisão e o assassinato do presidente eleito (Lula), do seu vice (Alckmin) e do presidente do TSE (Alexandre de Moraes). O plano foi escrito dentro do Palácio do Planalto e, graças aos mecanismos de rastreabilidade dos sistemas de informática, foi possível verificar que fora impresso pelo próprio Mário Fernandes.
Em seu interrogatório, Mário Fernandes disse que o plano não passava de “ideias digitalizadas”. Por que a impressão, então? “Porque gosto de revisar em papel”, respondeu o general. Ninguém perguntou ao general por qual razão ele precisaria de três vias para revisar suas “ideias digitalizadas”, mas o rastreamento de seu telemóvel e os registos de entrada na residência presidencial podem explicar o porquê.

Quarenta minutos depois de imprimi-lo, Mário Fernandes levou o plano ao Palácio da Alvorada. E quem estava lá? Jair Bolsonaro. Uma hora depois, Mário Fernandes enviou um áudio por WhatsApp a Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente, a informar que Bolsonaro aquiescera com o plano. Parte dele chegou até a ser colocada em marcha, mas o sequestro de Alexandre de Moraes acabou frustrado por uma mudança de última hora na agenda de sessões do STF.
4 – A reuniões com os chefes militares:
De todas as provas contra os golpistas, nenhuma é mais eloquente do que as reuniões com os comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Nos dias 7 e 14 de Dezembro, Bolsonaro mandou seu ministro da defesa, Paulo Sérgio Oliveira, convocar os chefes das Forças Armadas ao Alvorada. Segundo os depoimentos de todos os presentes, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, a minuta golpista foi apresentada aos militares. A ideia era saber quais deles estavam dispostos a levar a cabo um golpe à la 1964, com tanques nas ruas e tutti quanti. De acordo com os depoimentos do comandante do Exército, General Freire Gomes, e da Força Aérea, Brigadeiro Baptista Jr., apenas o comandante da Marinha, Almir Garnier, colocou suas tropas “à disposição” de Bolsonaro. Exército e Força Aérea ficariam de fora da quartelada. Sem o apoio unânime das três Armas, qualquer golpe estaria à partida fadado ao fracasso.
Se havia alguma dúvida sobre a materialização da tentativa de golpe, com esses depoimentos não há mais. O tipo penal previsto no art. 359-M do Código Penal estabelece ser crime “tentar depor o governo legitimamente constituído”. Embora à primeira vista o tipo penal possa parecer estranho, não é necessário grande tirocínio para entender a razão do legislador. Afinal, consumado o golpe, estará instalada uma nova ordem. E, por conseguinte, a punição dos envolvidos será impossível. Por isso mesmo, pune-se a mera tentativa como se golpe consumado fosse.

No caso da intentona bolsonarista, encontram-se reunidas todas as elementares do tipo. Como os depoimentos das testemunhas mostram, o Brasil esteve a um monossílabo de um golpe de Estado completamente materializado. Se os comandantes do Exército e da Força Aérea tivessem dito “sim”, o golpe estaria consumado. Não haveria força capaz de sobrepujar os militares das três Armas. Se o golpe não aconteceu, foi unicamente por circunstâncias alheia à vontade do agente (Bolsonaro). E essa, aliás, é a própria definição legal de tentativa (art. 14 do Código Penal).
O voto de Luiz Fux
Como em toda grande orquestra, sempre há algum músico que destoa dos demais. No caso do STF, quem desafinou foi o ministro Luiz Fux. Em um voto que entrará nos anais do Supremo Tribunal Federal como talvez o mais vergonhoso da história da Corte, Fux resolveu não só ignorar as provas colhidas durante as investigações e as próprias confissões dos envolvidos. Para Fux, não houve sequer crime.
De acordo com o seu raciocínio, digamos, “peculiar”, Bolsonaro não poderia ser acusado de golpe de Estado porque ele ainda era o presidente quando a conspirata fora posta em curso. Para Fux, portanto, “autogolpes” não podem ser enquadrados como golpes de Estado. Resta saber se Fux também deixaria impunes, por exemplo, Getúlio Vargas em 1937 (golpe do Estado Novo) e Alberto Fujimori (autogolpe de 1992).
Quanto à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o entendimento parece ainda mais bizarro. De acordo com Fux, o crime só se perfaz quando os criminosos pretendem uma abolição completa de “TODAS” – a ênfase é do próprio Fux – as instituições do Estado. Como Bolsonaro e sua trupe golpista queriam derrubar “apenas” o TSE e o STF, não poderia haver a caracterização do delito. Levando-se o voto do ministro a cabo, o golpe de 1964 também não poderia ser punido, pois Congresso e Supremo continuaram existindo depois de 31 de Março. A menos que os golpistas organizassem uma falange do tipo Talibã, quase nenhum dos golpes registados na historiografia mundial caracterizaria abolição violenta do Estado Democrático de Direito, segundo o pensamento de Luiz Fux.

E isso não foi sequer o pior. Numa espécie de salto triplo carpado hermenêutico, Fux – depois de absolver quase toda a camarilha golpista – resolveu condenar Mauro Cid e Braga Netto pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tal posição coloca o ministro numa posição completamente esquizofrénica. Ou bem ele acredita que não houve o crime e absolve todos os acusados; ou bem ele entende que o crime ocorreu e condena no mesmo rol Jair Bolsonaro. A menos que se conceba o crime do “golpe sem cabeça”, é difícil admitir é que toda a conspirata teve como líderes Mauro Cid (ajudante de ordens) e Braga Netto (vice da chapa), mas o beneficiário direto do golpe, Jair Bolsonaro, nada teve a ver com a história.
Felizmente, o voto de Fux foi apenas um acorde desafinado numa turma que, a tocar de ouvido, condenou por 4×1 todos os integrantes do núcleo duro da conspiração golpista. O 11 de Setembro – data da proclamação do resultado – entra para a história do país. Não com o aspeto trágico do seu par norte-americano, mas, sim, com um carácter alegre, alvissareiro, de vida nova que renasce a cada manhã.
A dimensão histórica do julgamento
“Histórico” é um adjetivo que, por batido, já foi completamente banalizado na análise política brasileira. Nesse caso, porém, a qualificação é mais do que merecida. O Brasil passou por quarteladas e tentativas de golpe desde quando a República foi instaurada, em 1889. Foram pelo menos quatorze oportunidades em que os militares saíram às ruas para, pela força das baionetas, depor o poder civil. Quando conseguiam, tornavam-se vitoriosos e davam início a uma nova ordem. Quando perdiam, eram anistiados e não sofriam mal algum. Não por acaso, a cada tentativa anistiada se seguia outra, na qual os golpistas perdoados tinham sucesso. Foi assim em 1922 e 1924 (venceram em 1930). Foi assim em 1955, 1956, 1959 e 1961 (venceram em 1964). E quase foi assim agora, pois a anistia de 1979 foi o convite perfeito para que as viúvas da ditadura militar voltassem a conspirar contra um governo legitimamente eleito.
Pela primeira vez na história do Brasil, dentro de um regime democrático, militares e civis envolvidos na deposição da ordem constitucional foram levados às barras da Justiça. Processados, foram condenados em um julgamento limpo, com todas as garantias que uma democracia pode oferecer. Mesmo diante da pressão alucinada de Donald Trump – que chegou ao cúmulo de sancionar o país com tarifas comerciais e aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes para travar o julgamento do seu avatar brasileiro –, a corrente de impunidade enfim foi quebrada. A carta do apaziguamento foi tirada do baralho. Doravante, golpistas terão de pensar duas vezes se pretendem arriscar tudo numa mão de cartas. Caso a tentativa de golpe malogre, o risco de ir para a cadeia tornou-se concreto. Em um país que sempre mostrou dificuldade em punir poderosos – e, dentro desse conjunto, também militares de alto coturno – é impossível negar a dimensão histórica do julgamento.

Brasil, 6 de Outubro de 1988
Com o julgamento da tentativa de golpe de Estado arquitetada por Jair Bolsonaro e seus acólitos, o Brasil finalmente termina a sua transição democrática. Se o preceito básico de qualquer democracia é a noção de que todos devem ser iguais perante a lei, a condenação de políticos e militares graduados por atentarem contra o Estado Democrático de Direito representa o desabrochar tardio de uma semente plantada há exatos quarenta anos. Deixamos oficialmente de ser uma República de Bananas para afirmar, em alto e bom som, numa quadra histórica na qual a democracia sofre um processo contínuo de erosão mundo afora, que aqui, sob o sol inclemente do Equador, golpista não se cria.
Para quem acorda de madrugada, toma dois autocarros até o trabalho, nele fica doze horas por dia e, no final do mês, recebe por salário apenas o mínimo legal, pode parecer pouco. Afinal, a taxa básica de juros está em 15% ao ano. A dívida pública alcançará no ano que vem 90% do PIB. Miséria e violência ainda são cores tristes de uma paisagem que consterna o país e envergonha-nos perante o mundo. Há razões, contudo, para estar otimista.
Da mesma forma que o cidadão brasileiro que caminhava pelas ruas no dia seguinte à promulgação da Constituição de 1988, o sujeito de agora tampouco consegue compreender a dimensão histórica do que aconteceu. No dia 6 de Outubro de 1988, nada mudara. O sentimento de liberdade oferecido pela democracia ainda era algo abstrato. Agora, no dia 12 de Setembro de 2025, quase nada mudou.

Há qualquer coisa no ar além dos aviões de carreira
Algo no ar, porém, parece diferente. Não é nada concreto. Talvez não seja possível sequer ouvi-lo, senão como sussurro tímido em meio à brisa tropical. Com o tempo, porém, esse mesmo cidadão distraído começará a perceber a mudança. E, caso seja um pouco mais velho, ele irá se lembrar do grande humorista mexicano Cantinflas: “Antes estávamos bem, mas era mentira”; agora, “estamos mal, mas é verdade”.
Com esse pensamento na cabeça, o cidadão vai distrair-se a ouvir música. Na rádio, toca um som familiar. Trata-se de um antigo sucesso dos anos 1980:
Não nos custa insistir na questão do desejo,
Não deixar se extinguir.
Desafiando de vez a noção
Na qual se crê que o inferno é aqui.
Subitamente, o sujeito sorri. É quando ele escuta a última estrofe:
Existirá
E toda raça, então, experimentará
Para todo o mal, há cura
Arthur Maximus é advogado no Brasil e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa