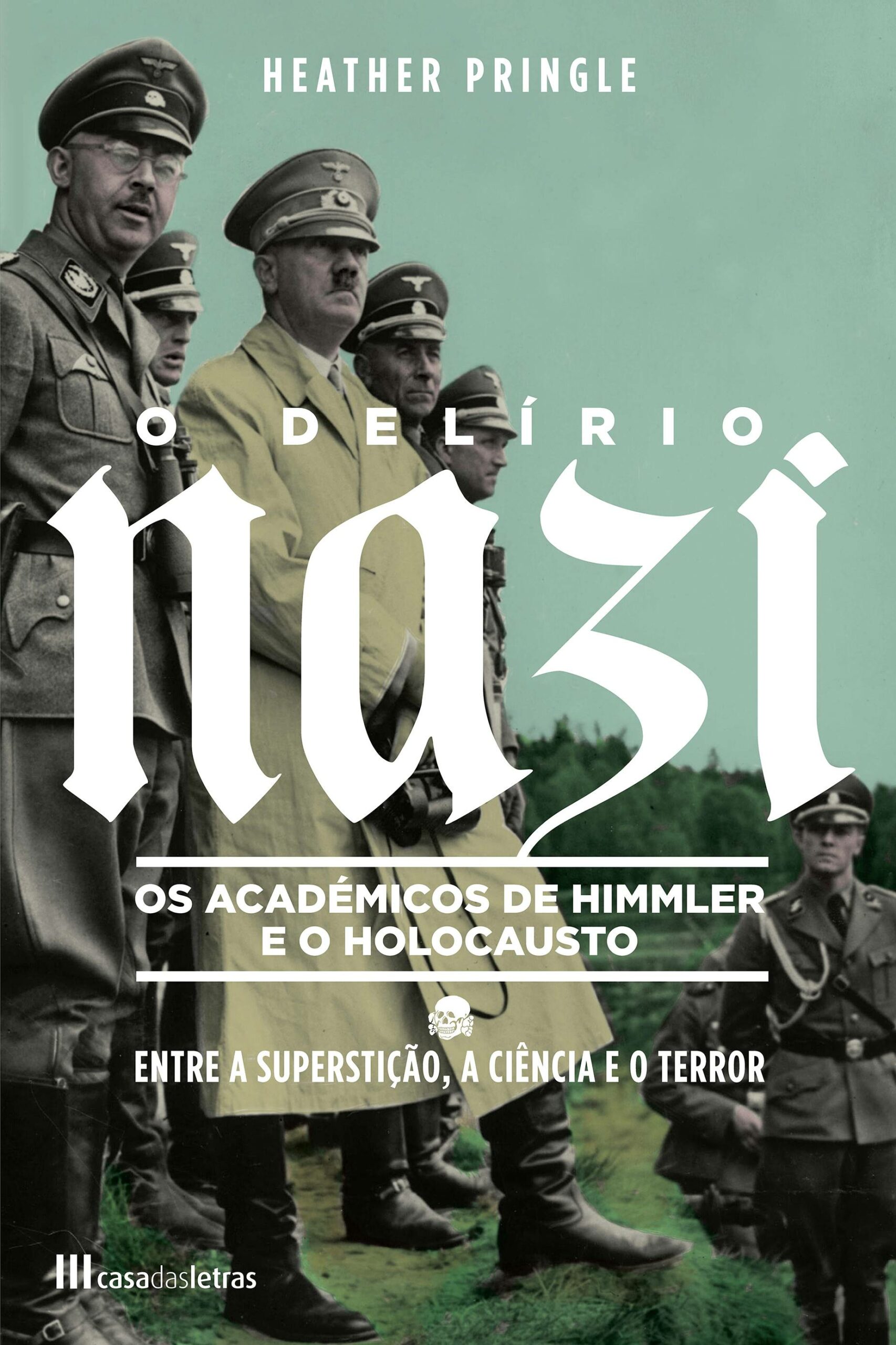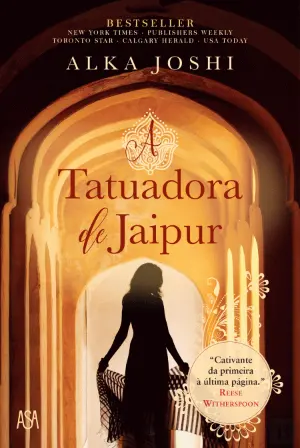
Título
A tatuadora de Jaipur
Autora
ALKA JOSHI (tradução: Raquel Dutra Lopes)
Editora (Edição)
Edições ASA (Fevereiro de 2022)
Cotação
18/20
Recensão
Nascida no Estado indiano do Rajastão, Alka Joshi vive nos Estados Unidos desde os nove anos de idade. Criou e dirigiu a sua própria empresa de publicidade, durante mais de 30 anos. Já com o bacharelato na Universidade de Stanford, Alka decidiu realizar então um mestrado em Belas Artes na Universidade da Califórnia, em escrita criativa, aos 51 anos. O incentivo dos professores encorajou-a então a ir além dos anúncios publicitários.
E foi aos 62 anos que se sentiu autora a sério, ao lançar o seu romance de estreia, A tatuadora de Jaipur, que rapidamente se tornou num campeão de vendas nas listas do New York Times. Integrou também a lista do Reese Witherspoon Book Club e foi ainda seleccionado pelo The Center for Fiction para o prémio Primeiro Romance. Neste momento, o romance está a ser adaptado para uma série de televisão.
Está já disponível o segundo volume – intitulado The secret keeper of Jaipur, publicado originalmente no ano passado – numa obra que constituirá uma trilogia, porque a autora anunciou, entretanto, que vem a caminho um terceiro volume. Excelentes notícias para quem já leu e apreciou A tatuadora de Jaipur.
Foi o meu caso. Para quem aprecia ficção, este romance é o tipo de obra que se começa e, simplesmente, não se consegue parar até chegar à última página – a hesitação está apenas na vontade em adiar o fim.
A história da personagem principal, Lakshmi, é baseada na vida da mãe da autora, uma forma de homenagem a tantas mulheres que continuam a viver condicionadas pela tradição dos casamentos combinados. E também limitadas à sua casta de origem.
Alka Joshi enleva o leitor numa viagem: a vida de Lakshmi, uma jovem de 17 anos que fugiu de um casamento forçado, da pobreza miserável e da tradição arreigada, cuja inevitabilidade só com muito trabalho, coragem e mesmo sofrimento, e até humilhações, se quebrou.
A fuga é, então, à violência doméstica e à falta de futuro. Recorrendo aos ensinamentos da sogra, da arte herbal, Lakshmi alia o seu talento para a pintura: aprende a arte da tatuagem de henna, para assim sobreviver à pobreza a que milhões de indianos estão subjugados.
A descrição dos cheiros, sabores, cores e texturas é de tal modo vívida que o leitor quase sente a pele das senhoras que Lakshmi tatua. Das cortesãs, Lakshmi dá um salto e consegue alcançar as senhoras da elite, e palacianas, a quem faz as pinturas de henna, seja para chamar a boa sorte, seja para seduzir os maridos, seja para uma qualquer cerimónia ou festa das castas mais altas.
Foi através desta arte, e do respetivo trabalho árduo em agradar às senhoras que tatua, que a personagem conseguiu poupar o suficiente para, também ela, conseguir construir a sua casa – à base de materiais quase tão ricos quanto os das suas clientes. Mas o passado está ao virar da esquina. A chegada do ex-marido, e a descoberta de uma irmã mais nova, põe um travão à sua ambição e colocam em causa treze anos de trabalho duro.
A história de Lakshmi cativa-nos imensamente, não apenas pelo enredo, mas sobretudo pelo contexto sócio-histórico que a autora tão bem descreve. Estamos na Índia da pós-independência da coroa britânica, na década de 1950, onde a luta dos mais pobres é a da sobrevivência, enquanto a dos mais ricos é a do aumento do poder.
A luta é, e continua a ser (ainda hoje), a das mulheres. Em muitos casos, a sua independência ainda tem como resultado a ostracização. Na procura da liberdade, assistimos ao dilema em escolher entre a tradição e a modernidade – quase sempre incompatíveis. Este romance é, em certa medida, um retrato fascinante dessas lutas, contradições num cenário tão exótico quanto cruel.
Num ou noutro momento pressentimos uma escritora ingénua, que sente necessidade de justificar opções e comportamentos das personagens. Mas à medida que avançamos na história, esquecemos esse pormenor. E, no final, já só ansiamos pela tradução do segundo volume e pela publicação do terceiro desta trilogia, que tem tudo para se tornar num fenómeno global.